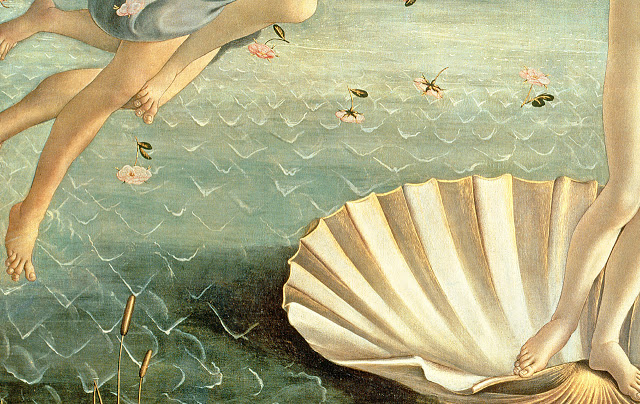Corte costituzionale portoghese, decisione n. 121 del 2010
ACÓRDÃO N.º 121/2010
Processo n.º 192/2010
Plenário
Relator: Conselheiro Vítor Gomes
Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional
I. Relatório
1. O Presidente da República requereu, ao abrigo dos n.ºs 1 e 3 do artigo 278.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), do n.º 1 do artigo 51.º e do n.º 1 do artigo 57.º da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional, aprovada pela Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, alterada, por último, pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fevereiro (LTC), em processo de fiscalização preventiva, a apreciação da constitucionalidade das normas do artigo 1.º, do artigo 2.º – este na medida em que altera a redacção dos artigos 1577.º, 1591.º e 1690.º, n.º 1, do Código Civil –, do artigo 4.º e do artigo 5.º, todos do Decreto n.º 9/XI da Assembleia da República, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, recebido para promulgação.
É o seguinte o teor integral do diploma:
“Artigo 1.º
Objecto
A presente lei permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
Artigo 2.º
Alterações ao regime do casamento
Os artigos 1577.º, 1591.º e 1690.º do Código Civil, passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 1577.º
[…]
Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código.
Artigo 1591.º
[…]
O contrato pelo qual, a título de esponsais, desposórios ou qualquer outro, duas pessoas se comprometem a contrair matrimónio não dá direito a exigir a celebração do casamento, nem a reclamar, na falta de cumprimento, outras indemnizações que não sejam as previstas no artigo 1594.º, mesmo quando resultantes de cláusula penal
Artigo 1690.º
[…]
1 – Qualquer dos cônjuges tem legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do outro.
2 – …………………………………………………………………”.
Artigo 3.º
Adopção
1 – As alterações introduzidas pela presente lei não implicam a admissibilidade legal da adopção, em qualquer das suas modalidades, por pessoas casadas com cônjuge do mesmo sexo.
2 – Nenhuma disposição legal em matéria de adopção pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior.
Artigo 4.º
Norma revogatória
É revogada a alínea e) do artigo 1628.º do Código Civil.
Artigo 5.º
Disposição final
Todas as disposições legais relativas ao casamento e seus efeitos devem ser interpretadas à luz da presente lei, independentemente do género dos cônjuges, sem prejuízo do disposto no artigo 3.º.”
2. O pedido vem acompanhado de um parecer jurídico e tem os seguintes fundamentos:
“[ …]
6º
O presente pedido de fiscalização da constitucionalidade tem por objecto e circunscreve-se às normas, e só estas, do artigo 1º, do artigo 2º, na medida em que altera a redacção dos artigos 1577º, 1591º e 1690º, nº 1 do Código Civil, do artigo 4º e do artigo 5º do Decreto nº 9/XI, da Assembleia da República.
7º
Importa sublinhar, antes de mais, que a aprovação dos normativos cuja apreciação preventiva da constitucionalidade se requer não decorre de uma imposição constitucional de igualdade, pois que, como o Tribunal Constitucional já teve ocasião de concluir, no Acórdão nº 359/2009, a norma do artigo 1577º do Código Civil, na redacção em vigor, não afronta o nº 2 do artigo 13º da Lei Fundamental.
8º
Se acaso se concluísse pela existência de uma imposição constitucional de legislar decorrente do princípio da igualdade seria obrigatória a consagração de um regime de casamento entre pessoas do mesmo sexo em tudo idêntico ao regime do casamento entre pessoas de sexo diferente, impedindo o acolhimento de um regime diferenciador ou de soluções juridicamente distintas.
9º
Tal opção de diferenciação foi seguida na maioria dos Estados em cuja cultura jurídica Portugal se insere, tendo-se, em alguns deles, acolhido diferentes designações e regimes diferenciados.
10º
A opção pela união civil com registo foi considerada, de resto, pela jurisprudência constitucional alemã como uma decorrência do princípio da igualdade: tratando-se de realidades distintas importaria consagrar regimes diferentes, casamento para pessoas de sexo diferente; união civil com registo para pessoas do mesmo sexo.
11º
O princípio da igualdade pode, aliás, ser invocado para sustentar a inconstitucionalidade das normas objecto do pedido. Tudo está em saber se, ao tratar de forma igual realidades substancialmente diferentes, não está o legislador a violar uma obrigação de diferenciação que decorre da Lei Fundamental.
12º
Conclui-se, assim, que, de acordo com a jurisprudência constitucional portuguesa, firmada no Acórdão nº 359/2009, a Constituição não obriga à consagração legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo legítimas quer a sua proibição pura e simples, quer a previsão de regimes diferenciados – de que é exemplo, entre muitos outros, o regime alemão.
13º
Solução diversa constituiria um inaceitável condicionamento à liberdade de conformação do legislador, na medida em que imporia não só a ampliação do regime do casamento civil a pessoas do mesmo sexo como o faria em toda a sua extensão, com todo o seu feixe de direitos e obrigações.
14º
De resto, para concluir pela existência, neste domínio, de uma imposição ditada pelo nº 2 do artigo 13º da Lei Fundamental seria necessário densificar previamente o conceito constitucional de «orientação sexual». Com efeito, só esta densificação permitiria saber, com segurança, se a configuração agora dada ao instituto do casamento pelo Decreto nº 9/XI não implicaria, porventura, a violação do princípio da igualdade, ao não conferir idêntico tratamento a outras formas possíveis de orientação sexual, do mesmo modo que sempre se poderia questionar a legitimidade constitucional do artigo 3º do citado Decreto, que parece vedar a possibilidade de adopção por pessoa casada com cônjuge do mesmo sexo.
15º
A diferenciação introduzida no mencionado artigo 3º do Decreto corresponde, aliás, ao reconhecimento por parte do legislador de que as realidades em causa são substancialmente distintas, permitindo a Constituição – ou mesmo reclamando –, por isso, um tratamento diferenciado.
16º
Esta necessidade de densificação do conceito de «orientação sexual» torna-se ainda mais patente quanto o regime do artigo 1577º do Código Civil e de outras disposições do mesmo Código, exige, na sua literalidade, a diferença de sexo dos nubentes, mas não uma específica orientação sexual. É, pois, essencial saber em que consiste «orientação sexual» para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 13º da Constituição.
17º
Afastada a existência de uma imposição constitucional de legislar nos termos em que o fez o Decreto nº 9/XI, coloca-se, então, a questão de saber se as normas que integram o objecto do presente pedido são conformes à norma constitucional do artigo 36º, nº 1, que dispõe: «Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade».
18º
Pelo Decreto nº 9/XI, a Assembleia da República conferiu uma nova redacção à norma do artigo 1577º do Código Civil, a qual determina, sob a epígrafe «Noção de casamento», que «[C]asamento é o contrato celebrado entre pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código».
19º
O legislador eliminou o inciso «pessoas de sexo diferente», substituindo-o pela expressão «duas pessoas», o que implicou uma alteração significativa dos elementos definidores do conceito de casamento acolhido no Código Civil, que são: (a) a celebração de um contrato; (b) entre pessoas de sexo diferente; (c) que pretendem constituir família; (d) mediante uma plena comunhão de vida.
20º
Torna-se, pois, necessário indagar se a alteração ora pretendida introduzir no nosso ordenamento jurídico se mostra conforme ao conceito constitucional de casamento – e, reflexamente, ao conceito constitucional de família – acolhido no nº 1 do artigo 36º da Lei Fundamental.
21º
Torna-se, ainda, necessário saber se esta alteração se conforma com o conceito de casamento acolhido na Declaração Universal dos Direitos do Homem que, no n.º 1 do seu artigo 16º estabelece o seguinte: «A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família (…)». Sendo esta referência ao género dos titulares do direito caso isolado na Declaração Universal, é imperioso concluir que, à luz deste texto, o conceito de casamento deve ser interpretado como respeitante à união entre um homem e uma mulher.
22º
Ora, dispondo a Constituição portuguesa, no n.º 2 do artigo 16º, que «os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem», isto significa que a interpretação dos preceitos constitucionais sobre direitos fundamentais não deve ser feita, exclusivamente, com base na sua letra e no espírito da nossa Constituição. O que a norma constitucional portuguesa impõe ao intérprete é, pois, uma interpretação conforme com a Declaração.
23º
Mesmo reconhecendo que o legislador possui, neste domínio, de liberdade de conformação na definição dos elementos característicos do conceito legal de casamento, sempre deverá ter-se presente que essa discricionariedade legislativa não pode ser exercida de tal modo que desfigure a noção constitucional desse instituto.
24º
A existência constitucional do casamento enquanto instituição é expressamente reconhecida pela jurisprudência constitucional, designadamente pelo citado acórdão nº 359/2009, tendo o Tribunal, no acórdão n.º 590/2004, afirmado mesmo tratar-se de «uma verdadeira norma de garantia institucional».
No acórdão acabado de citar, declarou o Tribunal Constitucional:
«Importa, desde já, precisar o sentido da norma constitucional invocada. O artigo 36º reconhece e garante diversos direitos relativos à família, ao casamento e à filiação. Seguindo de perto o ensinamento de J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira […]:
São de quatro ordens esses direitos: a) direito das pessoas a constituírem família e a casarem-se (nº 1 e nº 2); b) direitos dos cônjuges no âmbito familiar e extrafamiliar (nº 3); c) direitos dos pais, em relação aos filhos (nº 2, in fine, e nºs 5 e 6); d) direitos dos filhos (nºs 4 e 5, 2ª parte).
Interessam-nos em particular os direitos mencionados na alínea a). Quanto ao direito a casar, pode dizer-se que este comporta duas dimensões. Por um lado, consagra um direito fundamental, por outro, é uma verdadeira norma de garantia institucional. Como explicam Pereira Coelho e Guilherme Oliveira (Curso de Direito da Família, Vol. I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2001, pág. 137):
Merece referência (…) a questão de saber se o artigo 36º, nº 1, 2ª parte, concede apenas um direito fundamental a contrair casamento ou, mais do que isso, é uma norma de garantia institucional. Embora a Constituição não formule de modo explícito um princípio de “protecção do casamento” (só a família é protegida no artigo 67º), temos entendido que a instituição do casamento está constitucionalmente garantida, pois não faria sentido que a Constituição concedesse o direito a contrair casamento e, ao mesmo tempo, permitisse ao legislador suprimir a instituição ou desfigurar o seu “núcleo essencial”.
[…] Aquilo que a Constituição garante é a liberdade individual de constituir família e de contrair casamento, bem como a existência da figura jurídica do casamento. Ou seja, a norma invocada como parâmetro prescreve apenas que o Estado deve garantir a existência do instituto jurídico do casamento e, ao mesmo tempo, abster-se de quaisquer comportamentos que impeçam ou dificultem o exercício dos referidos direitos por parte dos cidadãos».
25º
Independentemente da natureza da protecção constitucional ao casamento, importa, pois, determinar o conteúdo mínimo do conceito constitucional de casamento.
26º
Na verdade, a maleabilidade dos conceitos constitucionais não pode ser irrestrita, tendo limites que decorrem da própria noção, semântica e institucional, que a Lei Fundamental acolheu, sob pena de, a não ser assim, a força normativa do texto constitucional ser irremediavelmente posta em causa.
27º
Assim, não será constitucionalmente admissível que o legislador, no uso da sua liberdade de conformação e tendo por objecto um conceito «aberto», suprima, altere ou introduza novos elementos nesse conceito que o descaracterizem naquilo que representa o seu núcleo essencial. De facto, como o Tribunal deixou bem claro no acórdão n.º 590/2004, não basta afirmar que o legislador goza, neste domínio, de uma ampla margem de conformação. É necessário explicitar o sentido e os limites dessa liberdade de conformação, sob pena de o seu exercício postergar o alcance da garantia institucional contida no nº 1 do artigo 36º da Constituição. Trata-se precisamente da explicitação do sentido e limites da liberdade de conformação do legislador neste domínio que, pelo presente pedido, se solicita seja realizada pelo Tribunal Constitucional.
28º
Com efeito, a liberdade de conformação do legislador não pode permitir a desfiguração do conceito constitucional de casamento nem, tão pouco, constituir um «cheque em branco» ao legislador que lhe permita amputar alguma das suas características essenciais.
29º
No caso em apreço, do que se trata, na verdade, não é de uma mera alteração vocabular ou terminológica, mas da eliminação de um dos elementos do instituto do casamento, o que sempre implica que o Tribunal Constitucional determine que características definidas no artigo 1577º do Código Civil são, ou não, passíveis de supressão, sob pena de desfiguração do instituto em apreço. É essa determinação que, pelo presente pedido, se solicita que o Tribunal realize.
30º
A Constituição fornece, de resto, um adequado enquadramento da noção de casamento, no contexto da família, que vincula o intérprete, no âmbito de uma interpretação actualista mas também sistemática cujo resultado não pode abstrair, em absoluto, da literalidade da norma do artigo 36º.
31º
É o caso do disposto nas normas constitucionais do n.º 1 do artigo 67º, nºs 1 a 4 do artigo 68º e n.º 2 do artigo 71º. Em todos eles a referência à família se encontra associada à filiação, cujo papel se afigura central na instituição familiar, tal como consagrada na Constituição, devendo destacar-se, pelo seu conteúdo preceptivo, a salvaguarda dessa instituição prevista no artigo 36º.
32º
Não quer isto significar, naturalmente, que a Constituição estabeleça uma conexão necessária entre casamento e filiação. O regime jurídico do casamento actualmente em vigor desmente-o. Mas já será iniludível que a Constituição protege a instituição casamento num contexto muito determinado.
33º
Por outro lado, é indesmentível que o conceito constitucional de casamento impregnou a ordem jurídica portuguesa com a sua força irradiante.
34º
É visível essa impregnação no artigo 1577º do Código Civil, nos artigos 1601º a 1604º, relativos aos impedimentos matrimoniais, em especial, aos impedimentos dirimentes absolutos e relativos, obstando ao casamento da pessoa a quem respeitam, entre outros, o casamento anterior não dissolvido, o parentesco na linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou na incriminação da bigamia, prevista e punida pelo artigo 247º do Código Penal.
35º
Ali deixou claro o legislador, e tal não seria possível sem arrimo constitucional, as características essenciais do casamento à luz do ordenamento jurídico português.
36º
Não existindo uma definição constitucional expressa do conceito de casamento, é forçoso concluir que a Lei Fundamental procedeu a uma recepção do «conceito histórico de casamento como união entre duas pessoas de sexo diferente» (J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4ª edição, 2007, p. 568), ou seja, recortando este conceito como exigindo a diferenciação do sexo dos nubentes, mas sendo omisso quanto à sua orientação sexual.
37º
Independentemente de determinar a partir de que fonte ou fontes foi recebido na Constituição o conceito de casamento, e abstraindo até da questão de saber se essa recepção não teve por objecto um conceito pré ou metajurídico, coloca-se, pois, ao Tribunal Constitucional a questão de saber se a diferenciação do sexo dos nubentes não corresponde ao conceito de casamento – e, reflexamente, de família – acolhido na Lei Fundamental, desde a sua versão originária.
38º
Tal não significa, como está bem de ver, sustentar que o conceito constitucional de casamento se encontra «petrificado» ou tem de corresponder necessariamente ao conceito de casamento que o Código Civil recebeu, o que, no limite, tornaria inconstitucionais todas e quaisquer alterações introduzidas neste Código.
39º
O que deve ser clarificado é, isso sim, que elemento ou elementos do conceito de casamento integram – e têm de integrar – a noção de casamento, à luz da Constituição.
40º
Daí decorre também a interrogação, que se coloca ao Tribunal Constitucional, sobre o conteúdo e o alcance da noção constitucional de família, igualmente acolhida no artigo 36º, nº 1, de modo a indagar-se, agora numa outra vertente, da conformidade à Lei Fundamental da opção do legislador plasmada na nova redacção do artigo 1577º do Código Civil.
41º
As considerações acima expendidas aplicam-se, mutatis mutandis, às demais normas que integram o objecto do pedido, ou seja, o artigo 1º e o artigo 2º do Decreto nº 9/XI, este na medida em que confere nova redacção ao artigo 1591º do Código Civil, bem como os artigos 4º e 5º do mesmo Decreto, sem prejuízo de se reconhecer a margem de liberdade conformativa do legislador na modulação do desvalor do casamento celebrado entre pessoas do mesmo sexo [artigo 1628º, alínea e), do Código Civil] e, igualmente, sem prejuízo de se reconhecer a natureza meramente acessória, instrumental e interpretativa do artigo 5º do Decreto nº 9/XI.
42º
Conclui-se, pois, que existem fundadas dúvidas sobre a constitucionalidade material das normas objecto do pedido, por violação do conteúdo essencial da garantia institucional ínsita no conceito de casamento acolhido pela Constituição.
Ante o exposto, requer-se, nos termos do n.º 1 do art.º 278.º da Constituição da República, bem como do n.º 1 do art.º 51.º e n.º 1 do art.º 57.º da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, a fiscalização preventiva de constitucionalidade das normas dos artigos 1.º, 2.º, na medida em que altera a redacção dos artigos 1577.º, 1591.º e 1690.º, n.º 1 do Código Civil, 4.º e 5.º do Decreto n.º 9/XI, por violação do n.º 1 do artigo 36.º da Constituição.”
3. Notificado para se pronunciar sobre o pedido, nos termos do artigo 54.º da LTC, o Presidente da Assembleia da República ofereceu o merecimento dos autos.
II. Fundamentação
4. Contendo o Decreto remetido à Presidência da República para promulgação um preceito relativo à adopção (o artigo 3.º do Decreto) e aludindo o discurso fundamentador (cfr., n.º 14 do requerimento) à sua eventual inconstitucionalidade, o requerimento sublinha, porém, que só as restantes normas do Decreto são objecto do pedido de fiscalização preventiva (n.º 6.º e 42.º). Está, pois, fora do objecto de apreciação pelo Tribunal o artigo 3.º do Decreto n.º 9/XI da Assembleia da República, bem como a parte final do artigo 5.º que ressalva o disposto naquele outro preceito.
Por outro lado, embora o objecto do pedido de fiscalização preventiva seja constituído por diversas normas, só uma (ou só um efeito normativo) está verdadeiramente em discussão: o artigo 1.º, ao permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O mais é a reflexão desta opção legislativa nos indicados preceitos do Código Civil e uma norma integrativa da ordem jurídica, mandando interpretar todas as disposições legais relativas ao casamento e seus efeitos (com excepção das que respeitem à matéria da adopção) à luz da nova solução normativa.
Importa, ainda, notar que objecto da nova regulação é o “casamento civil” e não o casamento católico ou o casamento celebrado segundo os ritos de outra religião, tendo em conta a Lei de Liberdade Religiosa (Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho) e as alterações introduzidas no Código de Registo Civil pelo Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro. Sem que importe agora caracterizar o nosso sistema matrimonial quanto a saber se o casamento católico é admitido no direito português como outra forma de celebração ou, mais do que isso, como um instituto diferente (cfr., sobre a questão, com posições contrastadas, Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito de Família, Vol. I, 4ª ed., págs. 186 e segs. e Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., pág. 563).
5. Refere-se o pedido a uma hipotética violação do princípio da igualdade que poderia resultar de a configuração agora dada ao instituto do casamento pelo Decreto 9/XI contemplar o relacionamento homossexual e não conferir idêntico tratamento a outras formas possíveis de orientação sexual. Não vindo esta argumentação desenvolvida e não se vislumbrando que concretas formas de orientação sexual se tem em vista e que possam assumir foros de relevância no espaço público em ordem a justificar a consideração pelo legislador, não estão reunidas condições para que o Tribunal aprecie este argumento. O ponto fulcral da alteração legislativa que justifica a interrogação de constitucionalidade é a identidade ou diversidade do sexo dos cônjuges. A esta questão de constitucionalidade não interessam todas as diferenças e variações que possam existir nas manifestações hetero e homossexuais e respectivas consequências jurídicas, mas tão somente que duas pessoas do mesmo sexo possam desposar-se.
Por outro lado, não se torna necessário proceder à explicitação ou densificação do conceito de “orientação sexual”, nomeadamente enquanto “categoria suspeita” para efeito da proibição contida no n.º 2 do artigo 13.º da Constituição. A orientação sexual que releva no contexto da norma em causa é a inclinação para a união com uma pessoa do mesmo sexo biológico ou genético. No contexto da opção normativa em apreciação, a componente morfológica, psicológica e social da identidade sexual e da consequente determinação jurídica do género perde relevância problemática. Para efeito de aplicação das normas em causa (i.e., da existência ou validade do casamento e só para esse aspecto, mas só isso aqui releva), não interessa saber como devem ser encaradas as situações de transexualidade, designadamente a qual das identidades deve atender-se em caso de desconformidade entre a identidade genética e o género constante do registo, porque essa determinação do sexo dos nubentes deixa de influir no direito de contrair determinado casamento. Todavia, note-se que, para quem considerar que, após a intervenção médico-cirúrgica de conversão sexual, é possível fazer reconhecer judicialmente a nova identidade de género com as consequências inerentes, já hoje a lei consentiria o casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico, salvo se, também para este efeito, se introduzisse uma restrição à relevância da mudança de sexo (cfr., acórdão Christine Goodwin c. Reino Unido, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem).
6. A alteração legislativa submetida a fiscalização vai incidir imediatamente sobre o conceito de casamento, actualmente definido pelo artigo 1577.º do Código Civil como “o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código”. De outras disposições do Código se infere que a “plena comunhão de vida” se caracteriza pela recíproca vinculação dos cônjuges aos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência (artigo 1672.º do Código Civil), pela exclusividade (artigo 1601.º, alínea c) do Código Civil) e pelo carácter tendencial ou presuntivamente perpétuo, sem prejuízo da possibilidade de divórcio (artigos 1618.º, n.º 2, e 1773.º do Código Civil).
No regime jurídico vigente, a diversidade de sexo entre os nubentes (e, consequentemente, entre os cônjuges) constitui um pressuposto necessário e um requisito essencial do casamento. Se os cônjuges forem do mesmo sexo, o casamento é juridicamente inexistente (artigo 1628.º, alínea e), do Código Civil). É esta característica da diversidade de sexos entre os cônjuges, a exigência insuperável de que o matrimónio se celebre entre um homem e uma mulher, desde sempre vigente na ordem jurídica portuguesa e, com alguns abandonos recentes que adiante se mencionarão, na generalidade das ordens jurídicas do mesmo espaço civilizacional, que a iniciativa legislativa questionada veio afastar.
Face à Constituição da República Portuguesa, três alternativas de resposta são conjecturáveis e têm tido efectivo curso doutrinário acerca da possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo contraírem entre si casamento (cfr., com indicação dos diversos autores nacionais que sustentam cada uma delas, Duarte Santos, Mudam-se os Tempos, Mudam-se os Casamentos, O casamento entre Pessoas do mesmo Sexo e o Direito Português, págs. 283 e segs.): a) o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma exigência constitucional; b) o casamento entre pessoas do mesmo sexo está constitucionalmente proibido; c) o casamento entre pessoas do mesmo sexo pode ser reconhecido pelo legislador ordinário.
No pedido sustenta-se o entendimento enunciado em segundo lugar, dando a primeira hipótese por arredada de acordo com a jurisprudência firmada no acórdão n.º 359/2009 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt), que interpreta no sentido de que a Constituição não obriga à consagração legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo legítimas quer a sua proibição pura e simples, quer a previsão de regimes diferenciados.
É apenas este entendimento de que o artigo 36.º da Constituição não permite que o legislador ordinário consagre a possibilidade de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo cuja sustentação importa averiguar, para com ele confrontar as normas que constituem objecto do pedido, se essa interpretação merecer acolhimento.
7. As questões dos modos e âmbito de protecção, reconhecimento e legitimação das situações de vida em comum entre pessoas do mesmo sexo irromperam nas últimas três ou quatro décadas, com premência crescente, tanto na ordem jurídica portuguesa como noutros lugares do mesmo espaço de civilização e cultura jurídica e em instâncias supra-nacionais que Portugal integra, e encontraram cambiantes e alternativas de resposta de que é útil dar nota sintética. Com efeito, não há dúvida de que em matérias que se ligam a problemas humanos tão universais como os relacionados com a pretensão de tutela jurídica do relacionamento homossexual poderá ter interesse saber o que sucede no âmbito de outras experiências jurídicas e (sem perda do sentido de autonomia de cada sistema jurídico) tirar daí porventura conclusões, em especial quando seja possível induzir princípios jurídicos comuns de tais experiências (sobre a importância do direito comparado no domínio da jurisdição constitucional, veja-se Romano Orrú, La giustizia costituzionale in azione e il paradigma comparato: l’ esperienza portoghese, Napoli, 2006).
Neste aspecto, importa essencialmente retomar o que muito recentemente o Tribunal disse no acórdão n.º 359/2009, em que enfrentou, pela primeira vez, a questão constitucional do casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora incidindo sobre a solução normativa oposta àquela que agora se aprecia.
8. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa foi pioneira na defesa da situação jurídica dos homossexuais: na Resolução 756 (1981), de 1 de Outubro de 1981, convidou a Organização Mundial de Saúde a suprimir do seu catálogo de doenças a homossexualidade, e na Recomendação 924 (1981), da mesma data, recomendou ao Comité de Ministros que exortasse os Estados-membros onde os actos homossexuais consentidos entre adultos eram passíveis de perseguição penal a abolirem essas leis e práticas e a aplicar a mesma idade mínima para o consentimento de actos sexuais homossexuais e heterossexuais, e que convidasse os Estados-membros: a ordenar a destruição de ficheiros especiais existentes sobre homossexuais e abolir a prática de elaborar tais ficheiros; a assegurar a igualdade de tratamento dos homossexuais em matéria de emprego, remuneração e segurança no emprego, designadamente no sector público; a reclamar a interrupção de todo o tratamento ou investigação médica obrigatória destinada a modificar as inclinações sexuais dos adultos; a assegurar que a guarda, o direito de visita, e o acolhimento em casa das crianças pelos pais não sejam limitadas por causa da inclinação homossexual de um deles; a reclamar dos direitos prisionais e de outras autoridades a vigilância contra o risco de violações, actos de violência e delitos sexuais dentro das prisões (cfr., Resolução 756 (1981), e Recomendação 924 (1981), disponíveis, como as demais citadas em http://assembly.coe.int/).
Directamente relacionadas com a união entre pessoas do mesmo sexo, emitiu duas importantes Recomendações : A Recomendação 1470 (2000), de 30 de Junho e a Recomendação 1974 (2000), de 26 de Setembro. Na Recomendação 1470, preocupada com o facto de as políticas de imigração da maior parte dos Estados-membros do Conselho da Europa serem discriminatórias relativamente aos homossexuais, recomendou ao Comité de Ministros que exigisse aos Estados-membros: «a revisão das respectivas políticas em matéria de direitos sociais e protecção dos migrantes de maneira a que os casais e as famílias homossexuais sejam tratadas da mesma forma que os casais e as famílias heterossexuais; a adopção das medidas necessárias para que os casais homossexuais binacionais beneficiem dos mesmos direitos em matéria de residência que os casais heterossexuais binacionais; a criação de organizações não governamentais de defesa dos direitos dos refugiados, dos migrantes e dos casais homossexuais binacionais (…)»; Na Recomendação 1974, recomenda ao Conselho de Ministros «o aditamento da orientação sexual ao conjunto de factores de discriminação proibidos pela CEDH, tal como a Assembleia Parlamentar tinha feito no seu Parecer n.º 216 (2000) (…) e convida os Estados-membros: a incluir a orientação sexual entre os motivos de discriminação proibidos pelas respectivas legislações; (…) a adoptar legislação consagradora da «união registada» (…)» Na resposta, em 19 de Setembro de 2001, o Comité de Ministros pronunciou-se contra a inclusão da expressão orientação sexual na CEDH, mas aceitou todas as outras medidas.
Já em 2007, na Resolução 1547 (2007), de 18 de Abril, sobre «A situação dos direitos do homem e da democracia na Europa», a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa convida os Estados-membros a lutar eficazmente contra todas as formas de discriminação fundadas no género ou na orientação sexual e, nesse contexto, a aprovar legislação anti-discriminatória, designadamente, o reconhecimento legal de uniões entre pessoas do mesmo sexo.
9. Nos termos do artigo 12.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 4 de Abril de 1950, «A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de se casar e de constituir família, segundo as leis nacionais que regem o exercício deste direito». Em matéria de igualdade, estabelece o artigo 14.º da Convenção que «O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação».
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem assente numerosa jurisprudência no sentido de remover discriminações em razão da orientação sexual: nos casos Dudgeon v. Reino Unido, Acórdão de 22.10.1981, Norris v. Irlanda, Acórdão de 26.10.1988, Modinos v. Chipre, Acórdão de 22.04.1993, e A.D.T. v. Reino Unido, de 31.07.2000 (todos disponíveis, como os demais citados em: http://cmiskp.echr.coe.int/), o Tribunal considerou que a penalização de práticas homossexuais livremente consentida entre adultos viola o direito à vida privada consagrado no artigo 8.º da CEDH e constitui uma violação do princípio da não discriminação previsto no artigo 14.º da mesma Convenção (no caso A.D.T. v. Reino Unido, o TEDH absteve-se de conhecer a violação do artigo 14.º, limitando a sua análise ao artigo 8.º); nos casos Smith e Grady v. Reino Unido e Lustig-Preen e Beckett v. Reino Unido, Acórdãos de 27.09.1999, foram julgadas atentatórias do direito à reserva da vida privada consagrado no artigo 8.º da CEDH normas constantes de códigos de justiça militar britânicos que penalizavam práticas homossexuais entre militares; no caso Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Acórdão de 21.12.1999, o Tribunal declarou que a negação de um tribunal português em conferir a custódia da sua filha a um pai homossexual, por causa dessa condição, viola os direitos à vida privada e familiar (cfr., artigo 8.º da CEDH) e o princípio da igualdade e da não discriminação (cfr., artigo 14.º da CEDH); nos casos L. e V. v. Áustria e S. e L. v. Áustria, ambos de 09.01.2003, reconheceu-se a falta de qualquer justificação objectiva e racional para a manutenção de uma idade superior relativa ao consentimento para actos homossexuais quando comparados a actos heterossexuais, considerando violadoras do artigo 14.º da CEDH as condenações que tiveram lugar ao abrigo do § 209 do Código Penal austríaco; no caso Baczkowski e outros v. Polónia, Acórdão de 03.05.2007, a propósito do indeferimento de pedidos de autorização de manifestações LGBT por parte das autoridades municipais de Varsóvia, o Tribunal entendeu, face às circunstâncias do caso concreto, que se verificou uma situação de discriminação em função da orientação sexual (cfr., artigo 14.º da CEDH) em conjugação com a violação das liberdades de manifestação e reunião previstas no artigo 11.º da Convenção; no caso E.B. v. França, Acórdão de 22.01.2008, o Tribunal decidiu que a recusa das autoridades de um Estado-membro (no caso concreto, a França) em aceitar a candidatura de um homossexual (no caso, uma mulher) a um processo de adopção singular por causa dessa condição comporta uma discriminação em função da orientação sexual (cfr., artigos 8.º e 14.º da CEDH).
O direito a casar e a formar família vem reconhecido no artigo 12.º da CEDH, sendo que o TEDH tem interpretado o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, embora esta definição nem sempre tenha sido constante.
Assim, no caso Rees c. Reino Unido, de 10 de Outubro de 1986, o Tribunal afirmou que «ao garantir o direito de casar, o artigo 12.º [da CEDH] tem em vista o casamento entre duas pessoas de sexo biológico diferente. O seu teor confirma-o: resulta deste artigo que o seu objectivo consiste essencialmente em proteger o casamento enquanto fundamento da família» (cfr., § 49). Este entendimento viria a ser confirmado nos casos Cossey c. Reino Unido, de 27 de Setembro de 1990 (cfr., § 43), e Sheffield e Horsham c. Reino Unido, de 30 de Julho de 1998 (cfr., § 60).
Esta jurisprudência conheceu posteriormente um distinguo, em matéria de transexualidade, com o caso Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de Julho de 2002. Nesta decisão, o THDU não manteve a referência à diferença de sexo biológico para definir o casamento, afirmando o seguinte: «Reexaminando a situação em 2002, o Tribunal fez notar que no artigo 12.º se encontra garantido o direito fundamental, para um homem e uma mulher, de casar e de fundar uma família. Todavia, o segundo aspecto não é uma condição do primeiro, e a incapacidade de um casal conceber ou criar uma criança não seria em si suficiente para o privar do direito visado pela primeira parte da disposição em causa» (cfr., § 98). O Tribunal afirmou ainda que «desde a adopção da Convenção, a instituição do casamento foi profundamente afectada pela evolução da sociedade, e os progressos da medicina e da ciência levaram a mudanças radicais no domínio da transexualidade. (…) Outros factores devem ser tidos em conta: o reconhecimento pela comunidade médica e as autoridades sanitárias nos Estados contratantes do estado médico de perturbação da identidade sexual, a disponibilização de tratamentos, incluindo intervenções cirúrgicas, destinadas a permitir à pessoa em causa de se aproximar tanto quanto possível do sexo a que sentem pertencer, a adopção por esta do papel social do seu novo sexo. O Tribunal nota igualmente que o texto do artigo 9.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia adoptada recentemente se afasta – e isso não pode deixar de ter sido deliberado – do texto do artigo 12.º da Convenção, na medida em que exclui a referência ao homem e à mulher» (cfr., § 100).
Por outro lado, na decisão de rejeição de 10 de Maio de 2001, proferida no caso Mata Estevez c. Espanha, o Tribunal afirmou que «de acordo com a jurisprudência constante dos órgãos da Convenção, as relações homossexuais duradouras entre dois homens não relevam do direito ao respeito da vida familiar protegida pelo artigo 8.º da Convenção (cfr., n.º 9369/81, dec. 3.5.1983, DR 32, p. 220; n.º 11716/85, dec. 14.5.1986, DR 47, p. 274). O Tribunal considera que apesar da evolução verificada em diversos Estados europeus tendendo ao reconhecimento legal e jurídico das uniões de facto estáveis entre homossexuais, trata-se de um domínio em que os Estados contratantes, na ausência de um denominador comum amplamente partilhado, gozam ainda de uma ampla margem de apreciação (cfr., mutatis mutandis, os casos Cossey c. Reino Unido, de 27 de Setembro de 1990, série n.º 184, p. 16, § 40 e, a contrario, Smyth e Grady c. Reino Unido, n.ºs 33985/96 e 33986/96, § 104, CEDH 1999-VI). Em consequência, a ligação do requerente com o seu parceiro, hoje falecido, não releva do artigo 8.º na medida em que esta disposição protege o direito ao respeito da vida familiar».
No caso Karner c. Áustria, de 24 de Julho de 2003, o Tribunal entendeu que «o objectivo consistente em proteger a família no sentido tradicional do termo é suficientemente abstracto e uma grande variedade de medidas concretas pode ser utilizada para o realizar. Quando a margem de apreciação deixada aos Estados é estreita, por exemplo no caso de uma diferença de tratamento fundada no sexo ou na orientação sexual, não só o princípio da proporcionalidade exige que a medida adoptada seja normalmente de natureza a permitir a realização do objectivo pretendido, mas obriga também a demonstrar que era necessário, para atingir tal fim, excluir certas pessoas – no caso os indivíduos vivendo uma relação homossexual – do campo de aplicação da medida em causa – o artigo 14.º da lei sobre os arrendamentos. O Tribunal verifica que o Governo não apresentou argumentos que permitissem chegar a uma tal conclusão» (cfr., § 41).
10. A primeira vez que um órgão comunitário se pronunciou sobre direitos dos homossexuais foi através da Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Março de 1984, relativa a discriminações sexuais no local de trabalho, na qual manifestou preocupações idênticas às referidas pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa na Recomendação 924 (1981) (JO C 104, de 16/04/1984, págs. 6 e segs.).
Em 1993, numa Resolução sobre o respeito dos direitos humanos na Comunidade Europeia o Parlamento Europeu exprimiu a sua preocupação face a discriminações ou manifestações de marginalização dirigidas contra pessoas que apresentam formas de diferença, em especial as que pertencem a uma minoria sexual (JO C 115, de 26/04/1993, págs. 178 e segs.)
Em 1994, na sequência de um Relatório sobre a igualdade de direitos dos homens e das mulheres na Comunidade Europeia (Relatório Roth), exarado pela Comissão de Liberdades e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu, foi aprovada por este órgão a Resolução de 8 de Fevereiro de 1994, defendendo a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos independentemente da sua orientação sexual e, considerando incumbência da Comunidade Europeia promover essa igualdade, o Parlamento Europeu exorta os Estados-membros a agirem no sentido de porem termo a tratamentos discriminatórios e a promoverem a integração dos homens e mulheres homossexuais na sociedade e insta a Comissão das Comunidades Europeias a apresentar um projecto de recomendação onde se deveria, pelo menos, pôr termo à «exclusão de pares homossexuais da instituição do casamento ou de um enquadramento jurídico equivalente, devendo igualmente salvaguardar todos os direitos e benefícios do casamento, incluindo a possibilidade de registo de uniões» e a «todas e quaisquer restrições impostas aos direitos que assistem aos homens e mulheres homossexuais à paternidade, à adopção ou à educação de crianças» (JO C 61, de 28/02/1994, págs. 40 e segs.)
Em 1997, o Parlamento Europeu adoptou nova Resolução, insistindo na ideia de que «o não reconhecimento legal dos casais do mesmo sexo no conjunto da União constitui uma discriminação, nomeadamente à luz do direito à livre circulação e do direito ao reagrupamento familiar» (JO C 132, de 28/04/1997, págs. 31 e segs., ponto 137).
Merecem, ainda, destaque as Resoluções: – de 1998, em que o Parlamento Europeu convida todos os Estados-membros a reconhecerem a legalidade dos direitos dos homossexuais, nomeadamente através da instauração, nos países em que ainda não tenham sido adoptados, de contratos de união civil, tendo em vista suprimir todas as formas de discriminação de que ainda são vítimas os homossexuais, nomeadamente em matéria de direito fiscal, regimes patrimoniais, de direitos sociais, etc. (cfr., Resolução sobre o respeito dos Direitos do Homem na União Europeia (1996), de 17/02/1998, in JO C 80, de 16/03/1998, pág. 50, pontos 67-68); – de 2000, em que incita os Estados-membros a adoptarem políticas de equiparação entre uniões heterossexuais e homossexuais, designadamente, a garantirem às famílias monoparentais, aos casais não unidos pelo matrimónio e aos do mesmo sexo a igualdade de direitos relativamente aos casais e famílias tradicionais, nomeadamente no que se refere a fiscalidade, regimes patrimoniais e direitos sociais, e exorta todos os Estados nos quais não exista ainda esse reconhecimento jurídico a alterarem a sua legislação no sentido do reconhecimento jurídico das uniões sem laços matrimoniais independentemente do sexo dos intervenientes, entendendo ser necessário conseguir rapidamente progressos quanto ao reconhecimento mútuo na União Europeia destas diversas formas legais de uniões de facto e de matrimónios entre pessoas do mesmo sexo (cfr., Resolução sobre o respeito pelos Direitos do Homem na União Europeia (1998-1999), de 16/03/2000, in JO C 377, de 29/12/2000, págs. 344 e segs., pontos 56-57); e – de 2001 e de 2003, sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia (in: JO C 65 E, de 14/03/2002, e JO C 38 E, de 12/02/2004), no sentido de recomendarem aos Estados-membros que modifiquem a sua legislação com vista ao reconhecimento da uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes e lhes atribuam direitos iguais. [Para uma descrição mais detalhada desta matéria ver, entre outros, Duarte Santos, ob. cit., págs. 99 a 121].
11. Podem, ainda, referir-se com utilidade para a compreensão global do problema, apesar de a matéria do direito de família não ser da competência da União Europeia, as seguintes decisões do Tribunal de Justiça:
No acórdão de 17 de Fevereiro de 1998 (proferido no processo n.º C-249/96, Lisa Jacqueline Grant contra South-West Trains Ltd.), considerou que «a recusa de uma entidade patronal de conceder uma redução no preço dos transportes a favor da pessoa, do mesmo sexo, com a qual o trabalhador mantém uma relação estável, quando essa redução é concedida a favor do cônjuge do trabalhador ou à pessoa, do sexo oposto, com qual este mantém uma relação estável sem ser casado, não constitui uma discriminação proibida pelo artigo 119.º do Tratado nem pela Directiva 75/117». O TJCE considerou que «no seu estado actual, o direito comunitário não abrange uma discriminação baseada na orientação sexual, como a que constitui objecto do litígio no processo principal», mas admitiu que após a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão será possível ao Conselho, nas condições previstas no artigo 6.º-A do Tratado CE, a adopção das medidas necessárias à eliminação de diferentes formas de discriminação, nomeadamente as baseadas na orientação sexual.
No acórdão de 31 de Maio de 2001 (proferido nos processos apensos C-122/99 P e C-125/99 P; Reino da Suécia e outros contra Conselho da União Europeia), apreciou a questão de saber se a decisão privando um funcionário sueco de um abono a que tinham direito os seus colegas casados, com fundamento apenas na circunstância de o parceiro com quem vivia ser do mesmo sexo, constitui uma discriminação em razão do sexo contrária ao artigo 119.º do Tratado. Segundo o Tribunal, «o princípio da igualdade de tratamento só pode aplicar-se a pessoas que estejam em situações comparáveis, e importa, portanto, examinar se a situação de um funcionário que registou uma união de facto entre pessoas do mesmo sexo, como a união de facto de direito sueco contraída pelo recorrente, é comparável à de um funcionário casado». Para proceder a tal análise, o Tribunal considerou que, enquanto «órgão jurisdicional comunitário», não podia abstrair «das concepções dominantes no conjunto da Comunidade». Considerando a grande heterogeneidade das legislações e a falta de equiparação geral ao casamento das outras formas de união legal, o Tribunal «considerou que o fundamento relativo à violação da igualdade de tratamento e a uma discriminação em razão do sexo não pode ser acolhido».
No acórdão de 1 de Abril de 2008, proferido no caso Tadao Maruko v. Caixa de pensões dos trabalhadores alemães de teatro (Processo C-267/06), no pedido de decisão prejudicial suscitada pelo Bayerisches Verwaltungsgericht München, a propósito da recusa da Caixa de Pensões em conceder uma prestação de sobrevivência ao parceiro sobrevivo de uma união registada constituída ao abrigo da Lebenspartnerschaftgesetz (LPartG), de 16 de Fevereiro de 2001, com fundamento no disposto na convenção colectiva dos teatros alemães, segundo a qual só o cônjuge sobrevivo tem direito a esse benefício, o Tribunal de Justiça considerou que as disposições conjugadas dos artigos 1.º e 2.º da Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27/11/2000 – que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional (JO L 303, de 02/12/2000, págs. 16 e segs.) – opõem se a uma legislação por força da qual, após a morte do seu parceiro, o parceiro sobrevivo não recebe uma prestação de sobrevivência equivalente à concedida a um cônjuge sobrevivo, apesar de, segundo o direito nacional, a união de facto colocar as pessoas do mesmo sexo numa situação comparável à dos cônjuges no que respeita à referida prestação de sobrevivência. Contudo, em consonância com anteriores decisões (cfr., Acórdãos Grant e D e Reino da Suécia) o Tribunal entendeu que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se um parceiro sobrevivo está numa situação comparável à de um cônjuge beneficiário da prestação de sobrevivência prevista pelo regime socioprofissional de pensões gerido pela caixa de pensões de reforma em causa.
12. No âmbito do direito da União Europeia importa ainda reter:
– Que o n.º 1 do artigo 19.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que «Sem prejuízo das demais disposições do presente Tratado e dentro dos limites das competências que este confere à União, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, pode tomar as medidas necessárias para combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual».
– Que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE – publicada, com as adaptações que lhe foram introduzidas em 12/12/2007, no JO C 303, de 14/12/2007) estabelece, no seu artigo 9.º, sob a epigrafe “Direito de contrair casamento e constituir família”, «O direito de contrair casamento e o direito de constituir família são garantidos pelas legislações nacionais que regem o respectivo exercício».
Além disso, o n.º 1 do artigo 21.º da Carta proíbe toda a «discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual».
13. Diversos são os países da Europa que adoptaram medidas legislativas de reconhecimento e tutela jurídica das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Em alguns deles, essa intervenção consistiu na consagração de um regime de “união civil” entre pessoas do mesmo sexo ou parcerias de vida registada, envolvendo o reconhecimento de grande parte dos direitos e deveres do casamento. Noutros, procedeu-se à própria redefinição do conceito de casamento, de modo a abranger as uniões de pessoas do mesmo sexo, como sucedeu na Holanda, em 2001, na Bélgica, em 2003, na Espanha, em 2005 e, mais recentemente, na Noruega e na Suécia.
Assim:
13. 1. Países com união civil registada
O primeiro país a consagrar um regime de união civil entre pessoas do mesmo sexo, com efeitos substancialmente análogos aos do casamento, foi a Dinamarca, em 1989 (Lov om registeret partneska n.º 372, de 07/06/1989).
O «modelo escandinavo», assim conhecido porque veio a ser adoptado por outros países nórdicos – a Noruega em 1993, a Suécia em 1994, a Islândia em 1996, e a Finlândia em 2001 – reserva exclusivamente aos casais homossexuais o acesso à união registada.
Trata-se da instituição de um regime jurídico especificamente dirigido a regular as uniões duradouras entre pessoas do mesmo sexo que apresenta semelhanças com o casamento, designadamente quanto aos requisitos de capacidade e impedimentos, aos trâmites do processo preliminar, à exigência de registo do acto, ao direito ao nome, à previsão da obrigação de alimentos, à responsabilidade por dívidas contraídas no decurso da relação, ao regime de bens, ao poder paternal, à dissolução da relação em vida e aos direitos sucessórios, assim como nas matérias relativas ao direito de residência e aquisição da nacionalidade, à segurança social e direitos laborais, entre outros.
A Alemanha também não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo adoptado o regime da união registada, mediante a Lebenspartnerschaftgesetz (LPartG), de 16 de Fevereiro de 2001, aberta apenas a uniões entre duas pessoas do mesmo sexo e coincidindo em larga medida com as soluções do «modelo escandinavo». É de salientar que a LPartG foi submetida a apreciação de constitucionalidade, por violação do artigo 6, § 1, da Lei Fundamental, que garante o direito de constituir família e contrair casamento, assim como uma possível violação do princípio da igualdade. O Tribunal Constitucional Federal, em decisão datada de 17 de Julho de 2002, pronunciou-se pela não inconstitucionalidade da lei, como adiante se dará nota mais desenvolvida.
Também o Reino Unido consagrou no seu ordenamento a figura da união registada, por força da aprovação do Civil Partnership Act, de 17 de Novembro de 2004. Devido às semelhanças que apresenta com o regime do casamento já se afirmou tratar-se de «marriage in almost but the name», enquanto outrem disse não haver «legal difference between a civil partnership and marriage», embora outra fonte, questionada sobre a natureza da «civil partnership», tenha enfatizado que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma «contradiction in terms» (as declarações e os seus autores podem ser conferidos em Stephen Cretney, Same Sex Relationships: From ‘Odious Crime’ to ‘Gay Marriage’, págs. 16 e 19).
A Suíça, com a lei – Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) – aprovada em 18 de Junho de 2004 pelas duas Câmaras do Parlamento Federal, ratificada em referendo nacional no dia 5 de Junho de 2005, e em vigor desde 1 de Janeiro de 2007, criou um estatuto próprio para as uniões entre pessoas do mesmo sexo.
A França adoptou o Pacte Civil de Solidarité (PACS) – Lei n.º 99-944, de 15 de Novembro – contrato cuja disciplina se encontra fundamentalmente regulada no Título XII do Livro I do Code civil, artigos 515-1 a 515-7. O regime assenta em regras próprias, de natureza contratual, que visam estabelecer uma «comunhão de vida à margem do casamento», abrangendo uniões homossexuais e uniões heterossexuais (cfr., artigo 515-1). O PACS pretende conferir aos parceiros um estatuto que, sem se confundir com o do casamento, visa assegurar alguns dos direitos decorrentes da união matrimonial. Para que tenha efeitos jurídicos e seja oponível a terceiros, as partes devem declarar na secretaria do tribunal d’instance do local de residência comum a sua vontade de celebrar o PACS, procedendo o funcionário ao respectivo registo.
13.2. Casamento entre pessoas do mesmo sexo
A Holanda foi o primeiro país a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por força da Lei de 21 de Dezembro de 2000, que entrou em vigor no dia 1 de Abril de 2001, passando o respectivo Código Civil a estabelecer que «o casamento pode ser celebrado por duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo». A mudança foi justificada, na proposta de lei, com base no princípio da igualdade de tratamento – o casamento é um símbolo com especial significado, constituindo uma forma fundamental de comprometimento entre duas pessoas.
A Bélgica, que incluía já no seu ordenamento a figura da «cohabitation légale», abriu as portas ao casamento de pessoas do mesmo sexo com a Lei de 13 de Fevereiro de 2003. O novo artigo 143, alínea 1, do Código Civil determina o seguinte: «Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage». As normas relativas às condições de fundo, forma, dissolução, direitos e obrigações passaram a aplicar-se a todos os casamentos, independentemente do sexo dos cônjuges. Na exposição de motivos que acompanhou a proposta de lei enviada à Câmara dos Deputados, o Governo entendeu não haver justificação suficiente para vedar a parceiros homossexuais o acesso a um instituto que carrega consigo todo um simbolismo que se reflecte necessariamente na atribuição de um conjunto de direitos e deveres e num reconhecimento social que não se compadece com a exclusão de um determinado grupo.
No caso de Espanha, a admissibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo resulta da Lei n.º 13/2005, de 1 de Julho, que modificou o Código Civil em matéria do direito a contrair matrimónio, consagrando o princípio de que o casamento exige os mesmos requisitos e produz os mesmos efeitos, sejam os contraentes do mesmo sexo, sejam de sexo diferente.
Finalmente, importa ainda referir que, em 2009, a Noruega e a Suécia, cujo direito reconhecia a união civil registada, passaram a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
[Para uma consulta mais detalhada dos regimes adoptados pelos países europeus nesta matéria, com referência a locais de publicação e consulta, cfr., Duarte Santos, ob. cit. págs. 123-176, e ainda, “Casamento e Outras Formas de Vida em Comum entre Pessoas do mesmo Sexo”, Relatório elaborado pela Divisão de Informação Legislativa da Assembleia da República em Maio de 2007, in Julgar, n.º 4, 2008, págs. 223 e seguintes].
14. Noutros sistemas jurídicos o impulso para a institucionalização das uniões entre pessoas do mesmo sexo foi protagonizado por decisões judiciais. Foi o que sucedeu nos Estados Unidos da América, Canadá e África do Sul, como foi objecto de referência mais detalhada no acórdão n.º 359/2009.
Da jurisprudência dos tribunais dos Estados Unidos da América, país em que compete aos Estados definir os requisitos do casamento, parece oportuno destacar, pela argumentação mobilizada, as seguintes decisões:
O Supremo Tribunal do Hawai, logo em 1993 (caso Baher v. Levin), considerou que a Constituição do Estado apenas permitiria a restrição do casamento aos casais heterossexuais se o Estado pudesse demonstrar interesses relevantes justificando a exclusão dos homossexuais (compelling interest). Todavia, a constituição estadual foi revista, permitindo ao legislador ordinário reservar o casamento aos casais de sexo diferente (opposite-sex couple).
Posteriormente, o Supremo Tribunal do Vermont, numa decisão de 1999 (cfr., Baker v. State, de 20 de Dezembro de 1999) considerou que o princípio da igualdade proibia a exclusão de homossexuais dos benefícios e protecções associadas ao matrimónio, sustentando também que as disposições legais sobre o casamento se manteriam em vigor durante um período razoável de tempo, de modo a permitir que o poder legislativo adoptasse um regime adequado. Nesta sequência, foi adoptado um acto legislativo consagrando uma união civil que assegura a casais do mesmo sexo a mesma protecção que o casamento atribui a casais de sexo diverso.
Num plano diferente coloca-se a decisão do Supremo Tribunal do Estado do Massachusetts de 2003, sustentando que as garantias da igualdade e da liberdade protegidas pela constituição estadual tornam inconstitucional o casamento apenas entre homem e mulher, porque não existe uma «base racional» para o manter. Na opinião da maioria, alcançada por quatro dos setes juízes que a votaram, afirma-se o seguinte: «O casamento é uma instituição social vital. O compromisso exclusivo de dois indivíduos entre si nutre o amor e o apoio mútuo; traz estabilidade à nossa sociedade. Para aqueles que escolhem casar, e para os seus filhos, o casamento propicia abundantes benefícios jurídicos, financeiros e sociais. Em troca, impõe pesadas obrigações jurídicas, financeiras e sociais. A questão que temos perante nós é a de saber se, em termos consistentes com a Constituição do Massachusetts, a Comunidade pode negar as protecções, benefícios e obrigações conferidos pelo casamento civil a dois indivíduos do mesmo sexo que pretendam casar. Concluímos que não pode. A Constituição do Massachusetts afirma a dignidade e igualdade de todos os indivíduos. Proíbe a criação de cidadãos de segunda classe. Para chegar a esta conclusão tomámos em plena consideração os argumentos avançados pela Comunidade. Mas esta falhou quanto a identificar qualquer razão constitucionalmente adequada para negar o casamento civil aos casais homossexuais».
Mais recentemente, o Supremo Tribunal da Califórnia, nos casos In re Marriage, decididos em 15 de Maio de 2008, uma vez mais por uma maioria tangencial, veio reconhecer, pela segunda vez nos Estados Unidos da América (depois da decisão no caso Goodridge), o direito constitucional dos homossexuais a casar. A questão que o Supremo Tribunal da Califórnia foi chamado a decidir, num Estado em que aos homossexuais são assegurados, através de um contrato de união entre pessoas do mesmo sexo designado «domestic partnership», essencialmente os mesmos direitos que o casamento proporciona aos heterossexuais, consiste em saber se «nestas circunstâncias, a não designação da relação oficial de um casal homossexual como casamento viola a Constituição da Califórnia». Para responder a esta questão o Tribunal apoia-se, por um lado, «na transformação fundamental e dramática na compreensão e tratamento jurídico dos indivíduos e casais homossexuais por parte deste Estado. A Califórnia repudiou as práticas e políticas do passado baseadas numa perspectiva comum que denegria o carácter geral e a moral dos indivíduos homossexuais e com base nas quais em dado momento se chegou a caracterizar a homossexualidade como uma doença, em vez de muito simplesmente uma das diversas variáveis da nossa comum e diversa humanidade». Actualmente, pelo contrário, reconhece-se que os indivíduos homossexuais têm «os mesmos direitos legais e o mesmo respeito e dignidade atribuídos a todos os outros indivíduos e são protegidos de discriminação na base da sua orientação sexual e, mais especificamente, reconhece[-se] que os indivíduos homossexuais são totalmente capazes de entrar numa relação comprometida e duradoura fundada no amor que pode servir como base de uma família e de tratar e educar responsavelmente crianças».
Deve, todavia, notar-se que através de consulta popular, realizada em 4 de Novembro de 2008, foi aprovada a “Proposition 8” que introduziu uma emenda à Constituição do Estado da Califórnia no sentido de consagrar o carácter heterossexual do casamento.
E deve salientar-se que, se houve Estados que aprovaram legislação que estende o casamento civil às uniões entre duas pessoas do mesmo sexo, também se verificou uma reacção política adversa ao sentido desta corrente jurisprudencial, seja a nível federal, logo em 1996, com o Defense of Marriage Act (DOMA), através do qual se pretendeu afirmar a natureza heterossexual do casamento e garantir aos Estados a liberdade de regulação do matrimónio, seja através da alteração das próprias Constituições em diversos Estados, por forma a proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo bem como o reconhecimento de casamentos desse tipo permitidos noutros Estados (cfr., DUARTE SANTOS, ob. cit., págs. 187-201).
No Canadá, o Governo colocou perante o Supremo Tribunal a questão da extensão do casamento civil a pessoas do mesmo sexo, na sequência de decisões de tribunais provinciais. Através da decisão Reference re Same-Sex Marriage, de 9 de Dezembro de 2004, o Supremo Tribunal do Canadá considerou que a extensão do direito ao casamento civil às pessoas do mesmo sexo não só era consistente com a Secção 15 da Carta de Direitos e Liberdades, mas dela resultava directamente. Referindo-se ao caso Hyde v. Hyde, de 1866, segundo o qual o «casamento, como compreendido na Cristandade, pode para este efeito ser definido como a união voluntária para a vida de um homem e uma mulher, com a exclusão de todos os outros», o Tribunal afirmou: «A referência à “Cristandade” é reveladora. Hyde dirigia-se a uma sociedade de valores sociais partilhados em que se pensava que o casamento e a religião eram inseparáveis. Este já não é o caso. O Canadá é uma sociedade pluralista. O casamento, na perspectiva do Estado, é uma instituição civil. O raciocínio dos “conceitos petrificados” é contrário a um dos mais fundamentais princípios da interpretação constitucional canadiana: aquele segundo o qual a nossa Constituição é uma árvore viva que, através de uma interpretação progressiva, acomoda e se dirige às realidades da vida moderna».
Na sequência veio a ser aprovado o Civil Marriage Act, de 20 Julho de 2005, que reformulou a definição do casamento civil, que passou a ser «a união legítima de duas pessoas com a exclusão de quaisquer outras».
15. Entre as jurisdições congéneres, merecem destaque a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão de 17 de Julho de 2002, relativa à constitucionalidade da Lebenspartnerschaftgesetz e o acórdão n.º 159/2004 da Cour d’arbitrage da Bélgica, de 20 de Outubro de 2004, relativa à constitucionalidade da Lei de 13 de Fevereiro de 2003, permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Segundo a sentença do Tribunal Constitucional Alemão, «a Lei Fundamental não contém em si mesma nenhuma definição do casamento, mas pressupõe-no enquanto forma especial de vida humana em comum. A realização da protecção jurídico-constitucional necessita, nessa medida, de um regime jurídico que conforme e delimite a comunhão de vida que goza da protecção da Constituição enquanto casamento. O legislador tem uma considerável margem de configuração quanto a determinar a forma e o conteúdo do casamento (…). A Lei Fundamental não garante o instituto do casamento em abstracto, mas na configuração que lhe corresponde na visão dominante que obteve expressão no regime legal (…). De todo o modo, deve o legislador ter em consideração, ao configurar o casamento, os princípios estruturais que resultam, a partir do artigo 6.º, n.º 1, da Lei Fundamental [de acordo com o qual «o casamento e a família encontram-se sob a especial protecção da ordem do Estado»], na forma de vida encontrada em conexão com o carácter de liberdade dos direitos fundamentais garantidos e outras normas constitucionais (…). Faz parte da substância do casamento, tal como este é protegido, independentemente da evolução social e das transformações daí advenientes, e foi cunhado na Lei Fundamental, a sua definição como a união entre um homem e uma mulher numa comunhão de vida duradoura, fundada numa livre decisão com a colaboração do Estado (…), em que ao homem e à mulher pertencem os mesmos direitos e em que podem decidir livremente sobre a conformação da sua vida em comum» (§ 87). Ao mesmo tempo, afirma-se na decisão que da especial protecção atribuída ao casamento pela Constituição não se pode inferir que o casamento seja sempre de proteger em maior medida que outras formas de vida em comum (§ 99).
Quanto à violação do princípio da igualdade, pela circunstância de as pessoas homossexuais apenas poderem aceder às parcerias de vida, permanecendo o casamento destinado aos heterossexuais, conclui não haver uma violação deste princípio, por a lei, ao prever uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, «não associa direitos e obrigações ao sexo de uma pessoa, mas antes associa à combinação de sexos uma ligação pessoal que lhe concede o acesso à parceria de vida. É às pessoas assim unidas que a lei atribui direitos e deveres. Tal como o casamento, com a sua limitação a pessoas de sexo diferente, não discrimina os casais homossexuais em razão da sua orientação sexual, também as uniões homossexuais não discriminam os casais heterossexuais em razão da sua orientação. Mulheres e homens podem casar com uma pessoa de sexo diferente, mas não com uma pessoa do mesmo sexo; qualquer um pode entrar numa união civil com uma pessoa do mesmo sexo, mas não com uma pessoa de sexo diferente» (cfr., § 106).
Para o Tribunal alemão, a diferença que permite distinguir deste modo as pessoas homossexuais e as heterossexuais, quanto aos vínculos jurídicos que queiram dar às comunhões de vida entre si, é a seguinte: «A diferença, consistente em de uma relação de um homem e de uma mulher unidos por muito tempo poderem resultar filhos em comum, o que não pode acontecer numa união de pessoas do mesmo sexo, justifica que os pares de pessoas de sexo diferente sejam remetidos para o casamento, quando queiram dar à sua comunhão de vida um vínculo jurídico duradouro» (cfr., § 109).
A Cour d’arbitrage pronunciou-se sobre a Lei de 13 de Fevereiro de 2003, que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Considerou a sentença que à luz da concepção de casamento como criação de uma comunidade de vida duradoura entre duas pessoas “a diferença entre, por um lado, as pessoas que desejam formar uma comunidade de vida com a pessoa de outro sexo e, por outro, as pessoas que desejam formar tal comunidade com uma pessoa do mesmo sexo não é de molde a fazer excluir para estas últimas a possibilidade de se casarem” (fundamento B.4.7). Mais entendeu que as disposições convencionais invocadas pelo requerente, nomeadamente o artigo 12.º da CEDH e o artigo 23.º do Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos não podem ser interpretados no sentido de que obrigam os Estados contratantes a considerar “a dualidade sexual fundamental do género humano” como um fundamento da sua ordem constitucional (fundamento B.5.8), não podendo ser interpretadas “no sentido de impedirem os Estados que são parte nas referidas Convenções de atribuir o direito garantido por essas disposições às pessoas que desejem exercer esse direito com pessoas do mesmo sexo” (fundamento B.6.4). Mais considerou a Cour d’arbitrage não se aperceberem razões para que a protecção relativa à família possa considerar-se “enfraquecida pelas disposições atacadas, desde logo porque a lei em causa não introduz nenhuma modificação material às disposições legais que regem os efeitos do casamento civil de pessoas de sexo diferente” (fundamento B.6.6).
Importa, finalmente, referir que a questão de constitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo está pendente nos Tribunais Constitucionais de Espanha e de Itália. No primeiro, versando sobre a lei que veio permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo; no segundo, como questão relativa à não admissão desse casamento.
16. Em Portugal, as situações de “união de facto” entre pessoas do mesmo sexo receberam reconhecimento e tutela legal com a Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, cuja finalidade foi a de equiparar a união de facto homossexual à união de facto heterossexual. Revogando a Lei n.º 135/99, de 28 de Agosto, que definia a união de facto como “a situação jurídica das pessoas de sexo diferente que vivem em união de facto há mais de dois anos”, a Lei n.º 7/2001 tornou a protecção jurídica conferida às pessoas que vivam em união de facto há mais de dois anos independente do sexo das pessoas em causa. A Lei n.º 7/2001 confere às pessoas em união de facto, independentemente da identidade ou diversidade de sexo, direitos no que respeita à casa de morada comum, relações laborais no sector público e privado, imposto sobre o rendimento, segurança social, protecção em caso de acidente de trabalho e pensões por serviços excepcionais e relevantes prestados ao País (artigos 3.º, 4.º e 5.º).
Há, todavia, duas importantes diferenças a assinalar. A primeira é que às pessoas de sexo diferente que vivam em união de facto se estendeu o direito de adopção em condições análogas às previstas para os cônjuges no Código Civil; os membros da união de facto entre pessoas do mesmo sexo ficaram excluídos. A segunda consiste em que os membros da união de facto homossexual não podem recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida (artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho).
Aliás, outras normas conferem direitos ou estabelecem consequências jurídicas em decorrência de situações de união de facto, não distinguindo em função da identidade ou diversidade de sexo e, portanto, abrangendo os casais homossexuais. Podem destacar-se, sem preocupação de exaustão: o n.º 3 do artigo 3.º da Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, na redacção da Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril); os n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto, relativa ao exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias no território nacional; artigo 100.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional; a alínea h) do artigo 2.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, relativa às condições e procedimentos de concessão de asilo ou protecção subsidiária.
Particular destaque, porque revelador da importância comunitária das formas de vida em comum entre pessoas do mesmo sexo ao ponto de se lhes estender o instrumento último de protecção de bens jurídicos que é o direito penal, merecem as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal que passaram a incluir a perífrase “pessoa de outro ou do mesmo sexo” para conferir relevância penal a essas situações de vida a par da tutela da situação dos cônjuges ou ex-cônjuges. É o que sucede, designadamente, nos artigos 68.º, n.º 1, alínea c), 134.º, n.º 1, alínea b) e 159.º, n.º 7, do Código de Processo Penal e nos artigos 113.º, n.º 2, alínea a), 132.º, n.º 2, alínea b), 152.º, n.º 1, alínea b), 154.º, n.º 4, 364.º, alínea b) e 367.º, n.º 5, alínea b) do Código Penal.
17. O Decreto n.º 9/XI da Assembleia da República resultou da aprovação da Proposta de Lei n.º 7/XI (Diário da Assembleia da República, II série A, n.º 18XI/1, de 22/12/2009) apresentada pelo Governo com o objectivo de “remover as barreiras jurídicas à realização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo”. Na “exposição de motivos” afirma-se o propósito de ” acima de tudo, pôr fim a uma velha discriminação, longa e aprofundadamente debatida na sociedade portuguesa […] sem dúvida causadora de exclusão e sofrimento para muitas pessoas – e que a evolução da consciência social torna hoje não apenas desnecessária mas verdadeiramente inaceitável”. E invoca-se a jurisprudência do acórdão n.º 359/2009 como significando que a Constituição, “no conjunto dos seus princípios e disposições relevantes, fornece um enquadramento jurídico-constitucional aberto quanto à liberdade de conformação do legislador em matéria de casamento entre pessoas do mesmo sexo”.
Incidindo sobre as mesmas disposições do Código Civil e com o mesmo objectivo essencial de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram também apresentados os Projectos de Lei n.º 14/XI e n.º 24/XI, pelo Grupo Parlamentar do “Bloco de Esquerda” e de “Os Verdes”, respectivamente.
Foi ainda apresentado o Projecto de Lei n.º 119/XI pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pretendendo conferir protecção jurídica às pessoas do mesmo sexo que vivam em condições análogas às dos cônjuges mediante a criação de uma nova figura jurídica que seria a “união civil registada”, exclusivamente acessível a pessoas do mesmo sexo, que permitisse a salvaguarda de parte da protecção conferida pelo regime jurídico do casamento (cfr., o Parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e “notas técnicas” in Diário da Assembleia da República, II série A, n.º 23/XI, de 9/1/2010).
Estas iniciativas legislativas não obtiveram aprovação (Diário da Assembleia da República, II série A, n.º 20/XI, de 9/1/2010).
Isto posto, passemos à directa apreciação do pedido.
18. Funda-se o pedido em que a eliminação do inciso “duas pessoas de sexo diferente” no artigo 1577.º do Código Civil, substituindo-o pela expressão “duas pessoas”, se mostra desconforme ao conceito constitucional de casamento e, reflexamente, ao conceito constitucional de família, acolhido pelo n.º 1 do artigo 36.º da Constituição.
Diz o artigo 36.º da Constituição:
“Artigo 36º
(Família, casamento e filiação)
1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade.
2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos.
4. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de qualquer discriminação e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas à filiação.
5. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos.
6. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial.
7. A adopção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve estabelecer formas céleres para a respectiva tramitação.”
São de quatro ordens os direitos relativos à família, ao casamento e à filiação que neste artigo se reconhecem e garantem: a) direito a constituir família e a contrair casamento (n.ºs 1 e 2); b) direitos dos cônjuges no âmbito familiar e extra-familiar (n.º 3); c) direitos e deveres dos pais em relação aos filhos (n.ºs 5 e 6); d) direitos dos filhos (nºs 4 e 5 – 2ª parte).
Embora o pedido se centre na violação do n.º 1, o n.º 2 do artigo 36.º é também directa e especialmente relevante para a questão posta. Com efeito, se o n.º 1 tem a estrutura típica de um direito fundamental (Todos têm o direito a ….), o n.º 2 remete para a lei a regulação dos requisitos e dos efeitos do casamento. Estes dois preceitos formam um todo incindível quando se trata de perguntar se foi violada, pelos termos desse exercício do poder legislativo que incidiu sobre um dos requisitos do casamento, a garantia institucional do casamento e, reflexamente, da família.
Na verdade, a opção normativa sujeita a fiscalização de constitucionalidade não tem por efeito denegar a qualquer pessoa ou restringir o direito fundamental a contrair (ou a não contrair) casamento. O que pode estar em causa é a não preservação do núcleo essencial da instituição matrimonial tal como deva considerar-se que a Constituição a impõe, mediante a subtracção de um elemento do conceito (a diversidade de sexos) que corresponde a um pressuposto de facto da sociedade conjugal como o ordenamento jurídico tradicionalmente a concebe.
A redacção dos n.ºs 1 e 2 do artigo 36.º permanece inalterada desde o texto originário da Constituição (o n.º 5 foi alterado na Revisão Constitucional de 1989 e o n.º 7, introduzido na Revisão Constitucional de 1982, foi alterado na Revisão Constitucional de 1997, com acrescentamentos que de nenhum modo influem na análise da questão agora em apreciação). No momento histórico em que a Constituição foi escrita e começou a vigorar, entregando a disciplina dos “requisitos” e “efeitos” do casamento ao legislador ordinário, o Código Civil já dispunha, no seu artigo 1577.º, que o “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente”. Este preceito sofreu ligeiras alterações, que não vêm ao caso, através do Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro, diploma que, aliás, foi aprovado com o declarado propósito de “compatibilizar” o Código Civil com a Constituição.
Não é possível deixar de atribuir relevância interpretativa a esta circunstância, não porque o sentido da Constituição deva determinar-se de acordo com o direito ordinário, mas porque, fazendo o texto constitucional presa na realidade social e no contexto jurídico em que emergiu, o casamento era então o que desde há séculos – e, seguramente, para nos limitarmos no tempo à fase de secularização do casamento, a partir das codificações oitocentistas – tem sido nos sistemas jurídicos que se inserem no mesmo espaço cultural do nosso: um acordo entre um homem e uma mulher, feito segundo as determinações da lei e dirigido ao estabelecimento de uma plena comunhão de vida entre eles. Efectivamente, as tensões que ao tempo da elaboração e aprovação da Constituição incidiam sobre a instituição matrimonial respeitavam a outros aspectos do casamento e da família: a dissolubilidade por divórcio, a igualdade dos cônjuges no seio da sociedade conjugal, os efeitos patrimoniais e pessoais, a eliminação da distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. A pretensão de admissibilidade do casamento com identidade de género entre os cônjuges é fenómeno que ainda não assumia expressão no espaço público, nem em Portugal nem, com expressão significativa, noutros países. No que respeita à homossexualidade, o que então se considerava desfasamento entre a realidade social e o enquadramento jurídico eram os aspectos repressivos (ex. punição ou agravamento da punição no domínio dos actos sexuais com pessoa do mesmo sexo), não a omissão de tutela para uniões estáveis desse tipo. Tardou mais de uma década até que a progressiva integração dos homossexuais na sociedade provocasse um “deslizamento” de posições de contestação ao sistema para pretensões “conservadoras” de tomar parte nas instituições, designadamente no matrimónio, como reconhecimento público da orientação sexual em termos de estrita igualdade com os heterossexuais (cfr., Javier Seonae Prado, Matrimónio, Familia Y Constitución in Matrimónio y Adopción por Personas del Mismo Sexo Cuadernos de Derecho Judicial XXVI).
Mas esta mesma evidência arrasta outra. Se pode, sem hesitação, dizer-se que o casamento que a Constituição representou foi o casamento entre duas pessoas de sexo diferente, também pode seguramente concluir-se que não houve qualquer opção deliberada na matéria que agora nos ocupa no sentido de proibir a evolução da instituição matrimonial. O problema era político-juridicamente desconhecido, pelo que o elemento histórico deve ser mobilizado com cautelas ainda maiores do que aquelas que geralmente já merece na interpretação do texto constitucional.
E o certo é que a Constituição remete para o legislador, além da determinação dos “efeitos”, a fixação dos “requisitos” do casamento (n.º 2 do artigo 36.º), poder este que não pode ser lido como restrito aos aspectos de mera regulação formal, pelo que importa saber se, independentemente do que era o casamento no contexto social e jurídico em que a norma do n.º 1 do artigo 36.º foi elaborada, a inovação legislativa em análise, procurando responder ao que o legislador entendeu constituir pretensão legítima de reconhecimento e tutela perante novas necessidades sociais a que, como se referiu, já vêm sendo conferidas outras formas de acolhimento jurídico, é de molde a infringir a garantia institucional do casamento.
Efectivamente, pode considerar-se que o casamento está coberto pela chamada “garantia de instituto”. Simultaneamente com o reconhecimento de direitos individuais, o artigo 36.º reconhece e garante também a família e o casamento como instituições em si mesmas, sendo repositório “de típicas garantias institucionais, que por isso não podem ser legalmente suprimidas ou desqualificadas” (Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., pág. 561). E o Tribunal já o reconheceu, designadamente no acórdão n.º 590/2004, em que se disse:
«Quanto ao direito a casar, pode dizer-se que este comporta duas dimensões. Por um lado, consagra um direito fundamental, por outro, é uma verdadeira norma de garantia institucional. Como explicam Pereira Coelho e Guilherme Oliveira (Curso de Direito da Família, Vol. I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2001, pág. 137):
“Merece referência (…) a questão de saber se o artigo 36º, nº 1, 2ª parte, concede apenas um direito fundamental a contrair casamento ou, mais do que isso, é uma norma de garantia institucional. Embora a Constituição não formule de modo explícito um princípio de “protecção do casamento” (só a família é protegida no artigo 67º), temos entendido que a instituição do casamento está constitucionalmente garantida, pois não faria sentido que a Constituição concedesse o direito a contrair casamento e, ao mesmo tempo, permitisse ao legislador suprimir a instituição ou desfigurar o seu ‘núcleo essencial’.”»
Como diz Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 4.ª ed., págs. 135-137, “a Constituição é, designadamente em domínios básicos da vida social um newcomer que toma a liderança de um universo jurídico onde encontra complexos normativos, por vezes com milhares de anos, alguns dos quais têm uma lógica de sistema baseada nas ideias de auto-responsabilidade e de autodesenvolvimento pessoal. Aí a Constituição pode optar por reconhecer e garantir, nos seus lineamentos essenciais, esses complexos normativos de direito ordinário, sem prejuízo de os redefinir e cunhar a nível constitucional. É o que se passa com o reconhecimento da autonomia privada, em diversas manifestações, individuais ou familiares, como a liberdade contratual, a propriedade, a herança, o casamento, a família, a filiação, a responsabilidade familiar pela manutenção e educação dos filhos e a adopção”. E, como adverte o mesmo Autor, deve entender-se que as garantias institucionais se referem ao complexo jurídico-normativo e não à realidade social em si, de modo que é com esse alcance que vinculam o legislador, “admitindo um espaço, maior ou menor, de liberdade de conformação legal, mas proibindo-lhe sempre a destruição ou a desfiguração da instituição (do seu núcleo essencial)”.
19. Impõe-se, todavia, um prévio esclarecimento sobre o que pode significar, naqueles domínios onde a Constituição consagra posições jurídicas subjectivas individuais, como é o caso do direito fundamental ao casamento no n.º 1 do artigo 36.º, a vinculação constitucional do legislador a conservar o núcleo essencial do complexo jurídico de direito privado através do qual o direito fundamental se concretiza: a chamada garantia de instituto, i.e. do complexo de normas e de relações jurídicas unitariamente estruturadas e sedimentadas na ordem jurídica infra-constitucional ao longo de um certo processo de desenvolvimento histórico.
Efectivamente, é só nesta modalidade que pode fazer sentido a invocação de garantia institucional que perpassa no pedido. Na verdade, o que a Constituição directamente elege como objecto de protecção enquanto “elemento fundamental da sociedade” é a família e não o casamento (lato sensu, a instituição matrimonial) que é somente um dos modos de constituí-la (artigo 67.º). Como diz Rui Medeiros (Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, pág. 689), enquanto “no artigo 36.º avulta, sobretudo, quer a dimensão individual-subjectiva dos direitos dos membros da família, incluindo, desde logo, o próprio direito de constituir família e de contrair casamento, quer, no que respeita à família como um todo, a dimensão de liberdade, o artigo 67.º, se bem que sem perder de vista o objectivo da realização pessoal dos seus membros, tutela fundamentalmente a própria família como instituição e impõe, em particular, ao Estado o dever de a proteger positivamente”.
O conceito de garantia de instituto (modalidade da figura mais geral da garantia institucional em sentido amplo, que abrange também as garantias institucionais jurídico-públicas que podem exigir enfoque diverso e que aqui não importa considerar) foi forjado na doutrina germânica, num quadro constitucional (Constituição de Weimar) que desconhecia mecanismos efectivos de vinculação do legislador à Constituição e de aplicabilidade directa dos direitos fundamentais, em ordem a salvaguardar determinados sectores da ordem infra-constitucional contra a acção do legislador ordinário. Na medida em que se proibia o legislador de alterar o que fosse típico de um determinado instituto de direito privado, garantia-se aos direitos fundamentais a correspondente protecção efectiva. Por efeito da evolução do sistema constitucional de protecção dos direitos fundamentais, da subordinação de todos os poderes do Estado à Constituição, da directa aplicação e vinculação das entidades públicas e privadas pelos preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias e pela instituição de mecanismos judiciários de garantia de constitucionalidade, a construção perdeu essa sua função histórica e não pode manter-se com o mesmo sentido.
O direito fundamental ao casamento compreende, além da liberdade individual de casar ou não casar, a exigência de que para o efeito o Estado organize procedimentos e mantenha estruturas oficiais (o procedimento preliminar, a celebração, o registo público), mas ainda – como os demais direitos fundamentais que se analisem em pretensões a estatutos – o de que a ordem jurídica comporte normas reguladoras da constituição e extinção da situação jurídica correspondente e dos seus efeitos pessoais e patrimoniais. Trata-se de um direito subjectivo público que pressupõe conceptualmente a existência do correspondente instituto jurídico de direito privado, cuja preexistência fornece elementos de interpretação do âmbito normativo objectivo da norma constitucional consagradora do direito fundamental. É, efectivamente, possível conceber os direitos fundamentais como apresentando ou comportando um “lado” jurídico individual, enquanto garantem aos seus titulares um direito subjectivo público, e um “lado” institucional objectivo, enquanto garantias constitucionais de âmbitos de vida juridicamente ordenados e conformados.
Mas não pode, a partir do pensamento institucionalístico, inverter-se o sentido da garantia, impondo a conservação do instituto, tal como ele existe, contra acções do legislador que não colidam com a determinação de sentido do direito fundamental em causa no quadro axiológico do sistema de direitos fundamentais. O que, aplicado à opção legislativa submetida a fiscalização, significa verificar se os fins ou bens jurídicos individuais e comunitários a que o direito fundamental ao casamento deva considerar-se constitucionalmente adscrito, no quadro de um sistema de direitos fundamentais axialmente centrado na dignidade da pessoa humana (artigo 1.º da Constituição), sofrem compressão do seu núcleo essencial de realização.
20. No pedido – e no parecer em que este se apoia –, reconhecendo-se a liberdade de conformação outorgada ao legislador pelo n.º 2 do artigo 36.º da Constituição, sustenta-se que a alteração legislativa em causa não respeitou esses limites, violando o conceito de casamento operante no n.º 1 do mesmo artigo 36.º, em síntese, por razões de duas ordens:
I – Pela sua origem histórica e numa interpretação sistemática, o conceito constitucional de casamento, concatenado com a sua ligação ao conceito de família e de filiação, aponta inequivocamente para o casamento como união entre duas pessoas de sexo diferente;
II – O conceito de casamento deve ser interpretado, por imposição do n.º 2 do artigo 16.º da Constituição, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH). E, nesta, o casamento que se prevê e protege e de que, por força daquela norma constitucional, resulta um conceito vinculativo para Portugal, é o casamento entre um homem e uma mulher.
21. Comecemos por esta última linha de argumentação.
A DUDH estabelece no seu n.º 1 do artigo 16.º que “a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família”. Sendo esta referência ao género dos titulares do direito caso isolado na DUDH (“Todos os seres humanos” – artigo 1.º e 2º – “Todo(s) o(s) indivíduo(s)” – artigos 3.º, 6.º, 15.º e 19.º; “Todos” – artigos 7.º, 23.º e 27.º; “Toda a pessoa” – artigos 8.º, 10.º, 11.º, 13.º, 14.º, 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º; “Ninguém” – artigos 4.º, 5.º, 9.º, 11.º, 12.º, 17.º, 20.º) é razoável concluir que o conceito de casamento objecto de protecção por este texto de direito internacional respeita à união entre um homem e uma mulher (neste sentido a interpretou a sentença do Tribunal Constitucional da África do Sul no caso Minister of Home Affairs v. Fourie, embora salientando que é “descritiva de uma realidade assumida, mais do que prescritiva de uma estrutura normativa para todos os tempos”).
Admitida esta interpretação da DUDH e dispondo a Constituição, no n.º 2 do artigo 16.º, que «os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem», sustenta-se que o n.º 1 do artigo 36.º teria de ser interpretado como, do mesmo passo em que consagra o direito ao casamento entre indivíduos de sexo diferente, proibindo a extensão do casamento a pessoas do mesmo sexo.
Vejamos se assim é porque a questão de constitucionalidade poderia dar-se por resolvida, se essa fosse a interpretação imperativa do texto constitucional.
Enunciando um princípio de interpretação conforme à Declaração Universal dos Direitos do Homem, o alcance útil do n.º 2 do artigo 16.º da Constituição é o de permitir recorrer à Declaração Universal para fixar o sentido de uma norma constitucional de direitos fundamentais a que não possa atribuir-se um significado unívoco, ou para densificar conceitos constitucionais indeterminados referentes a direitos fundamentais (Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., págs. 367-368; Vieira de Andrade, ob. cit., pág. 45). Aceita-se, pois, que o artigo 16.º, n.º 2, da Constituição eleva a DUDH ao estatuto de critério de interpretação e de integração das regras legais e mesmo constitucionais em matéria de direitos fundamentais. Além da recepção da Declaração Universal dos Direitos do Homem na ordem jurídica interna, constata-se pois que se reconhece a este instrumento um lugar especial, quase supra-constitucional, a partir do momento em que o concebemos como elemento de referência para a interpretação das próprias regras constitucionais (Rui Moura Ramos, L’ Intégration du droit international et communautaire dans l’ ordre juridique national, in «Da Comunidade Internacional e do seu Direito», Coimbra, 1996, pág. 254).
Mas, sendo certas, quer a interpretação do n.º 1 do artigo 16.º da DUDH, quer a existência do princípio da interpretação da Constituição em conformidade com esse instrumento de direito internacional de que o pedido se socorre, há um equívoco na invocação do argumento. O sentido da norma que confere esse relevo à DUDH é o de alargar a cobertura constitucional dos direitos fundamentais e não o de a restringir ou limitar, extensiva ou intensivamente. Vale por dizer que o n.º 2 do artigo 16.º da Constituição funciona apenas do “lado” jurídico-individual dos direitos fundamentais e quando não conduza a uma solução menos favorável aos direitos fundamentais do que a interpretação “endógena” da Constituição. Deve intervir aqui o princípio da preferência de aplicação das normas consagradoras de um nível de protecção mais elevado, à semelhança do que prescrevem os artigos 52.º, n.º 3 e 53.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., pág. 368).
Assim, o n.º 2 do artigo 16.º não pode operar no sentido de impedir o legislador ordinário, desde que com isso não restrinja ou limite o acesso ao casamento heterossexual por homens ou mulheres em idade núbil ou lhe diminua o conteúdo enquanto direito fundamental, de o permitir também a uma categoria de indivíduos que não têm inclinação para o relacionamento afectivo e sexual duradouro com pessoas do sexo oposto e que, consequentemente, não poderiam reclamar a protecção da DUDH para casar em conformidade com essa sua orientação sexual.
Isto posto, não encontrando na DUDH limites interpretativos cogentes quanto à extensão do direito de contrair casamento (casamento-acto) a pessoas do mesmo sexo e ao consequente ingresso no estado de casados entre si, com o estatuto emergente no âmbito das relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges e destes ou de cada um destes com terceiros (casamento-estado), devemos interrogar-nos se a solução normativa em exame colide com a garantia institucional do casamento, na dupla vertente de subjectivação da garantia por nubentes (acto) ou cônjuges (estado matrimonial) de sexo diverso e da prossecução dos valores comunitários constitucionalmente plasmados no instituto do casamento e na instituição da família. Nesta segunda vertente, tratando-se de uma afectação no plano intensivo ou de grau de realização do programa normativo constitucional, o Tribunal só poderá censurar a opção legislativa ao nível da evidência manifesta.
21. Sustenta-se, para vincular o conceito constitucional ao carácter imperativo da diversidade de sexo entre os cônjuges, que a Constituição fornece um adequado enquadramento da noção de casamento no contexto da família, que limita o intérprete no âmbito de uma interpretação actualista, mas também sistemática, cujo resultado não pode abstrair da literalidade da norma do artigo 36º. Invoca-se, para tanto, o disposto no n.º 1 do artigo 67.º, nos n.ºs 1 a 4 do artigo 68.º e no n.º 2 do artigo 71.º da Constituição. Em todos eles a referência à família se encontraria associada à filiação, cujo papel se afigura central na instituição familiar, tal como consagrada na Constituição, devendo destacar-se, pelo seu conteúdo preceptivo, a salvaguarda dessa instituição prevista no seu artigo 36.º. Resumindo, a diversidade de sexo entre os dois cônjuges seria imposta para salvaguarda dos fins ou valores constitucionais de protecção da família e da potencialidade procriativa do casamento, pelo que a diversidade de sexos integraria a estrutura nuclear da garantia que, quanto a essa instituição, da Constituição deve extrair-se.
É certo que a geração de filhos biologicamente comuns depende da diversidade de sexo. E, consequentemente, que ao matrimónio entre cônjuges do mesmo sexo, não podendo assegurar a geração de filhos comuns, não pode ser creditada a função comunitária de contributo potencial para a reprodução da sociedade.
Porém, esta potencialidade não pode ser erigida numa finalidade absolutamente essencial à garantia constitucional em causa porque não integra sequer o actual conceito de casamento heterossexual. Apesar de proposta nesse sentido do “Projecto Gomes da Silva”, inicialmente acolhida pelos “Anteprojectos” saídos da 1.ª e 2ª Revisões Ministeriais, foi abandonada na versão final do Código Civil de 1966 (vid. os excertos destes trabalhos preparatórios em “Direito da Família segundo o Código Civil de 1966”, vol. I, pág. 20, de Rodrigues Bastos). A vontade inicial e constante dos cônjuges de não terem filhos não os impede de contrair casamento e de se manterem casados. Como o não impedem ou invalidam a esterilidade ou a impotência, por si mesmas. Aliás, como lembra Pedro Múrias, “os casamentos em idades estéreis são frequentes e, pela sua relevância, têm inclusive previsão legal (cfr., artigo 1720.º, n.º 1, alínea b), do Código Civil)” (Casamento entre Pessoas do mesmo Sexo, págs. 40-41 [S]).
Não se nega que, sendo a maternidade e a paternidade valores sociais eminentes (n.º 2 do artigo 68.º da Constituição), também para efeitos do estabelecimento pelo legislador dos “requisitos” do casamento não é comunitariamente inócuo que o casamento una duas pessoas capazes de assumirem “um projecto que, embora susceptível de fracassar, é à partida dotado de uma intencionalidade que dá algumas garantias de sucesso na “reprodução social”, isto é, na actividade que possibilita a natural geração de cidadãos e a sua manutenção em actividade útil para a sociedade – não só como indivíduos de uma espécie biológica concreta, mas como cidadãos equilibrados, úteis e responsáveis” (parafraseando Rita Lobo Xavier, embora a propósito do tema mais geral de protecção da família, apud Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, pág. 690). Todavia, sem que com isto se abandone a ideia de que “não é forçoso reduzir o casamento aos seus efeitos, e a Constituição distingue claramente, no artigo 36.º, n.º 2, os requisitos e os efeitos do casamento. A conexão que é possível estabelecer, com sentido, entre casamento e procriação opera ao nível da consideração daquele como instituição social através da qual o Estado recorre ao potencial do direito para difundir determinados valores na sociedade, no caso os valores segundo os quais o casamento, por um lado, constitui um meio específico de envolver uma geração na criação da que se lhe segue …” (acórdão n.º 359/2009).
O que acaba de dizer-se pode constituir argumento para que não se entenda, no quadro axiológico da Constituição, ser constitucionalmente imperiosa a redefinição do conceito actual de casamento (hipótese da inconstitucionalidade do regime actual que agora teria sido removida). Mas, não serve para que se julgue que se desnaturou a instituição matrimonial pela inclusão na mesma categoria jurídica, a par de casamentos entre pessoas de sexo diferente, casamentos entre pessoas do mesmo sexo.
Nos domínios do casamento e da família a realidade social está em assinalável e acelerada mudança, com os reflexos jurídicos e as variadas respostas, no problema que nos ocupa, que as notas de direito internacional e comparado atrás expostas procuraram espelhar. Sobre ela só poderá haver, numa sociedade aberta e plural, uma “divergência razoável” a provocar remédios que se inserem na discricionariedade legislativa cujo resultado excede, em larga medida, quando não atinja a dimensão subjectiva dos direitos fundamentais, o domínio da controlabilidade judicial.
22. É legítimo perguntar, então, o que é constitucionalmente essencial no instituto do casamento se o não é um pressuposto cuja ausência, no actual regime jurídico infra-constitucional, gera a total improdutividade do acto (cfr., quanto à doutrina da inexistência jurídica do casamento e razões que a justificam, Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, ob. cit., 4.ª ed., pág. 300). É interrogação a que ao Tribunal só cabe responder na medida do necessário ao escrutínio da validade constitucional das normas que lhe são sujeitas, ou seja, para saber se com ele colide a alteração da estrutura subjectiva ou modal do casamento que consiste em passar a permitir-se que casem entre si duas pessoas do mesmo sexo.
Da configuração do direito a contrair casamento como direito fundamental resulta que o legislador não pode suprimir do ordenamento jurídico o casamento, enquanto instituto jurídico destinado a regular as situações de comunhão de vida entre duas pessoas, num reconhecimento da importância dessa forma básica de organização social.
Mas a Constituição não define o perfil dos elementos constitutivos do instituto a que o n.º 1 do artigo 36.º se refere, relegando no n.º 2 do mesmo preceito para o legislador a incumbência de manter a necessária conexão entre Direito e realidade social. O conceito constitucional de casamento é um conceito aberto, que admite não só diversas conformações legislativas, mas também diversas concepções políticas, éticas ou sociais, sendo confiada ao legislador ordinário a tarefa de, em cada momento histórico, apreender e verter no ordenamento aquilo que nesse momento corresponda às concepções dominantes nesta matéria (vid., neste sentido, Miguel Nogueira de Brito, em “Casamento entre Pessoas do mesmo Sexo”, págs. 58-59 [N]).
É esta mesma leitura que já se encontra na fundamentação do Acórdão n.º 359/2009, quando nele se disse que “…não se aceita o entendimento segundo o qual o casamento objecto de tutela constitucional envolve uma petrificação do casamento tal como este é hoje definido na lei civil, excluindo o reconhecimento jurídico de outras comunhões de vida entre pessoas.”
E, neste aspecto, a Constituição portuguesa é mais favorável à intervenção do legislador no sentido agora questionado do que outras congéneres, na medida em que coloca a essa interpretação menos obstáculos textuais. Quer porque no n.º 1 do artigo 36.º se designa a titularidade do direito mediante a palavra “Todos” e não pela expressão “O homem e a mulher” que é geralmente invocada, perante outros textos constitucionais ou de direitos fundamentais como argumento a favor da heterossexualidade necessária do casamento. Quer, sobretudo, pela expressa previsão do n.º 2 do mesmo artigo 36.º que já levou a que se escrevesse (Nicola Pignatelli, “I livelli europei di tutela delle copie omosessuali tra “istituzione” matrimoniale e “funzione” familiare”, Rivista di Diritto Costituzionale, 2005, pág. 281):
“In realtà neppure negli altri Stati europei, in cui non vi è stata un’apertura del matrimonio, le Costituzioni definiscono i profili costitutivi dell’istituto, dovendo dedursi che il principio dell’eterosessualità non rappresenta una soluzione necessaria ma, anche in questo caso, una scelta (possibile) dei legislatore, per quanto inversa rispetto all’esperienza olandese, belga e spagnola. Questa comune logica costituzionale, che presuppone un intervento normativo, trova una sua chiara esplicitazione nell’art. 36 della Costituzione portoghese, che dopo aver riconosciuto il diritto a contrarre matrimonio in piena uguaglianza dispone che «la legge regola i requisiti e gli effetti del matrimonio e del suo scioglimento per morte o per divorzio». Inoltre neppure dalle Costituzioni in cui è sancita una tutela “speciale” per l’istituzione matrimoniale, come in Italia, in Germania, in Irlanda, può desumersi un’indicazione sulla illegittimità del coniugio omosessuale sul presupposto che tale preferenza nulla dice sul sesso dei coniugi, potendo al contrario argomentarsi, alla luce di tale favor, che lo Stato avrebbe il dovere di assecondarne la diffusione e magari l’accesso (anche agli omosessuali)”.
Esta posição não significa que o casamento referido no artigo 36.º da Constituição seja encarado como uma fórmula vazia de qualquer conteúdo, a preencher livremente pelo legislador.
O casamento, sob pena de desfiguração do seu núcleo essencial e, portanto, do próprio âmbito de protecção como direito (subjectivo) fundamental, deverá contemplar o estabelecimento de uma relação de comunhão de vida entre duas pessoas, estabelecida mediante um acto como tal designado, com efeitos vinculativos legalmente fixados, livre, incondicional e inaprazável. Contrair casamento (casamento in fieri) é aceder ao estado de casado (casamento in facto esse) que se define em função dos efeitos jurídicos que o casamento opera. Como dizem Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, ob. cit., pág. 337, “uma pessoa casa e, depois, é outra, é juridicamente outra. É outra a condição da sua pessoa, como é outra a situação dos seus bens”. Na sua regulação, o legislador ordinário está obrigado, não só a garantir o livre acesso a essa relação jurídica em condições de plena igualdade, mas também a observar outros parâmetros constitucionais, como o do respeito pelo étimo fundante da República e do sistema de direitos fundamentais que é a dignidade da pessoa humana.
Limite do núcleo essencial que não é franqueado pelo abandono da regra da diversidade de sexos entre os cônjuges.
Efectivamente, se o estabelecimento de uma situação de comunhão de vida entre duas pessoas é elemento estruturante do conceito de casamento, sem o qual o mesmo se descaracteriza, já o mesmo não pode dizer-se da diversidade sexual das pessoas que pretendem envolver-se nessa comunhão e submetê-la às regras do casamento. Essa diversidade de sexos seria apenas imprescindível para que a comunhão no plano sexual pudesse levar à geração de filhos biologicamente comuns, finalidade a que o casamento não está constitucional nem legalmente adstrito.
Na verdade, a comunhão de vida entre duas pessoas, caracterizada pela partilha e entreajuda, num percurso de vida comum juridicamente disciplinado, com carácter tendencialmente perpétuo, também está naturalmente ao alcance de duas pessoas do mesmo sexo que assim queiram vincular-se, uma para com a outra e perante o Estado, e serem como tal reconhecidas pela comunidade. Por isso não está vedado ao legislador conferir a esse modo de livre desenvolvimento da personalidade a forma vigente para tutela das relações entre pessoas de sexo diferente, permitindo aos interessados acolher-se à figura do casamento, sem que o instituto se considere privado de elementos típicos essenciais à correspondente função garantística.
23. Por outro lado, a extensão do casamento a cônjuges do mesmo sexo não contende com o reconhecimento e protecção da família como “elemento fundamental da sociedade” (artigo 67.º da Constituição).
Importa ter presente que a Constituição desvinculou a constituição da família do casamento. O conceito de família que a Constituição acolhe como “elemento fundamental da sociedade” é um conceito aberto e plural, adaptável às necessidades e realidades sociais. A Constituição não definiu o que é a família, dando protecção aos distintos modelos de família que existem na nossa realidade social. Como o Tribunal disse no acórdão n.º 651/09, embora tendo como pano de fundo as uniões de facto heterossexuais, a família que, nos termos do artigo 67.º da Constituição merece a protecção do Estado, “não é só aquela que se funda no matrimónio; é também aquela outra que pressupõe uma comunidade auto-regulada de afectos, vivida estável e duradouramente à margem da pluralidade de direitos e deveres que, nos termos da lei civil, unem os cônjuges por força da celebração do casamento. O direito a escolher viver em tal comunidade de afectos, modelada por vontade própria à margem dos efeitos civis do casamento, tem por certo assento constitucional – seja através da disjunção que o n.º 1 do artigo 36.º da CRP estabelece entre o “direito de constituir família” e o “direito de contrair casamento”, seja através da cláusula de liberdade geral de actuação que vai inscrita no direito ao desenvolvimento da personalidade, contido no n.º 1 do artigo 26.º.”
O casamento entre pessoas do mesmo sexo apenas vai conduzir a que o espaço de realização interpessoal, coabitação, mútua assistência e contribuição para as necessidades comuns com vista à plena realização pessoal, em que a família consiste, assuma, também para elas, a veste jurídica que resulta da sua recíproca vinculação. Não há fundamento para ver nesse alargamento sacrifício, nem sequer no plano de administração de recursos públicos escassos, para a realização das tarefas que nesse domínio incumbem ao Estado (n.º 2 do artigo 67.º da Constituição).
Não se vê, pois, em que possa colidir o novo regime do casamento com os deveres de protecção “da sociedade e do Estado” em relação à família, entendida como categoria existencial ou fenómeno da vida, assumida pela Constituição como instituição jurídica necessária.
24. Uma definição do casamento pela lei ordinária de modo a abranger o casamento entre pessoas do mesmo sexo poderia suscitar objecções se, por si e abstractamente, fosse susceptível de afectar outros direitos subjectivos fundamentais, designadamente os respeitantes ao mesmo direito por parte de pessoas de sexo diferente. Poder-se-ia, então sim, abrir campo para invocação do valor interpretativo da DUDH em defesa do âmbito do direito de contrair casamento, nos termos anteriormente referidos.
Parece, porém, manifesto que a atribuição do direito ao casamento a pessoas do mesmo sexo não afecta a liberdade de contrair casamento por pessoas de sexo diferente, nem altera os deveres e direitos que para estas daí resultam e a representação ou imagem que elas ou a comunidade possam atribuir ao seu estado matrimonial. Salvo, obviamente, se a perda de valor simbólico do casamento em geral fosse atribuída à circunstância de esse estatuto passar a poder ser compartilhado com casais de orientação homossexual. Concepção que se fundaria num motivo constitucionalmente ilegítimo (artigo 13.º, n.º 2, da CRP), sendo, por isso, insustentável.
Em resumo: o casamento entre pessoas de sexo diferente mantém-se intocado, nas suas condições de realização, nos seus efeitos jurídicos, entre os cônjuges e perante o Estado e terceiros, e no seu significado como fonte de relações familiares e compromisso social.
25. No pedido, embora sem maiores desenvolvimentos e na parte em que se sustenta a ideia de que a necessidade de tutela dos casais homossexuais obteria satisfação cabal com um regime de “união civil registada” ou semelhante, faz-se alusão a que também o princípio da igualdade poderia ser invocado para sustentar a inconstitucionalidade da permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
O pedido não autonomiza as razões pelas quais a equiparação ou indiferenciação produzida quanto ao casamento entre pessoas de sexo diferente e pessoas do mesmo sexo viola o princípio da igualdade. A alegada violação do princípio da igualdade e a alegação da violação da garantia institucional fundam-se na mesma concepção de casamento. Se o casamento pressupõe duas pessoas de sexo diferente, a sujeição a esse mesmo instituto da união entre pessoas do mesmo sexo trataria por igual o que é diferente porque não cabe no grupo normativo de destinatários a que o instituto é destinado. Assim, desde logo vale a propósito do princípio da igualdade o que se disse quanto à garantia de instituto.
É certo, como o Tribunal tem abundantemente repetido, que o princípio da igualdade, consagrado no n.º 1 do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, impõe ao legislador que dê tratamento igual ao que for essencialmente igual e que trate diferentemente o que for essencialmente diferente. Desta máxima decorre a proibição do arbítrio, que funciona como princípio negativo de controlo das opções legislativas. O tratamento diferente de situações de facto iguais, ou o tratamento igual de situações de facto diversas viola o princípio da igualdade quando, para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual, não for possível encontrar um motivo razoável, que surja da natureza das coisas ou que, de alguma outra forma, seja compreensível em concreto, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada como arbitrária. Todavia, como também é de uso repetir, a vinculação do legislador ao princípio da igualdade não elimina a liberdade de conformação legislativa, cabendo-lhe identificar ou qualificar as situações de facto que hão-de funcionar como elementos de referência a tratar igual ou desigualmente. Só existe violação do princípio da igualdade enquanto proibição do arbítrio quando para a medida legislativa não é possível encontrar suporte material (cfr., por todos, acórdão n.º 232/2003, disponível em www.tribunalconstitucional.pt, com exaustiva indicação de jurisprudência e doutrina).
Ora, sendo embora certo que, na perspectiva biológica, sociológica ou antropológica, constituem realidades diversas a união duradoura entre duas pessoas do mesmo sexo e duas pessoas de sexo diverso, no aspecto jurídico a equiparação de tratamento não é destituída de fundamento material. Na verdade, é razoável que o legislador possa privilegiar o efeito simbólico e optimizar o efeito social antidiscriminatório do tratamento normativo, estendendo à tutela dessas uniões o quadro unitário do casamento.
26. Tal como no acórdão n.º 359/2009, também agora, perante uma alteração legislativa desta natureza, se afigura útil recordar o que o Tribunal afirmou no Acórdão n.º 105/90:
«[…] se o conteúdo da ideia de dignidade da pessoa humana é algo que necessariamente tem de concretizar-se histórico-culturalmente, já se vê que no Estado moderno — e para além das projecções dessa ideia que encontrem logo tradução ao nível constitucional em princípios específicos da lei fundamental (maxime, os relativos ao reconhecimento e consagração dos direitos fundamentais) — há-de caber primacialmente ao legislador essa concretização: especialmente vocacionado, no quadro dos diferentes órgãos de soberania, para a “criação” e a “dinamização” da ordem jurídica, e democraticamente legitimado para tanto, é ao legislador que fica, por isso, confiada, em primeira linha, a tarefa ou o encargo de, em cada momento histórico, “ler”, traduzir e verter no correspondente ordenamento aquilo que nesse momento são as decorrências, implicações ou exigências dos princípios “abertos” da Constituição (tal como, justamente, o princípio da “dignidade da pessoa humana”). E daí que – indo agora ao ponto – no controlo jurisdicional da constitucionalidade das soluções jurídico-normativas a que o legislador tenha, desse modo, chegado (no controlo, afinal, do modo como o legislador preencheu o espaço que a Constituição lhe deixou, precisamente a ele, para preencher) haja de operar-se com uma particular cautela e contenção. Decerto, assim, que só onde ocorrer uma real e inequívoca incompatibilidade de tais soluções com o princípio regulativo constitucional que esteja em causa — real e inequívoca, não segundo o critério subjectivo do juiz, mas segundo um critério objectivo, como o será, p. ex. (e para usar aqui uma fórmula doutrinária expressiva), o de «todos os que pensam recta e justamente» –, só então, quando for indiscutível que o legislador, afinal, não “concretizou”, e antes “subverteu”, a matriz axiológica constitucional por onde devia orientar-se, será lícito aos tribunais (e ao Tribunal Constitucional em particular) concluir pela inconstitucionalidade das mesmas soluções.
E, se estas considerações são em geral pertinentes, mais o serão ainda quando na comunidade jurídica tenham curso perspectivas diferenciadas e pontos de vista díspares e não coincidentes sobre as decorrências ou implicações que dum princípio «aberto» da Constituição devem retirar-se para determinado domínio ou para a solução de determinado problema jurídico. Nessa situação sobretudo – em que haja de reconhecer-se e admitir-se como legítimo, na comunidade jurídica, um “pluralismo” mundividencial ou de concepções – sem dúvida cumprirá ao legislador (ao legislador democrático) optar e decidir.»
27. De todo o exposto resulta que devem ser julgadas improcedentes as dúvidas de constitucionalidade que justificam o presente pedido de fiscalização preventiva de inconstitucionalidade, não se considerando violado, por qualquer das normas sujeitas a apreciação, o n.º 1 do artigo 36.º da Constituição.
III. Decisão
Nestes termos, o Tribunal Constitucional decide não se pronunciar pela inconstitucionalidade das normas do artigo 1.º, do artigo 2.º – este na medida em que altera a redacção dos artigos 1577.º, 1591.º e 1690.º, n.º 1 do Código Civil – do artigo 4.º e do artigo 5.º do Decreto n.º 9/XI, da Assembleia da República.
Lisboa, 8/4/2010
Vítor Gomes
Carlos Fernandes Cadilha
Carlos Pamplona de Oliveira
Joaquim de Sousa Ribeiro
Ana Maria Guerra Martins (O meu voto não representa qualquer tomada de posição quanto à questão de inconstitucionalidade que esteve em causa no acórdão n.º 359/09, ou seja, a da inconstitucionalidade da proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo.)
Gil Galvão (Votei a decisão em coerência com a posição assumida no Acórdão n.º 359/09)
Maria Lúcia Amaral (com declaração)
Catarina Sarmento e Castro (com declaração)
Maria João Antunes (Votei a decisão, porque entendo, de harmonia com a declaração de voto aposta ao Acórdão n.º 359/2009, que a Constituição impõe que duas pessoas do mesmo sexo possam contrair casamento).
João Cura Mariano (com declaração de voto que junto)
José Borges Soeiro (Vencido de harmonia com a declaração de voto que junto).
Benjamim Rodrigues (Vencido de acordo com a declaração anexa)
Rui Manuel Moura Ramos (com a declaração junta)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votámos a decisão no entendimento de que a opção legislativa sujeita à apreciação do Tribunal – a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo celebrarem um contrato de casamento – não é desconforme com a Constituição, sem que seja no entanto constitucionalmente imposta (como o Tribunal o julgou no acórdão nº 359/2009).
Trata-se pois de uma escolha que, versando sobre matéria que não integra o núcleo indisponível do instituto constitucionalmente protegido, se encontra no âmago da liberdade de conformação politica do legislador democrático. Nestes termos, é ela revisível por decisão soberana do mesmo legislador.
Não cabe a este Tribunal interferir no âmbito das decisões do legislador democrático que, por opção constitucional, permanecem livres, nem mesmo nos casos em que a comunidade jurídica implicada é coincidente com todo o género humano e as matérias a decidir se revistam para a sua existência de inegável centralidade. Tais circunstâncias, se não autorizam que o Tribunal abandone a sua condição de legislador negativo, seguramente que se repercutem sobre a responsabilidade que, perante a comunidade, detém o legislador positivo democraticamente legitimado.
Maria Lúcia Amaral
Rui Manuel Moura Ramos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei no sentido da não inconstitucionalidade das normas questionadas. Contudo, diferentemente do Acórdão – que chega a tal decisão por entender que a solução estabelecida no Decreto n.º 9/XI da Assembleia da República cabe na liberdade de opção do legislador -, entendo que o legislador está obrigado, por imperativo constitucional, a consagrar esta solução de igualdade.
O artigo 36.º, n.º 1, da CRP, que estabelece que todos têm o direito de contrair casamento, não fornece uma noção de casamento e remete para a lei a regulação dos seus requisitos, efeitos e dissolução. O direito subjectivo consagrado neste artigo pressupõe a existência do correspondente instituto jurídico de direito público privado, que lhe é preexistente, mas a leitura do que possa ser o casamento deve realizar-se à luz da Constituição, i.e., dentro do programa constitucional.
Do sistema constitucional fazem parte valores, princípios e direitos relevantes para compreender a noção de casamento – interferindo aqueles com os contornos fundamentais deste -, entre os quais se encontra a dignidade da pessoa humana (art. 1.º da CRP), a igualdade, a liberdade ou o direito à identidade pessoal e ao livre (e coerente) desenvolvimento da personalidade (art. 26.º, n.º 1, da CRP). A meu ver, deles resulta, v.g., a liberdade de opção quanto à forma de constituir a família nuclear (o que inclui todos poderem escolher o casamento), ou a relevância da procura da realização pessoal através do casamento, incluindo a realização afectiva/emocional/sexual, em ambos os casos sempre, também aqui, balizadas pelo quadro constitucional.
Além destes aspectos individuais relativos ao casamento, a Constituição garante o direito a constituir família, no mesmo art. 36.º, e protege-a de forma especial. Sendo o casamento, como comunhão (íntima) de vida (e visão conjunta de futuro), um dos modos de constituir aquele elemento fundamental da sociedade (que deve ser constitucionalmente entendido como «1+1=2» e não, necessariamente, como «1+1≥3»), a CRP obriga, a meu ver, a que o legislador modele o instituto do casamento de modo a salvaguardar (no mínimo) o ambiente afectivo familiar, alguma estabilidade benéfica à família, e a protecção de um perante o outro em resultado do compromisso assumido na opção por um percurso de vida comum (assistência, cuidado, apoio, partilha e confiança devidos ao outro). A protecção constitucional do direito ao casamento imporá ainda a protecção contra terceiros e contra o próprio Estado.
Da Constituição resulta também que o casamento, enquanto um dos elementos estruturantes da sociedade (como um dos instrumentos jurídicos de constituição do núcleo familiar), é um vínculo jurídico cuja existência não pode deixar de ser assegurada – sempre dentro dos moldes constitucionalmente admissíveis –, devendo o legislador fixar-lhe os efeitos pessoais e patrimoniais, a sua constituição e extinção. E sendo dotado de especial simbolismo, naquilo que em si carrega de reconhecimento social ligado, quer ao próprio acto, quer ao estado civil, sempre caberá ao legislador salvaguardar a sua denominação simbólica e publicidade.
É esta estrutura da garantia constitucional do casamento (e legal, quando com aquela constitucionalmente conforme, e no que, por referência a esta, possa ser considerado nuclear à configuração constitucional do instituto) que é preciso convocar quando se procura determinar a possibilidade (como faz o acórdão), mas também, a meu ver, a imperatividade, da consagração do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Estabelecendo o artigo 36.º, n.º 1, da CRP, que todos têm direito de contrair casamento em condições de plena igualdade, e atendendo ao disposto no artigo 13.º, n.º 2, da CRP, que garante, nomeadamente, que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito em razão de orientação sexual, seria preciso encontrar fundamento material suficiente para a diferenciação.
Considerando as finalidades do casamento – individuais, como a salvaguarda da realização pessoal no plano emocional e afectivo através da comunhão íntima de vida; de protecção institucional do cuidado pelo outro, de estabilidade do vínculo e simbolismo – e atendo aos seus efeitos decorrentes da lei (patrimoniais e regime de bens, sucessórios, deveres de assistência, quanto à segurança social, …) não se vê como poderia uma medida legislativa encontrar suporte material bastante para fundamentar uma diferença de tratamento entre pares do mesmo sexo e pares de sexo diferente que pretendessem casar, fosse a diferença estabelecida quanto aos efeitos jurídicos vinculativos, ou, desde logo e por maioria de razão, quanto à denominação simbólica do vínculo: as relações de comunhão íntima de vida que se estabelecem entre pessoas do mesmo sexo são, no essencial e no que constitucionalmente releva (e afastado que está o entendimento de que a Constituição possa acolher um modelo de casamento baseado na complementaridade de sexos potencialmente procriativa), iguais.
Deixar ao legislador a possibilidade de dizer que duas pessoas do mesmo sexo apenas podem casar se não for uma com a outra, seria conceder-lhes um direito de que usufruiriam contra a sua orientação sexual. Deixar ao legislador a opção de negar o direito ao casamento quando a realização sexual do par acontece sendo ambos do mesmo sexo mais não é do que tratar de maneira diferente afectos e projectos de vida iguais.
À luz do conceito constitucional de casamento, das finalidades da protecção do direito fundamental, e do que se deve considerar inscrito no actual estado de pessoa casada (e apenas quanto ao que daí directamente decorra), não encontro fundamento racional e razoável bastante para a diferença, devendo ser consagrada a igualdade de tratamento que, no actual quadro constitucional, não admito que possa ser reversível.
Assim sendo, considero que em virtude do disposto no artigo 13.º, n.º 2, e no artigo 36.º, n.º 1, da CRP, o legislador não pode deixar de consagrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sob pena de violação do princípio da igualdade.
Catarina Sarmento e Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Não acompanho o acórdão na parte em que arrisca uma descrição pormenorizada do núcleo essencial do conceito constitucional de casamento, optando por uma adesão ao modelo actualmente consagrado na lei ordinária, com excepção da exigência da diversidade sexual dos cônjuges.
Para a decisão da questão de constitucionalidade que foi colocada basta verificar que a eliminação deste requisito apenas amplia, com fundamento material bastante, o acesso ao actual modelo de casamento adoptado pela lei ordinária, sem alterar o seu figurino, nem interferir no seu regime, pelo que está afastada a hipótese desta alteração poder resultar numa descaracterização ou supressão deste instituto.
Por isso me afasto da enunciação de uma problemática definição do núcleo essencial do conceito constitucional de casamento, a qual condiciona desnecessariamente a resolução de muitas outras questões de constitucionalidade, cuja temática é estranha ao objecto deste recurso.
João Cura Mariano
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, face ao entendimento que perfilho e, que, sinteticamente consigno:
A questão que o Tribunal Constitucional é agora chamado a apreciar prende-se, a meu ver, única e exclusivamente com a interpretação do artigo 36.º, n.º 1 da Constituição.
Afasto liminarmente o parâmetro contido no artigo 13.º, n.º 2 pois, como se entendeu no Acórdão n.º 359/2009, que subscrevi, do que se tratou na revisão constitucional de 2004 foi, tão-somente, do aditamento de uma outra “categoria suspeita” aos fundamentos proibidos de discriminação expressamente elencados no referido preceito. Transcrevendo o referido acórdão, aí se disse que
“E daí que — indo agora ao ponto — no controlo jurisdicional da constitucionalidade das soluções jurídico-normativas a que o legislador tenha, desse modo, chegado (no controlo, afinal, do modo como o legislador preencheu o espaço que a Constituição lhe deixou, precisamente a ele, para preencher) haja de operar-se com uma particular cautela e contenção. Decerto, assim, que só onde ocorrer uma real e inequívoca incompatibilidade de tais soluções com o princípio regulativo constitucional que esteja em causa — real e inequívoca, não segundo o critério subjectivo do juiz, mas segundo um critério objectivo, como o será, p. ex. (e para usar aqui uma fórmula doutrinária expressiva), o de «todos os que pensam recta e justamente» —, só então, quando for indiscutível que o legislador, afinal, não ‘concretizou’, e antes ‘subverteu’, a matriz axiológica constitucional por onde devia orientar-se, será lícito aos tribunais (e ao Tribunal Constitucional em particular) concluir pela inconstitucionalidade das mesmas soluções.”
Mais à frente, transcrevendo o Acórdão n.º 105/90, afirma-se o seguinte:
“E, se estas considerações são em geral pertinentes, mais o serão ainda quando na comunidade jurídica tenham curso perspectivas diferenciadas e pontos de vista díspares e não coincidentes sobre as decorrências ou implicações que dum princípio «aberto» da Constituição devem retirar-se para determinado domínio ou para a solução de determinado problema jurídico. Nessa situação sobretudo — em que haja de reconhecer-se e admitir-se como legítimo, na comunidade jurídica, um ‘pluralismo’ mundividencial ou de concepções — sem dúvida cumprirá ao legislador (ao legislador democrático) optar e decidir.”
O mesmo é sustentado por Gomes Canotilho e Vital Moreira, que afirmam que “a recepção constitucional do conceito histórico de casamento como união entre duas pessoas de sexo diferente não permite retirar da Constituição um reconhecimento directo e obrigatório do casamento entre pessoas do mesmo sexo (como querem alguns a partir da nova redacção do artigo 13.º, n.º 2).” (Constituição da República Anotada, volume I, 4.ª edição revista, Coimbra Editora, 2007, p. 568)
Do que importa tratar é da correcta interpretação do artigo 36.º, n.º 1, que consagra o direito fundamental de todos ao casamento. Para além desta dimensão subjectiva, o casamento apresenta-se também, como se pode ler na decisão, coberto pela “garantia de instituto”. Não obstante poder concordar, em princípio, com o papel residual que está reservado a esta figura no quadro do constitucionalismo actual, não creio, contrariamente ao entendimento subscrito pela maioria que uma eventual transmutação da figura (“ (…) a construção perdeu essa sua função histórica e não pode manter-se com o mesmo sentido” ponto 19), possa redundar na respectiva irrelevância, na presente sede, nomeadamente no que se refere ao núcleo essencial do casamento e à inclusão nesse núcleo da diferença de sexo dos cônjuges. Atente-se aliás no facto de que a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão referida neste acórdão centrou a sua análise, ao aferir a compatibilidade do regime das Parcerias Registadas com o artigo 6.º, n.º 1 da Grundgesetz, na circunstância de que aquele regime não afectava o conteúdo essencial da garantia de instituto (casamento) constitucionalmente prevista e consagrada. Sendo certo que nessa decisão aquele Tribunal debruçou-se sobre questão diversa da que integra o objecto dos presentes autos – tendo então sido chamado a apreciar o regime especificamente criado pelo legislador para tutelar uniões homossexuais, optando pela via das Parcerias Registadas e negando-lhes o acesso ao casamento – e que, como é bem de ver, o referido artigo 6.º, n.º 1 não apresenta integral identidade com o nosso artigo 36.º, n.º 1, considero ainda assim bastante significativo que o Tribunal Constitucional alemão não tenha enveredado pela via que se adopta na presente decisão de relegar para um plano “secundário” a categoria dogmática da “garantia de instituto”. Figura esta que, realce-se, tem génese germânica. O Tribunal Constitucional alemão entendeu então que a diferença de sexos dos cônjuges se integra no núcleo essencial do instituto casamento, sendo apenas passível de alteração, enquanto princípio essencial estruturante do mesmo, por via de uma revisão constitucional. Entendo que a mesma conclusão se imporia no quadro do nosso ordenamento fundamental.
Embora a Constituição portuguesa não defina (aliás, tal como a Lei Fundamental alemã) o que é o casamento, não significa isto que se trate de conceito totalmente alheado de qualquer densificação constitucional. Desde logo, do artigo 36.º resulta uma configuração constitucionalmente consagrada e protegida, como garantia institucional, de acordo com a qual “se exige, em face das intervenções limitativas do legislador a salvaguarda do «mínimo essencial» (núcleo essencial) das instituições” (Cfr. Comes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, p. 397). Assim, ao “núcleo essencial” corresponderão as faculdades típicas que integram o direito, tal como é definido na hipótese normativa, e, que correspondem à protecção da ideia de dignidade humana individual na respectiva esfera da realidade — abrangem aquela dimensão dos valores pessoais que a Constituição visa em primeira linha proteger e que caracterizam e justificam a existência autónoma daquele direito fundamental (cfr. José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, p. 176). Significa isto que “o casamento não é, pois, garantido como uma realidade abstracta, completamente manipulável pelo legislador e susceptível de livre conformação pela lei ordinária. Pelo contrário, não faz sentido que a Constituição conceda o direito a contrair casamento e, ao mesmo tempo, permita á lei ordinária suprimir a instituição ou desfigurar o seu núcleo essencial (…) O legislador deve, em conformidade, respeitar a estrutura nuclear da garantia institucional do casamento que se extrai da Constituição” (Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, vol. 1, p. 397). Também Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, sustentam que a “instituição do casamento está constitucionalmente garantida, pois que não faria sentido que a Constituição concedesse o direito a contrair casamento e, ao mesmo tempo, permitisse ao legislador suprimir a instituição ou desfigurar o seu ‘núcleo essencial’”.(cfr. Curso de Direito de Família, volume I, 3.ª ed., Coimbra Editora, p. 160).
Resulta líquido, a meu ver, que o constituinte de 1976 tinha em mente o casamento entre pessoas de sexo diferente quando redigiu o artigo 36.º. Não só porque esse era o conceito que resultava então como dominante – e o diálogo com a história e com a tradição é nota característica de qualquer acquis constitucional – mas também porque se assim não fosse então ter-se-ia verificado necessariamente, em 1977, a alteração dos preceitos relevantes do Código Civil de modo a garantir que a legislação ordinária acomodava a nova concepção constitucional. Isso foi o que sucedeu, aliás, com matérias relativas à filiação e à igualdade entre os cônjuges. Esta conclusão sai reforçada em face da integração do preceito no todo corpóreo do artigo 36.º. Com efeito, esta norma constitucional consagra “no texto fundamental a ligação profunda entre casamento e filiação”, como aliás resulta dos respectivos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6 (cfr. Duarte Santos, “Mudam-se os Tempos, Mudam-se os Casamentos?”, p. 327 e seguintes).
Sendo certo que a diferença de sexo dos nubentes foi pressuposta pelo constituinte de 1976 no papel atribuído ao casamento pela nova ordem constitucional, poder-se-ia argumentar no sentido de uma “mutação constitucional” que tenha tornado irrelevante para a Constituição a diferença de sexos dos cônjuges. Esta mutação apenas se pode justificar por referência a uma alteração do núcleo essencial da garantia consagrada no artigo 36.º, n.º 1 e já não como decorrência da proibição de discriminação em função da orientação sexual como referi anteriormente. Entendo que defender uma tal “mutação constitucional” no sentido de comportar uma alteração do conceito de casamento tal como recepcionado e acolhido pelo legislador constituinte de 1976 e mantido pelas sucessivas revisões constitucionais – ordinárias e extraordinárias – constitui resultado exegético ilegítimo. Os mecanismos de garantia de uma Constituição – políticos e judiciais – e os respectivos arranjos institucionais específicos podem assumir diversas modalidades e variáveis. E mesmo os mecanismos que se apresentam como formalmente aparentes não podem deixar de ser lidos e interpretados no contexto de cada sistema em que se localizam. Como assinalou Robert Dahl, “as soluções específicas devem ser adaptadas às condições e experiências históricas de cada país, à sua cultura política e às concretas instituições políticas.” (Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven, p. 192)
Não é possível escamotear o facto de que o desenvolvimento constitucional no quadro dos mecanismos políticos e judiciais de garantia da Lei Fundamental se apresenta com um pendor marcadamente textualista. Assim se explica a tendência reiterada do legislador constituinte para incorporar e cristalizar a hermenêutica da jurisprudência deste Tribunal Constitucional nos preceitos da Lei Fundamental. Como escreveu Maria Lúcia Amaral, “Em Portugal (…) textualiza-se a jurisprudência, isto é, procura-se assegurar a sua fixação em norma constitucional escrita. Em vez de se admitir que ela não pode deixar de integrar o corpus constitucional – aceitando-se também que parte desse corpus terá necessariamente que ser móvel, evolutivo, sujeito à crítica pública e gradualmente melhorado pelo que se vai aprendendo com a experiência dos casos concretos – procede-se à sua rigidificação, integrando-a, por via de revisão, no texto da própria Constituição.” (“Problemas da judicial review em Portugal”, in Themis, ano VI, n.º 10, 2005, pp. 88-89)
Sendo este estado de coisas eventualmente passível de considerações críticas, não me parece que o mesmo possa, no entanto, ser ignorado pelo juiz constitucional. Uma das funções que assiste à jurisdição constitucional – qualquer que seja a sua localização – é a de zelar pela integridade da Constituição mesmo que contra a vontade da maioria parlamentar do momento. Este pendor contra-maioritário ou anti-maioritário permite proteger a Constituição – e a legitimidade popular que lhe subjaz – da actuação de maiorias parlamentares ocasionais. Trata-se, como bem se sabe e agora me limito a invocar, ainda da protecção da ordem democrática: neste caso, protege-se a soberania popular que presidiu à outorga da Constituição de eventuais actuações democráticas as quais, ainda que assentes numa maioria parlamentar, estão em dissonância com aquela soberania popular expressa nas leis fundamentais de um país.
Entendo, portanto, que não é legítimo aferir qualquer “mutação constitucional” nesta matéria que prescinda de uma opção expressa, prévia e assumida do legislador constituinte. Com efeito, e como salientam Gomes Canotilho e Vital Moreira, a Constituição procedeu a uma recepção do “conceito histórico de casamento como união entre duas pessoas de sexo diferente” (cfr. ob. cit., p. 586). Deste modo, sendo o instituto casamento acolhido e garantido enquanto união entre pessoas de sexo distinto, e não se verificando alterações – no plano constitucional – que legitimem a conclusão de que terá ocorrido, neste campo, uma “mutação constitucional”, a mesma apenas poderá ser prosseguida pelo legislador ordinário perante prévia opção expressa do legislador constituinte. Como salienta o parecer junto pelo pedido, “tal postulado levaria, (…) a uma interpretação actualista, cujos requisitos se fundam que o novo sentido a imputar à lei (constitucional) vigente possua um mínimo de correspondência verbal no respectivo texto e que a interpretação ‘actualista’ seja uma extensão, um prolongamento, uma ampliação ou continuação do espírito da norma vigente – e não a substituição desse espírito (…)”.
Ora, estando-se perante um conceito normativo, na medida “em que arrastam consigo determinados regimes jurídicos gizados pela norma”, como seja o conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos seus filhos, e pela função natural de protecção e educação dos filhos, logo se conclui que o aludido conceito normativo de casamento “não é aplicável, por interpretação actualizada, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.”
Com efeito, o legislador constituinte não se confunde com o legislador ordinário desde logo quanto à maioria necessária para aprovar uma alteração à Constituição e aos trâmites processuais que tal processo deve observar. Saliente-se ainda o facto de que a aprovação de uma alteração constitucional não reveste, entre nós, exigências que a tornam um objectivo quase inalcançável. Isso reflecte-se, aliás, no facto de que em 34 anos de vida da Constituição foram aprovadas sete alterações ao respectivo conteúdo. Ora, quando o legislador constituinte, nas sete revisões constitucionais que se seguiram a 1976, se manteve sistematicamente silente nesta matéria, constatando-se, no entanto, que a mesma não foi pura e simplesmente ignorada como se pode verificar pelas declarações de voto apostas por vários deputados aquando da alteração do artigo 13.º, n.º 2 em 2004, não se pode deixar de relevar um tal comportamento como reiterando o entendimento de que o conceito de casamento constitucionalmente acolhido e tutelado é o casamento entre pessoas de sexo diverso. Aliás, como a própria posição que fez vencimento reconhece, “as questões dos modos e âmbito de protecção, reconhecimento e legitimação das situações de vida em comum de casais homossexuais irromperam nas últimas três ou quatro décadas, com premência crescente, tanto na ordem jurídica portuguesa como noutros lugares do mesmo espaço de civilização e cultura jurídica que Portugal integra (…).” O apego à literalidade que vem sendo demonstrado pelo legislador das várias revisões constitucionais força a reconhecer um determinado sentido ao seu silêncio nesta matéria do casamento – o sentido de que não foi por si (até agora) pretendida uma qualquer alteração neste domínio, continuando, por conseguinte, a valer na ordem constitucional de casamento o conceito que foi acolhido em 1976.
A posição que fez vencimento reconhece e aceita que a liberdade de conformação do legislador ordinário em sede de regulação jurídica do casamento não é absoluta. Não vejo no entanto como satisfatórios os argumentos que aduz no sentido de que a diversidade de sexo dos nubentes não se situa, ao contrário de outros aspectos, no âmbito do conteúdo essencial que, por esta via, escapa à disponibilidade do legislador ordinário.
Concluo, assim, que o legislador ordinário – consubstanciado em determinada maioria parlamentar ocasional – não pode afastar uma tal opção constitucional, impondo um conceito de casamento que viola o núcleo essencial da garantia plasmada na Lei Fundamental. Portanto, e porque a problemática do casamento entre pessoas do mesmo sexo não é assunto ignorado pelo legislador constituinte, em face do que vem sendo a matriz do paradigma constitucional nacional, entendo que a possibilidade de introdução, por via legal, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, carece de opção específica do legislador constituinte.
Como salienta Cristina Queiroz, “pelas funções que a Constituição desempenha, não será possível passar por cima do direito constitucional escrito, reclamando-se do direito constitucional não escrito. Neste sentido, não poderão ocorrer entre nós mutações constitucionais de forma derrogatória face a um objectivo normativo deixado claro pelo legislador constituinte. O processo de revisão constitucional existe precisamente para ultrapassar as restrições às normas constitucionais escritas feitas em nome do direito constitucional não escrito.” (Interpretação constitucional e poder judicial – Sobre a epistemologia da construção constitucional, Coimbra Editora, 2000, pp. 117-118).
Aceitar a alteração constante do projecto em análise que vem afastar o requisito da diferença de sexos entre os nubentes equivale a uma alteração constitucional por via de lei simples da Assembleia da República. As funções de garantia da Constituição que impendem sobre este Tribunal imporiam, no meu entender, que o mesmo se pronunciasse agora no sentido da inconstitucionalidade de tal solução.
São estas as razões que me levam a dissentir do acórdão que fez vencimento.
José Borges Soeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
1 – Votei vencido por não poder acompanhar a solução que fez vencimento.
2 – Entendo, firmemente, que a solução sustentada no acórdão corresponde a uma revisão ou uma mutação constitucional levadas a cabo em matéria do casamento, pelo Tribunal Constitucional, com violação do princípio constitucional da separação de poderes.
3 – Antes de mais, não posso deixar passar em branco o facto de, na economia da questão a resolver dentro de uma Constituição de tipo “rígido”, não se ver qualquer utilidade no percurso feito pelo acórdão no campo do direito comparado dos países do common law.
Se algum sentido tinha a pesquisa feita nesse âmbito, ela apenas se vislumbrava relativamente àqueles sistemas jurídicos onde o casamento tem tratamento constitucional paralelo ou aproximado ao nosso, como seja, por exemplo, o da Lei Fundamental alemã, cujo figurino não foi, porém, seguido pelo nosso legislador.
4 – De qualquer modo – sumariamente e cingindo-nos ao ambiente europeu – é de acentuar que tanto o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como a Comissão Europeia dos Direitos do Homem, como, finalmente, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias nunca afirmaram que o casamento enquanto instituição jurídica reservada apenas para as uniões heterossexuais constituísse qualquer forma de discriminação ilegítima em face das uniões homossexuais, seja à face das convenções internacionais que interpretaram (Convenção Europeia dos Direitos do Homem ou Tratado da União Europeia), seja à face dos princípios universalmente aceites como o da dignidade humana e o da igualdade de direitos.
E o mesmo se diga das Resoluções e Recomendações, identificadas no acórdão, provindas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu.
O mais nelas alguma vez reivindicado foi o reconhecimento das uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes (possível sob outros institutos) e a atribuição de direitos iguais (onde a natureza os consinta).
Nunca se defendeu que o alargamento do conceito normativo do casamento no sentido de abranger as uniões homossexuais e heterossexuais fosse a única solução possível como modo de respeitar o princípio da dignidade humana, o direito à privacidade, o direito à igualdade e o gozo dos direitos e liberdades sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo ou na orientação sexual.
5 – O acórdão entendeu que “o conceito constitucional de casamento é um conceito aberto, que admite não só diversas conformações legislativas, mas também diversas concepções políticas, éticas e sociais, tendo sido confiada ao legislador ordinário a tarefa de, em cada momento histórico, apreender e verter no ordenamento aquilo que nesse momento corresponda às concepções dominantes nesta matéria”.
Num sistema constitucional de tipo continental, rígido, cunhado segundo a matriz ideológica da Revolução Francesa, como é o nosso, e tendo em conta os pertinentes parâmetros jusfundamentais, não podemos estar mais em desacordo.
6 – Para podermos admitir que o conceito de casamento seria, na nossa Constituição, um conceito aberto, sujeito às variações do tempo, segundo a vontade do legislador ordinário, teríamos de ver a expressão verbal “contrair casamento” constante do n.º 1 do artigo 36.º da Constituição da República Portuguesa como sendo um conceito de tipo descritivo, um conceito de tipo fáctico, ou um mero conceito com intenção proclamadora de um programa constitucional a concretizar ao longo do tempo por parte do legislador ordinário, intencionalidade esta sempre manifestada de forma clara através de expressões como a “a lei regula…”, “nos termos da lei…”, “nos quadros definidos pela lei…”, “é disciplinada por lei…”; etc.
Se fosse um destes tipos de conceito, decerto que estaria aberto a absorver as novas formulações da realidade superveniente que postulassem a protecção dos mesmos interesses.
Jamais vimos, porém, sustentada em parte alguma entre nós uma tal natureza do conceito do direito a contrair casamento, nos vários séculos da nossa história pátria até à década de 90!
Nunca como tal foi tido pelo povo, pela doutrina ou pela jurisprudência!
À data da fixação do texto e da intencionalidade constitucional da Constituição de 1976, o casamento era um complexo normativo bem precisado no sistema jurídico de então como contrato que pressupunha a diversidade de sexo dos cônjuges, através do qual se pretendia constituir família mediante uma plena comunhão de vida, sendo a família considerada como elemento natural e fundamental da sociedade, na medida em que assegurava a renovação das gerações: quer na Constituição de 1933 (artigos 12.º a 14.º), mantida transitoriamente em vigor pela Lei n.º 3/74, de 14 de Maio, na parte que não contrariasse os princípios expressos no Programa do Movimento das Forças Armadas, sendo irrefutável que estas dimensões da instituição jurídica os não contrariava, quer no Código Civil vigente, de 1966 (artigo 1577.º), quer em todo o resto do sistema jurídico infraconstitucional.
À luz de todo o sistema jurídico ele tinha seguramente como seu núcleo essencial: a celebração de um contrato entre duas pessoas de sexo diferente e o escopo de, através desse contrato, essas pessoas de sexo diferente pretenderem constituir família mediante uma plena comunhão de vida.
E essa plena comunhão de vida justificava a imposição, como instrumentos mínimos da sua prossecução, de certos deveres estatutários (de estado de casado), como os do respeito, coabitação, cooperação, assistência e fidelidade (artigo 1672.º do Código Civil).
Não obstante a sua natureza de deveres legais, e como tais, configuráveis em relação a outros tipos de contratos, certo é que a diferença de sexo dos cônjuges emprestava uma especial natureza e razão de ser aos deveres de coabitação e de fidelidade conjugais, bem diversa daquela que será possível descortinar numa relação homossexual.
Foi o complexo normativo constituído por estes dois elementos nucleares que o nosso legislador constitucional pretendeu assegurar a todos, numa dupla dimensão de direito fundamental e de garantia institucional, ao prescrever, no artigo 36.º, n.º 1, que “todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade”.
As expressões verbais “direito a constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade” não são usadas enquanto reconhecimento de uma certa realidade social do tempo, mutável, na altura da fixação do texto constitucional, mas enquanto “institutos” ou “instituições” existentes no todo do ordenamento jurídico que a Constituição quis reconhecer e “aos quais, em qualquer caso, pretende assegurar protecção especial na sua essência ou nos seus traços característicos” (cf. José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2.ª edição, p. 139).
E também não são usadas enquanto conceito descritivo, mas sim normativo, envolvendo ponderações normativo-regulativas, no próprio texto constitucional, como resulta de uma interpretação sistemática da Constituição, esta só possível relativamente a normas.
Todo o artigo 36.º da Constituição está estruturado em torno do pressuposto do casamento heterossexual, pois só relativamente a um casamento concebido nesses termos é que se justifica que o legislador constitucional tenha tido a necessidade de consagrar expressamente, no seu n.º 3, que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos” e, no n.º 4, que “os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de qualquer discriminação e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas à filiação”.
Ao dispor que os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à manutenção de educação dos filhos e ao proibir a existência de qualquer discriminação entre os filhos nascidos dentro do casamento e fora do casamento, o legislador constitucional deixa bem claro que os filhos a que se está a referir são os filhos biológicos e que o casamento a que se refere é o casamento entre pessoas de sexo diferente, pois só neste caso a hipótese é possível a hipótese verificar-se segundo as leis da Natureza.
No casamento entre pessoas do mesmo sexo não cabe, como efeito consequente admissível sob o ponto de vista da Natureza, qualquer previsão de regulação das relações de ambos os cônjuges quanto “à manutenção e educação dos filhos” nem a referida destrinça de hipóteses quanto aos filhos.
E dados os termos da sua formulação é seguro que os n.ºs 3 e 4 do artigo 36.º não se referem aos filhos adoptivos, porquanto a previsão da adopção, enquanto fórmula ou forma jurídica de estabelecimento da relação de filiação contemplada naqueles números, apenas, numa dimensão biológica (constituída dentro ou fora do casamento), só vem prevista depois de tais preceitos, no n.º 7 do mesmo artigo, e como estatuto a “regular e a proteger nos termos da lei, a qual deve estabelecer formas céleres para a respectiva tramitação (questão que nunca se põe relativamente à filiação natural).
De notar que sempre que a Constituição de 1976 se quis afastar dos conceitos normativos existentes no sistema (inclusive, constitucional anterior) em matéria de família, de filiação e das relações entre os cônjuges, prescreveu-o expressamente, não deixando lugar a dúvidas.
É o que decorre do seu artigo 36.º relativamente ao princípio da igualdade entre os filhos nascidos do casamento ou fora do casamento ou dos direitos dos cônjuges quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos, em manifesto contraste com o regime anterior (cf. artigos 6.º e 12.º a 14.º da Constituição de 1933).
Por outro lado, o casamento também não está assumido enquanto conceito descritivo no todo do resto do nosso sistema jurídico.
Sempre que o legislador ordinário o relevou para lhe associar quaisquer efeitos jurídicos, nos mais diversos domínios do direito, moveu-se sempre no quadro de uma ponderação de atribuição de tais efeitos em função do casamento enquanto envolvendo este um contrato entre pessoas de sexo diferente que constituíram família mediante plena comunhão de vida.
O direito de contrair casamento que foi, pois, assumido pelo legislador constituinte, por um lado, como direito fundamental reconhecido a todos e, por outro lado, enquanto garantia institucional, foi o casamento heterossexual.
7 – É claro que o acórdão, intentando justificar a sua tese, se acoberta debaixo da literalidade do n.º 2 do artigo 36.º da Constituição, de acordo com a qual “a lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração”, vendo compreendido no termo “requisitos” a possibilidade legislativa de opção pela exigência ou não da heterossexualidade dos contraentes.
Todavia, o termo “requisitos” tem de considerar-se bem curto para poder justificar uma total redefinição do casamento, dado que nunca foi entendido, na linguagem do direito positivo, como dizendo respeito à noção (substância) do contrato a que se refere quando esta é por ele expressamente enunciada.
Sendo a heterossexualidade dos cônjuges, segundo o conceito constitucional de casamento, elemento essencial do contrato, os requisitos apenas poderão, assim, referir-se aos pressupostos exigidos para a celebração do tipo de contrato em que os contraentes são homem e mulher que pretendem constituir família mediante plena comunhão de vida.
Era assim, de resto, que a matéria se encontrava regulada no Código Civil à data da Constituição originária (cf. artigos 1577.º e 1596.º e seguintes) e continua, ainda hoje a estar, como era assim que a Constituição de 1933 a compreendia, no seu artigo 13.º, § 1.º, em termos, aliás, mais precisos.
O artigo 36.º, n.º 2, da Constituição remeteu para o legislador ordinário a regulação dos pressupostos e dos efeitos do casamento e da sua dissolução por morte ou por divórcio, mas dentro da sua concepção de contrato entre pessoas de sexo diferente, sendo evidente existir, no campo material remetido, uma discricionariedade normativo-constitutiva do legislador ordinário muito ampla, conquanto não toque na “essência ou nos seus traços característicos” do casamento tal como ele foi assumido pelo legislador constitucional.
Ver nessa remissão para a lei ordinária a possibilidade de conformação de um dos elementos essenciais constituintes da garantia institucional do casamento, à data da Constituição originária, é despir o conceito de casamento da qualidade de garantia institucional constitucional, para valer apenas como direito fundamental de conteúdo não densificado constitucionalmente e a densificar pelo legislador ordinário.
Bem entendido, o acórdão reduziu a dimensão de garantia de instituto do casamento à obrigatoriedade, apenas, de o legislador ordinário ter de dispor, sempre, em favor das pessoas, de um instituto que se denomine de casamento.
Deve notar-se, de resto, que o acórdão padece de evidente incongruência científica quando afasta a determinação do conteúdo do direito fundamental ao casamento pelo sentido normativo que o conceito tinha no sistema jurídico, a quando da fixação do texto constitucional de 1976, mas, simultaneamente, procede à definição do seu núcleo servindo-se do sistema jurídico, fazendo-o equivaler a uma “comunhão de vida entre duas pessoas, estabelecida mediante um acto como tal designado, juridicamente regulado, livre, incondicional e inaprazável”.
Na verdade, estes elementos só poderão ser apreensíveis através do sistema jurídico, dado ninguém os conseguir descortinar no artigo 36.º da Constituição ou em outros preceitos constitucionais.
8 – Aliás, a haver dúvidas interpretativas sobre o conteúdo do conceito constitucional português de casamento, mesmo que emergentes de uma interpretação sistemática dos n.ºs 1 e 2 do artigo 36.º, elas teriam de ser resolvidas, então, por força do disposto no artigo 16.º, n.º 2, da Constituição, com recurso ao disposto no artigo 16.º, n.º 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) e este é claro, ao dispor, que “a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família (…)”.
O conceito de casamento aqui acolhido é, seguramente, um conceito normativo, na medida em que se afirma através da definição do direito do homem e da mulher a casar-se um com o outro (e a constituir família que é considerada, no n.º 3 do mesmo artigo, elemento natural e fundamental da sociedade), como, aliás, de resto, o acórdão de que dissentimos se viu obrigado a aceitar, em face da letra e do elemento sistemático de interpretação da própria DUDH.
Ora, a DUDH, vigente na Ordem Jurídica Internacional desde muitos anos antes da nossa Constituição de 1976, foi assumida expressamente como fonte vinculativa de conteúdo dos direitos fundamentais reconhecidos na nossa Constituição, no seu artigo 16.º, n.º 2.
E não vale o argumento que o mesmo acórdão esgrime para afastar a aplicabilidade desta norma da DUDH, apodando até a convocação da interpretação da norma constitucional respeitante ao casamento (o artigo 36.º, n.º 1) segundo o sentido da norma da DUDH de equívoco argumentativo, afirmando que «o n.º 2 do artigo 16.º da Constituição funciona apenas bona parte e do “lado” jurídico-individual dos direitos fundamentais».
Na verdade, o n.º 2 do artigo 16.º da Constituição é claro ao dizer que “os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”.
Deste modo, a tarefa que se coloca ao intérprete constitucional é a de saber qual o conteúdo normativo que os n.ºs 1 e 2 do artigo 36.º da Constituição incorporaram, ao falarem de “direito de contrair casamento em condições de plena igualdade” e de que “cabe à lei a regulação dos requisitos e dos efeitos do casamento”.
Para não padecer de incongruência, o acórdão teria forçosamente de admitir que, à data da Constituição originária, o direito a contrair casamento não tinha o sentido estabelecido na DUDH, mas já o outro mais lato que agora entende como constituir o seu núcleo essencial ou o seu âmbito de protecção como direito (subjectivo) fundamental – “o de significar o estabelecimento de uma relação de comunhão de vida entre duas pessoas (independentemente do seu sexo), estabelecida mediante um acto como tal designado, juridicamente regulado, livre, incondicional e inaprazável”.
Só, sendo assim (e sem curar de saber, por desnecessário, se um tal sentido contrário à DUDH seria legítimo), se poderia sustentar estar-se perante um direito fundamental com um âmbito de protecção mais alargado do que aquele que decorre da DUDH, pelo que a invocação desta DUDH não teria um sentido explicativo ou integrador do direito fundamental de contrair casamento, mas antes restritivo, não cabendo este na intencionalidade da regra constitucional constante do artigo 16.º, n.º 2.
Mas este passo teve o acórdão o pudor de o não dar, precisamente pela evidência de que um tal entendimento se tratava, à data da Constituição originária, de uma aventurada ficção, pois só os sinais dos tempos vieram dar conta da necessidade social de regulação de uma nova realidade nas relações de família.
Depois, não concordamos de todo em todo com a asserção redutora feita no acórdão no sentido de que o n.º 2 do artigo 16.º da Constituição «funciona apenas in bona parte e do “lado” jurídico-individual dos direitos fundamentais».
Essa funcionalidade apenas teria sentido se o legislador constituinte houvesse assumido, sem margens para quaisquer fundadas dúvidas interpretativas, o paradigma de contrato de casamento agora acolhido, caso em que o âmbito de protecção do direito fundamental e da garantia institucional do casamento, entendidos nestes novos termos, seria mais alargado do que o constante da DUDH.
Como se disse, o acórdão não foi capaz de chegar aí, tendo-se quedado pela afirmação da realização de uma interpretação actualista do preceito Constitucional, o que leva pressuposto que o actual conteúdo normativo-constitucional tanto podia ser aquele que defende (de inclusão do casamento homossexual), como outro, se a História caminhasse numa outra direcção, como acaba por expressamente reconhecer ao dizer que, à data da fixação do texto constitucional, “o problema era político-juridicamente desconhecido”.
Nesta perspectiva, no mínimo e no limite, o acórdão não poderia, então, deixar de ter admitido, para ser congruente, que, se ainda hoje são mais que possíveis as dúvidas sobre o recorte constitucional do núcleo do direito fundamental e da garantia institucional do casamento, o que não se poderia dizer relativamente ao momento em que o legislador constituinte se “apoderou” da instituição existente no sistema então vigente (seja o sistema constitucional anterior ressalvado pela Lei n.º 3/74, de 14 de Maio, seja o sistema infraconstitucional)!
Ora, a haver dúvidas acerca do núcleo essencial do direito fundamental e da garantia institucional do casamento, consagrado na Constituição originária – dúvidas estas que corresponderão, no mínimo, a um limite científico de intelegibilidade da Lei fundamental cuja existência não pode afastar-se – elas teriam, e terão ainda hoje, de ser solvidas de acordo com o artigo 16.º, n.º 1, da DUDH.
Na verdade, o artigo 16.º, n.º 2, da Constituição não determina apenas, como diz o acórdão, a aplicação da DUDH in bona parte, mas consagra, também, os princípios da interpretação e da integração dos preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais de harmonia com a DUDH (princípio da interpretação em conformidade com a DUDH) (cf., sobre a história da inserção do preceito na nossa Constituição na Assembleia Constituinte e o sentido do texto, Jorge Miranda, “A Declaração Universal dos Direito do Homem e a Constituição”, in Estudos sobre a Constituição, 1.º Volume, p. 60).
Nesta medida, os preceitos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 36.º da Constituição apenas podem ser entendidos com o sentido constante da DUDH, ou seja segundo um direito fundamental e garantia institucional constitucional (natureza que lhe advém da previsão na nossa Constituição) do homem e da mulher a, na idade núbil, casar-se um com o outro (sentido emergente da DUDH).
9 – Ora, como bem diz José Carlos Vieira de Andrade (Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2.ª edição, p. 141), cuja doutrina o acórdão cita mas sem dela tirar as devidas ilações, “deve entender-se que as garantias institucionais se referem ao complexo jurídico-normativo na sua essência e não à realidade social em si, de modo que […] é com esse alcance que vinculam o legislador, admitindo um espaço, maior ou menor, de liberdade de conformação legal, mas proibindo-lhe sempre a destruição, bem como a descaracterização ou a desfiguração da instituição (do seu núcleo essencial)”.
Reduzir o casamento, como fez o acórdão, contra todo o coro do sistema jurídico-constitucional e ordinário, ao estabelecimento de uma relação de comunhão de vida entre duas pessoas, estabelecida mediante um acto como tal designado, juridicamente regulado, livre, incondicional e inaprazável, é descaracterizar radicalmente a garantia institucional constante da Constituição e isso só seria constitucionalmente legítimo através de uma revisão constitucional.
É que não se vê nela qualquer resquício normativo, suportado em quaisquer elementos de interpretação, de o conceito normativo casamento estar reduzido a tal alegado agora núcleo essencial, para além de um aparente apoio numa certa compreensão (errada, no caso) do princípio da igualdade.
Hoje, ao falar-se de casamento e do estado de casado fica sem saber-se a que tipo de relação juridicamente relevada existente entre as pessoas se refere: se a um contrato entre duas pessoas de sexo diferente celebrado com o escopo de, através desse contrato, essas pessoas de sexo diferente pretenderem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, família esta, por norma, com natureza geracional e, por regra, naturalmente alargada, entrelaçando várias gerações, onde a afectividade brota como uma chamamento da própria natureza humana; se a um contrato entre duas pessoas do mesmo sexo celebrado com o escopo de constituir família mediante comunhão de vida, onde as relações entre as duas pessoas se centram essencialmente numa dimensão afectiva.
Desde já importa notar que a comunhão de vida, numa relação homossexual só é conseguível – afastada que está a complementaridade dos sexos e os efeitos a ela associados como a possibilidade (não a necessidade) da existência de determinados tipos de relações sexuais e de procriação – enquanto referida a todos os aspectos da vida que não pressuponham a diferença de sexos: a uma comunhão de vida dessas pessoas, sim, mas apenas dentro do universo subjectivo e temporal do género unido pelo casamento.
O núcleo do casamento passou, assim, para o reconhecimento legal da existência de uma declaração de afectos existentes entre duas pessoas, sem estar associado ao modo normal de constituição da família geracional: os efeitos do casamento homossexual quedam-se pelos horizontes temporais das pessoas que o celebram, não contribuindo para o devir da Comunidade Jurídica que o reconhece.
Não vemos como é que das circunstâncias de o casamento heterossexual não ter necessariamente de pressupor a ocorrência da procriação, seja por opção dos próprios, seja por impossibilidade fisiológica, se podem extrair argumentos no sentido de a união civil de pessoas do mesmo sexo ter de ser efectuada, para salvaguardar os princípios da dignidade humana, da igualdade e da privacidade, com apropriação da instituição casamento tal como ela se mostra assumida no sistema jurídico.
Não se torna possível colocar no mesmo plano do casamento heterossexual, onde essas situações correspondem a opções ou impossibilidades fisiológicas circunstanciais (não imanentes ao género), as situações onde essas ocorrências nunca são possíveis, de plano, como se passa nos casamentos homossexuais.
A igualdade em causa não passa de uma igualdade simplesmente formal, criada pelo legislador, como produto legislativo.
10 – A razão intrínseca do casamento heterossexual encontra-se na possibilidade da complementaridade dos sexos dentro da própria matriz da pessoa humana: complementaridade sexual, fisiológica, psicológica, sentimental, afectiva, numa linha de correspondência com o que acontece com o nascimento da vida humana, que apenas se torna possível segundo essa regra de complementaridade e cujo normal desenvolvimento assenta também, de acordo com as regras de normalidade, nessa complementaridade.
Temos, assim, que o legislador ordinário desfigurou o direito fundamental e a garantia institucional do casamento existente no sistema constitucional e no sistema ordinário.
E fê-lo desnecessária e desproporcionadamente, violando o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição.
Na verdade, ao alargar o sentido semântico da garantia institucional “casamento”, de modo a abarcar as uniões homossexuais, o legislador ordinário contraiu o âmbito normativo do direito fundamental e da garantia institucional do casamento, na medida em que este passou agora a compreender apenas como uma sua parcela a normatividade que o mesmo anteriormente transportava.
É defensável a criação de um instituto de reconhecimento jurídico do contrato celebrado entre duas pessoas do mesmo sexo que pretendam constituir família mediante comunhão de vida, atribuindo-se-lhe efeitos jurídicos que não pressuponham, segundo as leis da Natureza, a diferença de sexos ou conduzam à descaracterização dos que necessariamente são postulados pelo casamento, buscando arrimo na cláusula geral inserta no direito ao livre desenvolvimento da personalidade constante do artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, sede constitucional adequada para acautelar a realização de todos os fins cuja prossecução a Constituição não repudie e através dos quais o sujeito pessoa entenda dever desenvolver a sua vida.
A restrição de âmbito do direito fundamental em causa é, pois, constitucionalmente ilegítima.
Depois, o legislador destruiu o valor do simbolismo do casamento enquanto garantia institucional conferida a pessoas de sexo diferente, com milénios de existência: o estado de casado, na Comunidade Jurídica e Social, era próprio – e foi-o durante, pelo menos, cerca de 7 milénios – apenas de pessoas de sexo diferente.
Ora, o simbolismo ou o valor simbólico das instituições constitucionais constitui um valor constitucional relevante, como decorre, desde logo, do reconhecimento que é dado aos símbolos nacionais e à língua oficial (artigo 11.º da Constituição), mas que, também, se pode ver associado, como valor intrínseco, à previsão constitucional das relações de interdependência entre os diversos órgãos de soberania (artigos 110.º e 111.º, da Constituição), a demandarem um respeito próprio e autónomo a cada um deles, bem como nas diversas garantias materiais institucionais previstas na Constituição (pense-se, por exemplo, na autonomia das universidades – artigo 76.º, n.º 2, da Constituição).
O reconhecimento aos homossexuais, sob invocação dos princípios da dignidade humana, da igualdade e da privacidade, do direito de procederem legalmente à união civil das suas vidas, não autoriza a que esse tratamento tenha de passar pela apropriação do valor simbólico do casamento e do estado de casado enquanto instituição própria, segundo a sua matriz histórica, de uma união entre pessoas de sexo diferente, afectando desse jeito a imagem da instituição existente.
A diluição ou degeneração do valor social do estado de casado segundo um paradigma de diferenciação de sexos não se afigura necessária para salvaguardar os direitos fundamentais dos casais homossexuais, antes prosseguindo o intuito ilegítimo de confundir ou ocultar, à custa do valor próprio do casamento, enquanto união reconhecida entre homem e mulher, adquirido ao longo dos séculos, uma parte da realidade de facto que subjaz ao acesso a esse estado.
Benjamim Rodrigues