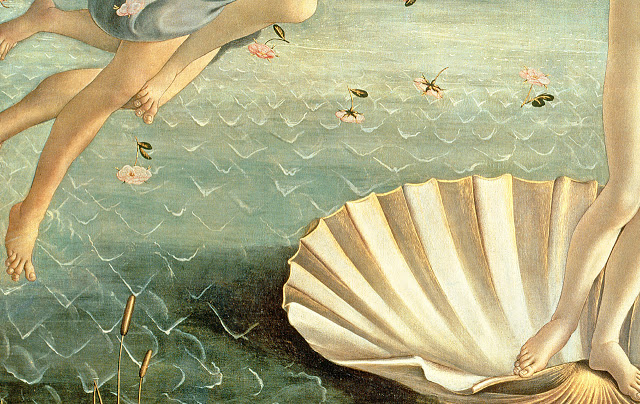Corte costituzionale portoghese, sentenza del 24 aprile 2018 n. 225
ACÓRDÃO N.º 225/2018
Processo n.º 95/17
Plenário
Relator: Conselheiro Pedro Machete
.
Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional:
- Relatório
- Um grupo de trinta Deputados à Assembleia da República veio requerer, ao abrigo do disposto no artigo 281º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea f), da Constituição da República Portuguesa, a declaração da inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, dos seguintes preceitos da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Lei da Procriação Medicamente Assistida – “LPMA”), na redação dada pelas Leis n.ºs 17/2016, de 20 de junho, e 25/2016, de 22 de agosto:
- a) Artigo 8.º, sob a epígrafe «Gestação de substituição», n.ºs 1 a 12, por violação do princípio da dignidade da pessoa humana (artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição), do dever do Estado de proteção da infância (artigo 69.º, n.º 1, da Constituição), do princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição) e do princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição); e, consequentemente, «das normas ou de parte das normas» da LPMA que se refiram à gestação de substituição (artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º, n.º 1, 14.º, n.ºs 5 e 6, 15.º, n.ºs 1 e 5, 16.º, n.º 1, 30.º, alínea p), 34.º, 39.º e 44.º, n.º 1, alínea b) );
- b) Artigo 15.º, sob a epígrafe «Confidencialidade», n.ºs 1 e 4, em conjugação com os artigos 10.º, n.ºs 1 e 2, e 19.º, n.º 1, por violação dos direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética (artigo 26.º, n.ºs 1 e 3, da Constituição), do princípio da dignidade da pessoa humana (artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição), do princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição) e do princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição);
- c) Artigo 20.º, sob a epígrafe «Determinação da parentalidade», n.º 3, por violação dos direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética (artigo 26.º, n.ºs 1 e 3, da Constituição), do princípio da dignidade da pessoa humana (artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição), do princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição) e do princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição).
Na sequência de uma análise das principais modificações introduzidas na LPMA, respetivamente, pela Lei n.º 17/2016 (em matéria de procriação medicamente assistida) e pela Lei n.º 25/2016 (em matéria de gestação de substituição), os requerentes começam por alinhar um conjunto de reflexões sobre o sentido e alcance das mesmas:
«A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 11-11-1997, do Comité Internacional de Bioética da UNESCO, dispõe no seu artigo 1.º que o “genoma humano tem subjacente a unidade fundamental de todos os membros da família humana, bem como o reconhecimento da sua inerente dignidade e diversidade. Em sentido simbólico constitui património da Humanidade”.
A única referência expressa da Constituição da República Portuguesa à procriação medicamente assistida consta da alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º ([i]mcumbe ao Estado (…) regulamentar a procriação assistida em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana»), preceito introduzido no texto constitucional pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, que impõe ao Estado a obrigação de regulamentação da procriação medicamente assistida, vinculada a uma referência normativa que o legislador ordinário deverá observar, regulando a matéria na estrita obediência ao valor da salvaguarda da dignidade da pessoa humana:
“Ao remeter para a dignidade da pessoa humana, o artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição da República pretende, por conseguinte, primariamente, salvaguardar os direitos das pessoas que mais diretamente poderão estar em causa por efeito da aplicação de técnicas de procriação assistida, e, em especial, o direito à integridade física e moral (artigo 25.º), o direito à identidade pessoal, à identidade genética, ao desenvolvimento da personalidade e à reserva da intimidade da vida privada e familiar (artigo 26.º), o direito a constituir família (artigo 36.º), e, ainda, o direito à saúde (artigo 64.º). Sem ignorar, nesse plano, que no universo subjetivo de proteção da norma estão não apenas os beneficiários e as pessoas envolvidas como participantes no processo, mas também as pessoas nascidas na sequência da aplicação das técnicas de procriação medicamente assistida.” [Acórdão n.º 101/2009]
Fazendo eco desta perspetiva da questão, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) alerta para o facto de que “… A decisão sobre a utilização de técnicas de PMA deve estar subordinada ao primado do ser humano, princípio fundamental que rejeita a sua instrumentalização, e consagra a dignidade do ser humano e consequente proteção dos seus direitos, em qualquer circunstância, face às aplicações da ciência e das tecnologias médicas (Convenção sobre os Direitos do Homem e Biomedicina). No âmbito da aplicação das técnicas da PMA deve, assim, valorizar-se a condição do ser que irá nascer que, pela natureza e vulnerabilidade é quem é mais carecido de proteção. Devem ainda ser tidos em consideração os direitos do/a filho/a à sua identidade pessoal, ao conhecimento das suas origens parentais, bem como a conhecer eventuais riscos para a sua saúde associados aos processos tecnológicos utilizados na sua geração” [Parecer n.º 87/CNECV/2016].
Ora, esta alteração legislativa trouxe, na verdade, uma «mudança de paradigma da utilização das técnicas da PMA» – palavras do CNECV –, pois deslocou o foco de toda a proteção exclusivamente para a mulher, desconsiderando aquele conjunto de direitos que constitui o mais importante valor a salvaguardar, e em relação aos quais o Estado tem um particular dever de proteção: os direitos da criança.
Se o direito a constituir família e a ter filhos é constitucionalmente protegido, também o é o direito a conhecer-se cabalmente a sua identidade – também a genética – e, entre um e outro, deverá ser o primeiro a ceder, e não o contrário, como sucede nesta lei.
Assistimos, pois, a uma substituição do princípio da subsidiariedade – perfeitamente atendível, delimitado e proporcional nas condições até aqui estipuladas – pelo princípio da complementaridade, o que se pode constatar, principalmente, nas seguintes alterações:
– O princípio da beneficência é substituído pelo princípio da igualdade perante a lei (apenas para alguns, naturalmente, já que todos poderão ter o direito a ter filhos mas nem todas as crianças terão o direito constitucionalmente consagrado a conhecer a sua identidade pessoal e genética);
– A PMA deixa de ser regulamentada como um método subsidiário e passa a ser um método alternativo;
– O acesso à PMA deixa de ser uma forma de tratamento, em contexto de infertilidade ou doença grave, para passar a ser considerado um direito reprodutivo de toda e qualquer mulher que o deseje, porque lhe apetece, independentemente do estado civil;
– Deixa de se privilegiar a correspondência entre a progenitura social e a progenitura biológica, consagrando-se uma solução jurídica que favorece, de forma desproporcional, a primeira.
E é precisamente isto, o centrar da PMA na mulher e num único progenitor, que deixa a descoberto a necessidade de maior atenção aos direitos da criança que vai nascer.
Ou seja, e dito de outra forma, subscrevemos as afirmações da Conselheira Rita Lobo Xavier, no já citado Parecer do CNECV: “[T]ambém não considero ser eticamente aceitável fazer prevalecer totalmente o interesse da mulher beneficiária das técnicas de PMA sobre os direitos do/a filho/a que virá a nascer, designadamente, no caso da possibilidade de inseminação post mortem” (…).
Já no que se refere à gestação de substituição no Parecer n.º 63/CNECV/2012, o CNECV deixou claras quais as condições que considerava deverem constar da lei que passasse a prever o recurso a esta técnica, que, por considerarmos relevantes, passamos a enunciar:
- A gestante de substituição e o casal beneficiário estarem cabalmente informados e esclarecidos, entre outros elementos igualmente necessários, sobre o significado e consequências da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal (por exemplo, epigenética), constando tal esclarecimento detalhado no consentimento informado escrito, assinado atempadamente;
- O consentimento poder ser revogado pela gestante de substituição em qualquer momento até ao início do parto. Neste caso, a criança deverá ser considerada para todos os efeitos sociais e jurídicos como filha de quem a deu à luz;
- O contrato entre o casal beneficiário e a gestante de substituição dever incluir disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doença fetais e de eventual interrupção voluntária da gravidez;
- A gestante de substituição e o casal beneficiário deverem estar informados que a futura criança tem o pleno direito a conhecer as condições em que foi gerada;
- A gestante de substituição não dever ser simultaneamente dadora de ovócitos na gestação em causa;
- A gestante de substituição ter de ser saudável;
- As motivações altruístas da gestante de substituição deverem ser previamente avaliadas por equipa de saúde multidisciplinar, não envolvida no processo de PMA;
- Quaisquer intercorrências de saúde ocorridas na gestação (a nível fetal ou materno) serem decididas exclusivamente pela gestante de substituição com o apoio de equipa multidisciplinar de saúde;
- Caber ao casal beneficiário, em conjunto com a gestante de substituição, decidir a forma de amamentação (devendo, em caso de conflito, prevalecer a opção do casal beneficiário);
- Ser legalmente inaceitável a existência de uma relação de subordinação económica entre as partes envolvidas na gestação de substituição
- O contrato sobre a gestação de substituição (celebrado antes da gestação) não poder impor restrições de comportamentos à gestante de substituição (tais como condicionamentos na alimentação, vestuário, profissão, vida sexual);
- O embrião transferido para a gestante de substituição ter como progenitores gaméticos, pelo menos, um dos elementos do eventual casal beneficiário;
- A lei sobre esta matéria e sua regulação complementar serem obrigatoriamente reavaliadas três anos após a respetiva entrada em vigor.
No Parecer 87/CNEVC/2016, contudo, o CNEVC não considerou que a iniciativa que lhe foi presente reunisse as referidas condições mínimas que, em seu entender, permitem revogar a proibição da gestação de substituição.
Com efeito, e em sede de enquadramento ético da gestação de substituição, o CNEVC chamou a atenção para o facto de, residindo a diferença fundamental entre a gestação de substituição e as demais técnicas de procriação na utilização do corpo de outra mulher que não a beneficiária, ainda subsistirem interrogações éticas ao nível do «respeito pela dignidade da gestante, da instrumentalização do seu corpo, da quebra da ligação entre gestação, maternidade e paternidade, bem como na realização do superior interesse do nascituro e da criança» [Parecer n.º 87/CNEVC/2016].
As preocupações do CNEVC condensam-se nas seguintes interrogações:
– O contrato de gestação de substituição articula-se adequadamente com os direitos da mulher gestante, nomeadamente, precavendo-a da possibilidade de exploração da mesma?
– O contrato de gestação de substituição protege adequadamente os direitos da criança que vier a nascer, num contexto reprodutivo novo, no que respeita à construção da personalidade da criança?
– É aceitável que a lei imponha o cumprimento de um contrato que representa o corte com o vínculo biológico e afetivo que se consolida durante o desenvolvimento intrauterino da criança, que a ciência já demostrou ser imprescindível a um adequado e saudável processo de crescimento e de desenvolvimento bio/psico/social da mesma?
– É ética e moralmente aceitável que a lei nada disponha sobre a relação de filiação desta criança em caso de incumprimento das condições do contrato, remetendo toda essa problemática para o regime geral da nulidade do contrato? Será esta matéria passível de ser legislada noutro instrumento legal que não este?
Em consequência destas e de outras dúvidas, acabou o CNEVC por concluir que as iniciativas legislativas que viriam a dar origem à Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, além de não salvaguardarem adequadamente os direitos da criança a nascer nem os da mulher gestante, não previam igualmente um adequado enquadramento do contrato de gest[aç]ão. Além disso, não asseguravam o cumprimento das condições 1ª, 2.ª, 3.ª, 8.ª e 11.ª, definidas no Parecer 63/CNEVC/2012.
É certo que, na sequência da devolução do Decreto à Assembleia da República pelo Senhor Presidente da República, cuja mensagem remetia precisamente para as dúvidas suscitadas neste Parecer, foram-lhe introduzidas alterações, que em nosso entender, de resto, continuam a não dar uma resposta cabal às observações do CNECV – nem a lei o faz, nem a regulamentação que ainda se aguarda o poderá fazer, porque muitas delas são pura e simplesmente impossíveis de atender e as múltiplas dúvidas e questões que ainda se colocam não têm uma resposta exata, inequívoca e cientificamente comprovada, tal como o exige a defesa do superior interesse da criança e o primado da dignidade humana.»
Seguidamente, os requerentes enunciam os fundamentos que, em seu entender, justificam um juízo positivo de inconstitucionalidade sobre as normas indicadas no pedido:
«Da violação do direito à identidade pessoal donde decorre um direito ao conhecimento da sua ascendência genética
De acordo com o disposto na lei (vide artigo 15.º, com a epígrafe “confidencialidade”) é assegurado o anonimato a todos os terceiros dadores de material genético com vista a possibilitar a fecundação da mulher. A regra é, pois, a da não revelação da identidade do doador à pessoa que nasce de técnica de reprodução assistida heteróloga, a menos que sobrevivam razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial (vide artigo 15.º, n.º 4).
Do ponto de vista jurídico-constitucional, estamos, portanto, perante um conflito de direitos fundamentais. Por um lado, o direito de pessoa nascida de PMA à sua identidade pessoal, donde decorre um direito ao conhecimento da sua ascendência genética (art.ºs 26.º/ 1 e 3 da CRP) e, por outro lado, o direito a constituir família e o direito à intimidade da vida privada e familiar (previstos respetivamente nos art.ºs 36.º/1 e 26.º/1 da CRP).
Atento ao disposto na Constituição da República Portuguesa, o direito à identidade pessoal enquanto direito pessoal consiste no seguinte:
“V – A identidade pessoal é aquilo que caracteriza cada pessoa enquanto entidade individualizada que se diferencia de todas as outras pessoas por uma determinada vivência pessoal. Num sentido muito amplo, o direito à identidade pessoal abrange o direito de cada pessoa a viver em concordância consigo própria, sendo, em última análise, expressão da liberdade de consciência projetada exteriormente em determinadas opções de vida. O direito à identidade pessoal postula um princípio de verdade pessoal. Ninguém deve ser obrigado a viver em discordância com aquilo que pessoal e identitariamente é. O direito à identidade pessoal liga-se, ainda, à proibição da discriminação do artigo 13.º, n.º 2 da Constituição, pois as características aí identificadas são, na sua generalidade, constitutivas da identidade pessoal.
VI – A identidade genética própria é uma das componentes essenciais do direito à identidade pessoal, (…)” – Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição da República Portuguesa Anotada, 2.ª Ed. (maio 2010), Tomo I, p. 609.
Também enquanto direito de personalidade, mas num enfoque mais socializante, outros autores consideram o direito à identidade pessoal como um direito à historicidade pessoal que se traduz designadamente num direito ao conhecimento da identidade dos progenitores:
“O direito à historicidade pessoal designa o direito ao conhecimento da identidade dos progenitores (cfr. Ac. TC n.º 157/05), podendo fundamentar, por exemplo, um direito à investigação da paternidade ou da maternidade, mesmo em alguns casos em que, prima facie, a lei parece estabelecer a preclusão do direito de acionar nas ações de investigação de paternidade (cfr. Acs TC n.ºs 456/03, 525/03 e 486/04). Problemático é saber se isso implica necessariamente um direito ao conhecimento da progenitura, o que levanta dificuldades no caso do regime tradicional da adoção e também, mais recentemente, nos casos de inseminação artificial heteróloga e nos casos das «mães de aluguer». Neste sentido, o direito à identidade pessoal postularia mesmo o direito à identidade genética como seu substituto” – Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 4.ª Ed. (2007), Vol. I, p. 463.
Desta forma, o direito à identidade abrange a historicidade pessoal, facultando-se ao titular o direito ao conhecimento das circunstâncias em que foi gerado e das pessoas que determinaram biologicamente a sua existência.
A proteção da personalidade exige que o direito tutele o direito à verdade, o direito ao conhecimento das origens genéticas, de modo a que, em última instância, seja preservada a própria identidade pessoal do ser humano.
Podemos assim afirmar – v. Fátima Galante, A adoção: identidade pessoal e genética, Verbo Jurídico, p. 18 – que “… no conteúdo do direito ao conhecimento das origens genéticas deve integrar-se a faculdade, em princípio reconhecida a todo o indivíduo, de investigar judicialmente a maternidade e a paternidade, com o objetivo de lograr a coincidência entre vínculos jurídicos e biológicos. O reconhecimento desta faculdade não pode deixar de considerar-se como o ponto fulcral da tutela conferida ao direito, na medida em que a sua efetivação permite ao sujeito, não só aceder à identidade dos progenitores como retira dessa informação todos os efeitos que o ordenamento jurídico determina serem decorrentes da relação de filiação. O direito ao conhecimento das origens genéticas imporá, assim, ao legislador ordinário a consagração de soluções que não constituam entraves exagerados a essa investigação, apontando para um princípio de imprescritibilidade do direito a investigar, tendência, aliás, generalizada nos ordenamentos jurídicos próximos do nosso” (sublinhados no original e sublinhados nossos).
No mesmo sentido, concretamente no que diz respeito à PMA, referem Jorge Miranda e Rui Medeiros que “(A) solução legal que permite a revelação da identidade do dador quando se verifiquem ‘razões ponderosas’ deverá, em qualquer caso, merecer uma interpretação conforme ao direito ao conhecimento das origens genéticas, não podendo legitimar leituras excessivas e injustificadamente restritivas da possibilidade de revelação da identidade do dador ou dadora (…)”.
Ora, o direito ao conhecimento das origens genéticas assume considerável importância no que concerne à PMA de cariz heterólogo – ou seja, com gâmetas de terceiros – e assume-o preponderantemente nesta lei, uma vez que a inseminação heteróloga passa a ter um campo de aplicação muito mais alargado, precisamente porque deixa de ter um caráter subsidiário, para passar a ser um método alternativo de procriação, como facilmente se depreende do disposto nos artigos 4.º, n.º 3, e 6.º, n.º 1.
A questão que se coloca é então a de saber, não se é constitucional um regime legal de total anonimato do dador, mas se é constitucional estabelecer como regra o anonimato dos dadores e como exceção a possibilidade de conhecimento da sua identidade. Está em jogo o peso relativo que o direito à identidade pessoal merece e a importância que a lei lhe dá no regime que institui vis a vis o direito a constituir família e o direito à intimidade da vida privada e familiar. Importa, pois, perceber se as restrições que se consagram respeitam, ou não, o princípio da proporcionalidade, tal como decorre do artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, da CRP.
Dito isto, não se ignora que a lei da PMA não estabelece uma proibição absoluta de revelação da identidade dos dadores, mas apenas uma regra que prima facie admite exceções – v. art.º 15.º/4. Tal como também não se ignora que, em 2009, através do Acórdão n.º 101/2009, o Tribunal Constitucional, instado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade material destas mesmas normas, ou seja, o artigo 15.º, n.ºs 1 e 4, conjugado com as normas constantes do artigo 10.º, n.ºs 1 e 2, decidiu no sentido da não inconstitucionalidade, considerando que a opção do legislador, ao estabelecer um regime mitigado de anonimato dos dadores, é inteiramente justificada face à necessidade de preservação de outros valores constitucionalmente tutelados, como seja o direito a constituir família e a decorrente necessidade de preservação da paz e da intimidade familiar.
Os signatários do pedido consideram que a “mudança de paradigma” trazida pela Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, bem como o alargamento do regime à “gestação de substituição” aprovado pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, trouxeram indubitavelmente uma nova atualidade e premência à questão do conhecimento da identidade genética das crianças geradas por via de PMA, nomeadamente, por via de inseminação heteróloga, não só pela universalidade – no limite, todos podem nascer por recurso a tais técnicas – mas também pela imperatividade e clareza do preceito constitucional, grosseiramente violado e genericamente afastado pela lei.
No caso da “gestação de substituição”, há, inclusivamente, uma situação que, face aos direitos e interesses em jogo, não pode deixar de se apontar, configurando mais um aspeto que em nosso entender sustenta a tese da inconstitucionalidade por violação do direito à identidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção da infância. De facto, se no que se refere aos dadores, a lei lhes confere particular atenção, consagrando um regime mitigado de anonimato nos termos do disposto no artigo 15.º, n.ºs 1 a 4, no que se refere à “gestante de substituição”, a lei não confere idêntico tratamento, porquanto a regra do sigilo e do anonimato prevista o n.º 1 é, neste caso, absoluta, não admitindo qualquer exceção. Com efeito, não abrangendo o n.º 4 do artigo 15.º a identidade da “gestante de substituição”, mas apenas a dos dadores, cujo enquadramento, balizado no artigo 10.º, se afasta destas situações, estamos evidentemente perante uma proibição absoluta do acesso à identidade de todas as mulheres que assumam o papel de gestantes de substituição, o que viola flagrantemente os direitos à identidade pessoal e identidade genética, previstos nos n.ºs 1 e 3 do artigo 26.º da CRP, e se revela uma solução profundamente desproporcional e desadequada, o que afronta o número 2 do artigo 18.º da CRP.
Ora, conforme bem refere Fátima Galante, pelas mesmas razões e fundamentos, não pode negar-se o direito do filho a conhecer a identidade da mãe portadora nos casos de gestão de substituição, ou seja, não tendo a mulher portadora fornecido o ovócito utilizado, afigura-se de admitir, autonomamente, a concessão ao indivíduo gerado da faculdade de obter informação não apenas em relação aos dadores (sobretudo tratando-se de terceiros), mas também, e considerando a importância da relação que a mulher estabelece com o feto durante os nove meses de gravidez, respeitante à identidade da mulher portadora.
A este respeito refere Antunes Varela: “…entre a mulher que amadurece no seu útero o ovócito fornecido por uma outra mulher e a criança que nasce do seu ventre há um elemento real de importância capital na relação de filiação, que é a vida intrauterina do embrião, a ligação intensa permanente entre o ser que se forma e o corpo humano que dentro das suas entranhas lhe dá vida”.
O direito ao conhecimento do património e identidade genéticos não configura um enfraquecimento na defesa do direito à intimidade e à reserva da vida privada. Estamos perante direitos fundamentais, consagrados constitucionalmente, com igual dignidade e idêntico valor normativo, impondo-se, nesta linha de raciocínio, avaliar, à luz do disposto no artigo 18.º, a constitucionalidade das restrições.
Se o disposto no artigo 8.º, conjugado com o artigo 15.º, não oferece margens para dúvidas quanto à violação dos ditames constitucionais relativamente à salvaguarda do direito à identidade (estamos perante uma proibição absoluta de conhecimento da identidade da mulher portadora), já o regime mitigado de anonimato dos dadores impõe mais algumas considerações, particularmente tendo em conta o argumentário jurídico-constitucional do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009.
O direito ao conhecimento da origem genética faz parte da identidade da pessoa nascida destas técnicas, da sua personalidade, da sua historicidade pessoal, independentemente da ausência de relação de afetividade.
Diz Stela Barbas, o ser humano “…. tem direito à identidade genómica. Não pode haver dois tipos de pessoas: as que podem conhecer e as que não podem conhecer as suas raízes genómicas”.
Ao permitir-se – ou permitir-se prioritariamente – ao filho o direito de conhecer e saber a sua verdadeira identidade genética e biológica, tal não constitui uma diminuição ou discriminação da filiação jurídica nem de quaisquer outros direitos a ela inerentes: o reconhecimento da origem genética ou biológica não contende com a filiação havida, pelo que não implica qualquer direito ou dever paterno ou materno relativamente àquele cuja origem se investiga. Efetivamente, respeita-se e salvaguarda-se de forma equilibrada, no estrito cumprimento das diretrizes constitucionais, os vários direitos fundamentais em tensão.
Estamos a falar de um mero conhecimento, é certo, mas de um conhecimento fundamental de modo a que a ninguém seja vedada a possibilidade de conhecer a própria história e reafirmar a sua individualidade.
Refletindo, agora, sobre o direito a constituir família e à intimidade da esfera pessoal, comungam os requerentes da opinião do Conselheiro Benjamim Rodrigues, particularmente relevante em matéria de “gestação de substituição”, quando diz que “se não existem dúvidas que a Constituição reconhece o direito de ter filhos a quem os pode gerar (artigo 68.º), não vemos que ela reconheça qualquer direito fundamental o quem só os possa obter através da doação de terceiros, dado que não se trata de uma prestação que o Estado possa reclamar de terceiros ou satisfazer diretamente” [declaração anexa ao Acórdão n.º 101/2009].
Mais, “… se é certo que a realização dos projetos a ter filhos cabe nas faculdades inseridas no direito ao desenvolvimento da personalidade, não pode desconhecer-se que esse direito se realiza mediante a geração de uma pessoa e que é intolerável que a proteção da pessoa nascida esteja avassalada aos direitos de quem decidiu que ela havia de nascer, privando-a de um conhecimento essencial de verdade do seu ser”.
Especificamente quanto ao direito da intimidade da esfera pessoal – estando em causa o dador ou mesmo a “gestante de substituição” –, igualmente se acompanha no pedido a opinião do Conselheiro Benjamim Rodrigues quando diz que “não constituindo o objeto de proteção um comportamento cujos efeitos se esgotem dentro da esfera da pessoa do dador, bem como da mulher portadora, antes se traduzindo e manifestando na geração de outra pessoa, com direitos autónomos, conclui-se que esse direito não deve poder restringir os direitos já referidos dessa outro pessoa”.
A jurisprudência nacional, acompanhando o movimento científico e doutrinário, nacional e internacional, mostra-se cada vez mais consciente da importância e reforço do direito a conhecer a identidade genética, enquanto parte do direito à identidade.
Mais, as recentes alterações à Lei da Adoção consagram exatamente este entendimento.
Senão, vejamos:
– Na versão do artigo 1985.º do Código Civil, posterior à reforma de 1977, previa-se o segredo da identidade do adotante como uma medida destinada a proteger a família adotiva de eventuais extorsões por parte dos pais biológicos; a iniciativa do pedido de segredo cabia ao próprio adotante, e era restrita aos casos em que o menor fosse judicialmente declarado abandonado; quanto ao segredo dos pais biológicos e o seu direito ao anonimato, o mesmo não era garantido pela lei;
– Com as alterações ao regime da adoção pelo Decreto-Lei n.º 185/93, de 23 de maio, o segredo da identidade do adotante tornou-se o regime regra, ao passo que o segredo da identidade dos pais biológicos apenas se aplica mediante declaração expressa daqueles nesse sentido;
– Com o atual regime jurídico do processo de adoção, aprovado pela Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro, passa a ser assegurado o acesso ao conhecimento das origens ao adotado com 16 anos ou mais de idade que manifeste essa vontade (com a autorização dos pais ou legal representante, enquanto for menor); e tal acesso é assegurado através de processo administrativo, só havendo lugar a intervenção de uma autoridade judiciária (Mº Pº) quando se trate de circunstâncias excecionais e de motivos ponderosos.
Importa ainda referir que uma Resolução do Parlamento Europeu sobre fecundação artificial in vivo e in vitro, de 16 de março de 1989, concretizando o direito ao conhecimento das origens genéticas, veio determinar aos Estados o respeito pelo direito da pessoa gerada com recurso a essas técnicas a conhecer a sua origem genética, nos mesmos termos em que tal direito do adotado seja tutelado.
A exigência de recurso ao tribunal para efetivar o conteúdo essencial do direito à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade de pessoa nascida de PMA, bem como de “razões ponderosas” para a concessão de tutela constitucional, são manifestamente desproporcionais quando confrontadas com os restantes direitos fundamentais em causa.
Por tudo quanto foi dito anteriormente, muito em particular o alargamento da possibilidade de aplicação de técnicas de PMA e a alteração do modelo subsidiário até agora vigente, parece aos requerentes por demais evidente a natureza excessiva da restrição imposta no artigo 15.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, ao arrepio da regra da proporcionalidade constante do artigo 18.º, n.º 2, da CRP, e a consequente violação do direito à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade, da dignidade da pessoa humana e, não menos relevante, do superior interesse da criança, em relação ao qual o Estado tem um particular dever de proteção, como decorre do artigo 69.º da CRP.
Violação do princípio da igualdade
Atento o supra exposto a respeito do direito ao conhecimento da identidade genética, consideram os subscritores que, por essa via, é também violado o princípio da igualdade perante a lei, porquanto só uma parte da população portuguesa – a que não nasça por recurso a técnicas de PMA – tem direito ao conhecimento da sua identidade genética, dele ficando excluídos os que assim nasçam. É certo que, por razões de conhecimento de eventual impedimento matrimonial, e se o doador o consentir, ou por razões ponderosas reconhecidas mediante decisão judicial, a identidade genética do doador pode vir a ser revelada. Mas não há um direito universal a esse conhecimento, direito que apenas é reconhecido a quem não nasça por recurso a técnicas de PMA, que, recorde-se, passou a ser possível para toda e qualquer pessoa que a elas queira recorrer
Ora, o princípio da igualdade e da não discriminação constante do artigo 13.º da CRP não se compadece com tais restrições, e muito menos pode ser aplicado de forma casuística. Pelo que, sem mais considerações porque desnecessárias, consideram os signatários que os referidos artigos da Lei n.º 32/2006 contendem com os ditames do princípio da igualdade, que assim se mostra ofendido.
E isto para já não falar da incoerência do ordenamento jurídico português na matéria – além da violação flagrante do princípio da igualdade –, não se percebe por que razão se permite aos adotados conhecer as suas origens e aos nascidos por recurso a técnicas de PMA não. Não há uma razão atendível que o justifique e adensa-se a discriminação a que são votadas as pessoas que nasçam por recurso a técnicas de PMA.
Violação do primado da dignidade da pessoa humana e do dever estadual de proteção da infância
A evolução das ciências e da biotecnologia, nas últimas décadas, tem sido exponencial, trazendo consigo enormes impactos sobre a sociedade e, em particular, a instituição da família. Assistimos, pois, a mudanças profundas cujas potencialidades colocam o direito perante o difícil desafio da ponderação e imposição de limites em nome não apenas de uma noção de ordem, mas também de humanidade.
Num mundo profundamente individualista, no contexto do qual facilmente se reconhece uma conceção cada vez mais utilitária e hedonista do ser humano diante da ciência e da medicina, é fundamental lembrar que a evolução científica não decorre de um mero interesse individual e egoísta, mas sim, de um interesse público dirigido a criar melhores condições para toda humanidade.
Não se procura com isto refrear os avanços alcançados, os quais também são conquistas da humanidade, mas simplesmente garantir que o ímpeto da descoberta e do ultrapassar das barreiras não se divorcia de uma concreta ponderação de valores que, na sua dimensão individual e coletiva, constituem a essência do ser humano.
O contrato através do qual a mulher se dispõe a suportar uma gravidez por conta de outrem, e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e direitos próprios da maternidade, não existia na ordem jurídica portuguesa até à entrada em vigor da Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto.
A gestação de substituição é um método de procriação que oscila, nos vários ordenamentos jurídicos, entre a proibição absoluta e a permissão sem restrições. Entre nós, atualmente, o modelo resultante da Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, é o equivalente a uma posição intermédia: é admitida, em termos excecionais, com base na comprovação de razões clínicas e de saúde.
Uma das críticas recorrentes à gestação de substituição é a de que estamos perante uma verdadeira mercantilização do ser humano: a criança passa a ser objeto de um negócio jurídico e a mãe gestante converte-se numa mera incubadora ao serviço dos beneficiários. Um processo de coisificação que, independentemente da natureza onerosa ou gratuita do mesmo, traz indubitavelmente à colação o princípio da dignidade da pessoa humana, seja no que refere à gestante de substituição, seja no que se refere à criança.
Reconhecemos que, num mundo – e país – onde os casos de infertilidade aumentam, a maternidade de substituição é apresentada como mais um método de procriação medicamente assistida, dirigido a tratamentos de infertilidade e que, nesta excecionalidade, visa, no limite, permitir que os beneficiários realizem o projeto de ter filhos e a gestante de substituição satisfaça um louvável espírito altruísta e de solidariedade.
Todavia, a realidade é, na grande maioria das vezes outra.
É um facto conhecido que a maior parte das «barrigas de aluguer» – expressão comummente usada e cujo sentido pejorativo reflete a inadmissível e infeliz realidade mundial subjacente – se encontram nos países mais pobres, onde o aluguer do ventre constitui mais uma forma de subsistência da mulher e da sua família. Por seu lado, nos antípodas dessas geografias, empresas sedeadas em países ricos e desenvolvidos asseguram, mediante o pagamento de elevadas quantias, a supervisão rigorosa das condições de alimentação e saúde das gestantes, e até a eventualidade de realização de aborto quando não houver satisfação com o produto final. A única ética que se respeita é a ética do mercado.
E mesmo naqueles países onde os negócios onerosos de gestação de substituição são proibidos, as mulheres podem ser coagidas a aceitar, nomeadamente através de pressões emocionais, ou mesmo de ameaças ou promessas relativamente ao trabalho ou à família. No que se refere à situação socioeconómica, não é despiciendo referir que os pais beneficiários são normalmente mais velhos, mais ricos e com mais instrução do que as gestantes de substituição, o que igualmente contribui para o risco de coação. Ou seja, mesmo quando as mulheres portadoras não são pagas, a verdade é que podem receber uma compensação, que é, por vezes, tão elevada que se torna impossível recusar.
A gestação de substituição é uma atividade em ascensão em muitos países, sendo cada vez mais numerosas as agências que, neste contexto, lucram tanto com o sofrimento dos casais inférteis, como com a vulnerabilidade de muitas mulheres. De facto, cobram-se valores elevadíssimos para selecionar as mães de substituição e, se necessário, os dadores, colocando-se em prática processos de recrutamento altamente intrusivos, onde a coisificação da mulher e da criança são ainda mais evidentes.
Ao legalizar a “gestação de substituição”, e tendo em conta os direitos das pessoas envolvidas – pessoas intervenientes nos processos de PMA e pessoas nascidas na sequência da aplicação das correspondentes técnicas – o legislador nacional não pode desconsiderar as experiências estrangeiras, tal como não pode desconsiderar as potenciais complicações sociais, psicológicas e jurídicas, que aumentam exponencialmente tendo desde logo em conta o número de pessoas – seis – que podem, no limite, reclamar direitos de parentalidade: i) a dadora do óvulo; ii) a gestante de substituição; iii) a beneficiária; iv) o dador do espermatozoide; v) o marido da gestante (sujeito simplesmente ignorado na presente lei e cujo consentimento é fundamental atendendo à presunção de paternidade); e vi) o beneficiário.
Centrando a nossa atenção na gestante de substituição, a mãe biológica, a sua instrumentalização ao serviço de um desejo a ter filhos, é por demais evidente, praticamente desaparecendo enquanto sujeito de direitos.
Há pouca investigação relativamente aos efeitos psicológicos de longo prazo da gestação de substituição, pelo que permanece desconhecido como o afastamento emocional e a indiferença afeta a mulher gestante, sendo, contudo, de antever enormes dificuldades, à semelhança do que já se sabe em relação à adoção. Há, de facto, comprovação científica suficiente de que esta não fica indiferente ao que lhe acontece quando está grávida, vivendo a gravidez como sua e sofrendo com o abandono da criança, circunstâncias que tornam compreensíveis, e fortemente possíveis, situações como: gestantes que mudam de ideias e querem assumir a maternidade; gestantes que querem abortar; ou gestantes que querem, mais tarde, conhecer ou obter informações sobre a criança.
Qualquer uma destas situações coloca em confronto direitos com igual tutela constitucional e nenhuma tem resposta satisfatória na presente lei.
Vista a questão do ângulo dos direitos da criança que vai nascer – cuja prevalência deve ser sempre assegurada pela lei – há todo um conjunto de outras questões a que a lei também não dá resposta satisfatória, designadamente:
– A importância da ligação (psicológica, biológica/epigenética), que durante a gestação se estabelece entre o feto e a mulher, para o desenvolvimento da criança que vier a nascer;
– O impacto que poderá ter sobre a criança a quebra da ligação estabelecida durante a gestação;
– A forma como se conseguem garantir os direitos da criança a nascer, considerando o contexto reprodutivo;
– A forma como se assegura o superior interesse da criança, em caso (i) de conflito que resulte em quebra de contrato; (ii) em decisões sobre término da gravidez; (iii) recusa de entrega da criança; (iv) recusa de aceitação da criança após o nascimento; ou (v) morte dos beneficiários prévia ao nascimento.
A Constituição, ao basear a República na dignidade da pessoa humana enquanto valor autónomo e específico inerente a todos os seres humanos em virtude da sua simples pessoalidade (cfr. artigo 1.º), assenta-a em dois pressupostos essenciais, a saber:
– Primeiro está a pessoa e só depois a organização politica;
– A pessoa é sujeito e não objeto, é fim e não meio de relações jurídico-sociais.
Estes princípios aplicam-se tanto à pessoa já nascida como à pessoa desde a sua conceção, aliás, como decorre do disposto no artigo 67.º, n.º 2 alínea e), da CRP que, ao remeter para dignidade da pessoa humana, pretende não apenas salvaguardar os direitos das pessoas que mais diretamente poderão estar em causa por efeito de aplicação das técnicas de PMA, mas também as pessoas nascidas na sequência da aplicação das técnicas de PMA.
No contexto da presente lei, pois, é meridianamente evidente que, em nome de um direito a constituir família e de um direito à intimidade da vida privada e familiar, não só assistimos à coisificação da mãe de substituição mas, também, constatamos que a criança que vier a nascer é tratada como um produto, ou seja, um produto final que pode acabar por ser rejeitado por todos ou, pelo contrário, querido por todos.
Em qualquer dos casos, é algo que contraria frontalmente a tutela jurídico-constitucional consagrada do valor da dignidade da pessoa humana.
Cabe aqui referir Emanuel Kant: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outra, sempre e simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio. (…) No reino dos fins, tudo tem um preço e uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dele qualquer outro como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade”.
Em última análise, e não podendo ignorar as profundas lacunas que o regime encerra, a maior prejudicada é, de facto, a criança.
Assim sendo, não nos resta senão concluir que, para além da violação do princípio constitucional da proteção da dignidade da pessoa humana, das disposições em evidência resulta também uma violação do dever do Estado de proteger as crianças, com vista ao seu saudável e integral desenvolvimento, previsto no art.º 69.º/1 da CRP.
Por último, dão-se por reproduzidas as considerações anteriores sobre o artigo 15.º, n.º 1, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que prevê o sigilo absoluto de todos os envolvidos, nada se prevendo, mesmo que a título de exceção, sobre a possibilidade de se vir a conhecer a identidade da gestante de substituição, à semelhança, aliás, do previsto para os dadores (artigo 15., n.º 4).»
A final, os requerentes sintetizam as razões fundamentais do pedido de fiscalização abstrata sucessiva que formulam:
«Nestes termos, consideram os signatários que a considerável abertura à inseminação heteróloga com sémen de dadores, que é levada a cabo pela nova redação dos artigos 10.º e 19.º da Lei da PMA, quando interpretada em conjunto com a norma do artigo 15.º da mesma Lei, que condiciona a obtenção de conhecimento sobre a identidade do dador – por parte de pessoa nascida de PMA – à instauração de processo judicial e à existência de razões ponderosas para a quebra do regime de confidencialidade, têm potencial para violar o princípio do respeito pela dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1.º e artigo 67.º, n.º2, alínea e) da Constituição da República Portuguesa; o princípio da igualdade, previsto no art.º 13.º da Constituição da República Portuguesa; o princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa; e, bem assim, o conteúdo fundamental do direito è identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, previstos no artigo 26.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa e o direito à identidade genética previsto no n.º 3 dessa mesma disposição constitucional.
Pelas mesmas exatas razões, consideram os signatários que a nova redação do artigo 20.º, n.º 3, da Lei da PMA, na parte em que dispensa a instauração da averiguação oficiosa da paternidade quando apenas houve lugar ao consentimento da pessoa sujeita a PMA, violam igualmente as referidas disposições da Constituição da República Portuguesa.
Consideram ainda os requerentes que a nova redação do artigo 8.º, bem como toda a regulamentação da gestação de substituição que no mesmo é vertida, não salvaguarda adequadamente os direitos da criança e da mulher gestante, admitindo que a mesma é suscetível de violar o princípio do respeito pela dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1.º e artigo 67.º, n.º 2, alínea e) da Constituição da República Portuguesa; o princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa; do direito à proteção da infância por parte do Estado, previsto no artigo 69.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa; e, bem assim, do conteúdo fundamental do direito à identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, previstos no artigo 26.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa e o direito à identidade genética previsto no n.º 3 dessa mesma disposição constitucional.»
- Notificada, enquanto órgão autor das normas sindicadas, para, querendo, se pronunciar sobre o pedido, a Assembleia da República nada disse.
- Elaborado pelo Presidente do Tribunal o memorando a que se refere o artigo 63.º, n.º 1, da Lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional (Lei n.º 28/82, de 15 de novembro, ou, abreviadamente, a “Lei do Tribunal Constitucional”), e tendo este sido submetido a debate, nos termos do n.º 2 do referido preceito, cumpre agora decidir de acordo com a orientação que o Tribunal fixou.
- Fundamentação
- A) Enquadramento das questões de inconstitucionalidade e sequência da sua análise
- As normas da LPMA cuja inconstitucionalidade os requerentes pretendem ver apreciada respeitam a três núcleos problemáticos que, embora conexos, justificam análise autónoma:
- i) A admissibilidade do direito a constituir família com recurso à gestação de substituição, nos casos em que o projeto de parentalidade não seja concretizável de outro modo em consequência de situações clínicas impeditivas da gravidez;
- ii) O direito daqueles que nascem em consequência de processos de procriação medicamente assistida (“PMA”) com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões de conhecerem a identidade do ou dos dadores e, bem assim, no caso de pessoas nascidas através do recurso à gestação de substituição, de conhecerem a identidade da respetiva gestante; e
iii) A legitimidade da dispensa da instauração da averiguação oficiosa da paternidade relativamente a criança nascida de uma mulher que tenha recorrido, a título individual, ou seja, fora do contexto de um casamento ou de uma união de facto, a técnicas de PMA para engravidar.
A aludida conexão decorre não apenas da circunstância de todas as normas em causa constarem do mesmo diploma, como também de a própria gestação de substituição admitida nos termos da LPMA pressupor o recurso a técnicas de PMA. Já a justificação para o tratamento autónomo das mesmas questões, primariamente fundado na sua própria natureza e nos diferentes grupos de interesses em causa relativamente a cada uma delas, surge reforçada atentas as vicissitudes dos procedimentos legislativos que culminaram na LPMA na versão ora em análise e, outrossim, em virtude de a questão do conhecimento da identidade dos dadores de gâmetas já ter sido objeto de apreciação por parte deste Tribunal, ainda que num contexto jurídico-normativo diferente (cfr. o Acórdão n.º 101/2009, acessível, assim como os demais adiante citados, em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/ ).
- A LPMA, que regula a utilização de técnicas de PMA, foi aprovada em 2006, tendo em vista dar cumprimento ao dever de regulamentar tal matéria estatuído no artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição: incumbe ao Estado para proteção da família «regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana».
As normas ora questionadas resultam de alterações legislativas introduzidas na LPMA pelas Leis n.º 17/2016, de 20 de junho, e n.º 25/2016, de 22 de agosto. Assinale-se, ainda, que a mesma Lei foi também alterada pela Lei n.º 58/2017, de 25 de julho, não sendo, porém, as disposições contidas neste diploma relevantes para a presente análise. De todo o modo, a LPMA foi republicada em anexo a esta última Lei «com a redação atual e as necessárias correções» (v. o respetivo artigo 4.º).
A Lei n.º 17/2016 alargou o âmbito dos beneficiários das técnicas de PMA, com o objetivo expresso, no seu artigo 1.º, de garantir «o acesso de todas as mulheres à procriação medicamente assistida (PMA)». Nestes termos, passou a prever-se, no artigo 4.º, n.º 3, da LPMA, que as técnicas de PMA podem ser utilizadas por todas as mulheres independentemente do diagnóstico de infertilidade e, no artigo 6.º, n.º 1, que podem recorrer às técnicas de PMA os casais de sexo diferente ou os casais de mulheres, respetivamente casados ou casadas ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges, bem como todas as mulheres independentemente do estado civil e da respetiva orientação sexual.
Já a Lei n.º 25/2016 regula o acesso à gestação de substituição, limitando-o aos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez ou, ainda, «em situações clínicas que o justifiquem»..
Uma primeira versão do projeto que esteve na origem desta Lei foi objeto de veto do Presidente da República, nos termos do artigo 136.º, n.º 1, da Constituição, considerando que o decreto enviado para promulgação não acolhia as condições cumulativas enunciadas pelo Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida (“CNECV”) em duas deliberações com quatro anos de diferença, e com composições diversas do Conselho, as quais «traduziram sempre a perspetiva mais aberta a uma iniciativa legislativa neste domínio». As mencionadas condições – que os requerentes transcreveram no seu pedido – foram enunciadas no Parecer n.º 63/CNECV/2012 e, na medida em que não foram contempladas no projeto de diploma então em análise, referidas no n.º 2 do Parecer n.º 87/CNECV/2016 («[o] Conselho entende ainda que o texto proposto não responde à maioria das objeções e condições que o Conselho, já no seu parecer 63/CNECV/2012, tinha considerado cumulativamente indispensáveis, de que se destacam: […]»; os pareceres em causa podem ser acedidos em http://www.cnecv.pt/pareceres.php?p=0 ). Com efeito, diferentemente do que sucedera na apreciação realizada em 2012 – em que o CNECV aceitou, por maioria, a legitimidade da gestação de substituição a título excecional e desde que fossem observadas as referidas condições –, no Parecer de 2016, o mesmo Conselho considerou, desde logo, e por unanimidade, que no regime da gestação de substituição então apreciado – que visava «essencialmente levantar a proibição vertida no artigo 8.º» da LPMA – «não estão salvaguardados os direitos da criança a nascer e da mulher gestante, nem é feito o enquadramento adequado do contrato de gestação» (v. o respetivo n.º 1).
No que se refere à perspetiva mais aberta implícita nas condições cumulativas exigidas pelo CNECV, o Presidente referiu, por comparação, e a título de exemplo, a Resolução do Parlamento Europeu 2015/2229 (INI), de 17 de dezembro de 2015, «aprovada por 421 votos a favor, 86 contra e 116 abstenções, que condenou no seu parágrafo 115. a gestação de substituição e defendeu a sua proibição» (é o seguinte o teor do parágrafo em questão: «[c]ondena a prática da gestação para outrem, que compromete a dignidade humana da mulher, pois o seu corpo e as suas funções reprodutoras são utilizados como mercadoria: considera que a prática de gestação para outrem, que envolve a exploração reprodutiva e a utilização do corpo humano para ganhos financeiros ou outros, nomeadamente de mulheres vulneráveis em países em desenvolvimento, deve ser proibida e tratada com urgência em instrumentos de direitos humanos»).
Subsequentemente, o projeto foi reformulado e objeto de reapreciação pela Assembleia da República. Após a nova aprovação, o Presidente da República entendeu promulgar a nova lei, com base na seguinte consideração:
«[A] análise das modificações introduzidas pelo legislador do Decreto que, agora, deve ser apreciado, revela que, apesar de o texto alterado não corresponder totalmente ao que deveria ser a solução mais completa à luz dos Pareceres acima mencionados, ainda assim o veto presidencial determinou a reponderação substancial pela Assembleia da República de larga parte das condições por aquele Conselho recomendadas, cumprindo, nessa medida, no quadro parlamentar existente, a segunda função que assiste a um veto político do Presidente da República».
Assim, a gestação de substituição, anteriormente proibida em todos os casos (cfr. os artigos 8.º, n.º 1, e 39.º da LPMA, na sua redação originária, que se referiam à “maternidade de substituição”), passou a ser admitida no ordenamento jurídico português, a título excecional e desde que realizada com respeito por determinados requisitos, positivos e negativos.
A Lei n.º 17/2016 foi objeto de regulamentação pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro, que, de acordo com o respetivo preâmbulo, visa «assegurar o princípio da igualdade de tratamento entre os novos beneficiários» da PMA e aqueles que já o eram, à luz da legislação anterior, «favorecendo-se a equidade no acesso às técnicas de PMA», e garantindo-se «uma prestação de serviços adequada, segura e não discriminatória, conforme plasmado na Lei n.º 17/2016, de 20 de junho».
Por seu turno, a Lei n.º 25/2016 foi regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 de julho. De assinalar que, conforme previsto no artigo 4.º, n.º 2, daquela Lei, o início de vigência das alterações aos artigos 8.º e 39.º da LPMA – justamente os que relevam mais direta e imediatamente em matéria de gestação de substituição –, ficara dependente da entrada em vigor de tal regulamentação. Na sequência do previsto no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto Regulamentar n.º 6/2017, o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida (“CNPMA”) aprovou o contrato-tipo de gestação de substituição e disponibilizou-o no seu sítio da internet (cfr. http://www.cnpma.org.pt/Docs/ContratoTipo_GS.pdf). Adotou também diversas deliberações com incidência direta ou indireta na matéria da gestação de substituição (acessíveis a partir de http://www.cnpma.org.pt/cnpma_documentacao.aspx), como por exemplo:
– Deliberação n.º 15-II/17, de 20 de outubro de 2017 (estabelece um limite etário para o acesso às técnicas de PMA por parte das mulheres beneficiárias: até aos 50 anos);
– Deliberação n.º 16-II/17, de 20 de outubro de 2017 (estabelece um limite etário para o acesso às técnicas de PMA por parte dos parceiros masculinos dos casais beneficiários: até aos 60 anos);
– Deliberação n.º 18-II/17, de 8 de setembro de 2017 (procedimento de autorização prévia para a celebração do contrato de gestação de substituição);
– Deliberação n.º 20-II/17, de 20 de outubro de 2017 (interpretação do conceito de beneficiários para efeitos de recurso a gestação de substituição: só casais heterossexuais ou casais formados por duas mulheres, respetivamente casados ou casadas ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges);
– Deliberação n.º 21-II/17, de 24 de novembro de 2017 (estabelece o limite de idade da gestante no âmbito da gestação de substituição: menos de 45 anos, salvo se se tratar de mãe ou irmã de algum dos membros do casal beneficiário, caso em que o referido limite será de menos de 50 anos);
– Deliberação n.º 22-II/17, de 15 de dezembro de 2017 (estabelece diversos aspetos técnicos relativos à celebração e execução do contrato de gestação de substituição).
- Cumpre, deste modo, apreciar sucessivamente a invocada inconstitucionalidade das normas da LPMA: (i) que admitem o recurso à gestação de substituição e que, segundo os requerentes, são as que constam dos n.ºs 1 a 12 do seu artigo 8.º («e, consequentemente, das normas ou de parte das normas que se refiram à gestação da maternidade de substituição, a saber: artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º, n.º 1, 14.º, n.ºs 5 e 6, 15.º, n.ºs 1 e 5, 16.º, n.º 1, 30.º alínea p), 34.º, 39.º e 44.º, n.º 1 alínea b)»); (ii) que impedem o direito daqueles que nascem em consequência de processos de PMA com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões de conhecerem a identidade do ou dos dadores e, bem assim, no caso de pessoas nascidas através do recurso à gestação de substituição, de conhecerem a identidade da respetiva gestante, ou seja, as dos seus artigos 15.º, n.ºs 1 e 4, em conjugação com os artigos 10.º, n.ºs 1 e 2, e 19.º, n.º 1, da mesma Lei; e (iii) que dispensam a instauração da averiguação oficiosa da paternidade relativamente a criança nascida em consequência do recurso a técnicas de PMA, nos termos do respetivo artigo 20.º, n.º 3.
Dada a natureza e transversalidade dos problemas jurídicos em causa, a crescente mobilidade das pessoas, a universalidade de um dos parâmetros convocados – a dignidade humana – e a abertura constitucional ao direito internacional convencional por via do artigo 8.º e do artigo 16.º, n.º 1, da Constituição, justifica-se uma atenção especial dedicada ao direito internacional e ao direito comparado. Nesse sentido, referiu-se no citado Acórdão n.º 101/2009:
«No âmbito do controlo da constitucionalidade das leis é de ter em conta, antes de mais, a Constituição da República Portuguesa, embora se não possa excluir totalmente a possível relevância constitucional dos instrumentos internacionais, na medida em que possam considerar-se como correspondendo a direito constitucionalizado ou que possam ser utilizadas como critério de interpretação de normas constitucionais. […]
[Por outro lado,] não há dúvida de que em matérias que se ligam a problemas humanos tão universais como os relacionados com a procriação medicamente assistida poderá ter interesse saber o que sucede no âmbito de outras experiências jurídicas e (sem perda do sentido de autonomia de cada sistema jurídico) tirar daí porventura conclusões, em especial quando seja possível induzir princípios jurídicos comuns de tais experiências […].
A importância de todos estes dados compreende-se em vista da “abertura” dos parâmetros constitucionais aplicáveis em matéria de procriação medicamente assistida, mas serão estes a oferecer os decisivos critérios de decisão. A Constituição erige a dignidade da pessoa humana ao estatuto de referência primeira em matéria de procriação medicamente assistida e é em função desse princípio e dos direitos fundamentais em que ele se pode concretizar que se deverá aferir a validade das soluções normativas consignadas na Lei n.º 32/2006.»
A análise dos referidos dados deve considerar não apenas os aspetos estáticos correspondentes ao direito legislado, mas também a dinâmica da sua aplicação jurisprudencial. Daí a opção, em especial no que se refere à matéria da gestação de substituição, por uma abordagem integrada – e, como tal, necessariamente mais descritiva –, que reflita o “direito vivente” em cada caso considerado.
- B) A gestação de substituição
B.1. Análise preliminar das alterações introduzidas na LPMA pela Lei n.º 25/2016
- A alteração da LPMA feita pela Lei n.º 25/2016 visou permitir e regular o acesso à gestação de substituição a título excecional e em determinadas condições, nomeadamente, «nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez» (v. o respetivo artigo 1.º), superando, desse modo, a anterior proibição absoluta. Em vista disso, aquele diploma modificou o artigo 8.º da LPMA nos seguintes termos:
«Artigo 8.º
Gestação de substituição
1 – Entende-se por “gestação de substituição” qualquer situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade.
2 – A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição só é possível a título excecional e com natureza gratuita, nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem.
3 – A gestação de substituição só pode ser autorizada através de uma técnica de procriação medicamente assistida com recurso aos gâmetas de, pelo menos, um dos respetivos beneficiários, não podendo a gestante de substituição, em caso algum, ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante.
4 – A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição carece de autorização prévia do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, entidade que supervisiona todo o processo, a qual é sempre antecedida de audição da Ordem dos Médicos e apenas pode ser concedida nas situações previstas no n.º 2.
5 – É proibido qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de substituição pela gestação da criança, exceto o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestado, incluindo em transportes, desde que devidamente tituladas em documento próprio.
6 – Não é permitida a celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição quando existir uma relação de subordinação económica, nomeadamente de natureza laboral ou de prestação de serviços, entre as partes envolvidas.
7 – A criança que nascer através do recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respetivos beneficiários.
8 – No tocante à validade e eficácia do consentimento das partes, ao regime dos negócios jurídicos de gestação de substituição e dos direitos e deveres das partes, bem como à intervenção do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e da Ordem dos Médicos, é aplicável à gestação de substituição, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º da presente lei.
9 – Os direitos e os deveres previstos nos artigos 12.º e 13.º são aplicáveis em casos de gestação de substituição, com as devidas adaptações, aos beneficiários e à gestante de substituição.
10 – A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita através de contrato escrito, estabelecido entre as partes, supervisionado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, onde devem constar obrigatoriamente, em conformidade com a legislação em vigor, as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez.
11 – O contrato referido no número anterior não pode impor restrições de comportamentos à gestante de substituição, nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade.
12 – São nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de gestação de substituição que não respeitem o disposto nos números anteriores.»
Os restantes artigos da LPMA mencionados pelos requerentes com referência à gestação de substituição, nomeadamente os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º, n.º 1, 14.º, n.ºs 5 e 6, 15.º, n.º 1 e 5, 16.º, n.º 1, 30.º alínea p), 34.º, 39.º e 44.º, n.º 1, alínea b), enfermarão, segundo os próprios, de inconstitucionalidade meramente consequencial.
Saliente-se, em todo o caso, que a mesma Lei n.º 25/2016 também modificou o artigo 39.º da LPMA – que, de resto, tem uma epígrafe idêntica à do artigo 8.º («Gestação de substituição») –respeitante à incriminação da gestação de substituição, passando a punir, além do mais, não só quem, enquanto beneficiário ou gestante de substituição, concretizar contratos de gestação de substituição a título oneroso (cfr. os n.ºs 1 e 2 do artigo 39.º) – o que já se encontrava previsto na redação originária da LPMA (v. o respetivo artigo 39.º, n.º 1) –, como também quem, enquanto beneficiário ou gestante de substituição, concretizar contratos de gestação de substituição a título gratuito, mas fora dos casos previstos nos n.ºs 2 a 6 do artigo 8.º (cfr. os n.ºs 3 e 4 do artigo 39.º).
A modificação da versão originária da LPMA no domínio da gestação de substituição foi sugerida, por diversas vezes, pelo próprio CNPMA, com a seguinte fundamentação, acolhida nas iniciativas legislativas que culminaram na aprovação da Lei n.º 25/2016:
«Não se afigura justo nem eticamente fundamentado, sendo antes injusto e desproporcionado, barrar a possibilidade de ter filhos a pessoas impossibilitadas de procriar em situações medicamente verificadas e justificadas, quando as mesmas em nada contribuíram para a situação em que se encontram” (v., por exemplo, o Relatório Referente à Atividade Desenvolvida no Ano de 2010, p. 37; ou o Parecer n.º 27/CNPMA/2012).
- A primeira grande diferença a assinalar entre a versão originária e as alterações de 2016 é de ordem terminológica: a expressão «maternidade de substituição» é substituída pela expressão «gestação de substituição». No Parecer n.º 63/CNECV/2012 – que justamente apreciou dois projetos de lei apresentados, um por Deputados do Partido Socialista (PL n.º 131/XII), e o outro por Deputados do Partido Social Democrata (PL n.º 138/XII), que também versavam a “maternidade de substituição” –, depois de se reconhecer que «a semântica escolhida nunca é indiferente em Bioética», observou-se a propósito:
«[A] expressão “maternidade de substituição”, apesar de muito divulgada e de vir consagrada na nossa lei e nos dois projetos de lei em apreciação, pode ser indiciadora de equívocos e ambiguidades éticas e antropológicas, por supor tacitamente aceite a fragmentação da maternidade biológica (genética e uterina), social e jurídica.
O CNECV optou pela expressão gestação de substituição e gestante de substituição, que traduzem as realidades objetivas que medeiam o processo que pode decorrer entre a transferência/implantação uterina do embrião humano e eventual parto no fim da gravidez evolutiva.»
A verdade, porém, é que esta opção não é ela própria incontroversa (sobre a discussão terminológica, v., por exemplo, as referências feitas por Estrela Chaby, “Direito de constituir família, filiação e adoção – Notas à luz da jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem” in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, vol. II, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 329 e ss., p 349, nota 70).
Contudo, apesar das diferenças terminológicas, verifica-se uma continuidade ao nível da noção legal: a «maternidade de substituição», antes prevista no artigo 8.º, n.º 2, da LPMA, na sua redação originária, corresponde à «gestação de substituição» agora consagrada no n.º 1 do mesmo preceito, com a redação dada pela Lei n.º 25/2016. Trata-se de uma noção ampla (correspondente à proposta por Guilherme de Oliveira, Mãe há só Uma Duas! O Contrato de Gestação, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, pp. 8-9) – que, desde logo, não prescinde da vontade da própria gestante, uma vez que é esta que se dispõe e que renuncia – destinada a cobrir as diferentes modalidades de substituição gestacional, a proibida (substituição genética, em que, na conceção por ato sexual ou mediante a utilização de técnicas de PMA, a gestante contribui com os seus ovócitos) e aquela que é permitida, a título excecional (substituição meramente gestacional, que implica que a gestante se submeta a técnicas de PMA sem contribuir com os seus ovócitos para a formação do embrião).
Simplesmente, na consideração da aludida continuidade, não pode perder-se de vista a alteração do paradigma entretanto verificada no tocante à PMA (cfr. os artigos 4.º, n.º 3, e 6.º, n.º 1, in fine, ambos da LPMA), alteração essa que pode ter repercussões na perceção e, ou, porventura, na compreensão, da própria gestação de substituição, uma vez que esta pressupõe o recurso àquela. Como assinala o CNECV no seu Parecer n.º 87/CNECV/2016, verifica-se «uma mudança do paradigma da utilização das técnicas de PMA, centrando as questões numa realidade: que a beneficiária das técnicas é a mulher, independentemente do facto de estar ou não acompanhada por um/a parceiro/a. Nesta medida, as alterações previstas para a Lei n.º 32/2006, de 26 de junho, não implicam um verdadeiro alargamento dos beneficiários das técnicas da PMA, antes constituem o reconhecimento legal de que a beneficiária das técnicas é aquela em quem as técnicas são potencialmente aplicadas, ou seja, a mulher» (v. loc. cit., III.4., p. 11; itálico aditado). A justificação de tal mudança, enunciada nos projetos de lei que estiveram na origem da Lei n.º 17/2016, é a «tutela da liberdade e autonomia da mulher que quer ser mãe e em quem irão ser aplicadas as técnicas de PMA» (ibidem; itálico aditado). Nesse sentido, podia ler-se no Projeto de Lei n.º 122/XII, apresentado pelo Bloco de Esquerda em 2012, e parcialmente reproduzido no seu Projeto de 2016 (Projeto de Lei n.º 36/XIII, que desencadeou o procedimento legislativo referente à Lei n.º 25/2016):
«[Não se descortina uma razão válida que justifique o] impedimento de uma mulher recorrer à PMA, em função da sua situação pessoal, estado civil, condição clínica ou orientação sexual. Uma mulher sozinha – seja qual for a sua orientação sexual – ou uma mulher casada com outra mulher, sejam férteis ou inférteis, devem poder concretizar o desejo de ser mães sem que para isso sejam obrigadas a uma relação que não desejam, a uma relação que contraria a sua identidade e agride a sua personalidade. […]
Os avanços da medicina devem ser colocados ao serviço das pessoas, da sua realização pessoal e da sua felicidade. A lei da PMA deve incluir e consagrar uma ética orientada para a felicidade pessoal, definida pelo próprio em função dos seus valores e critérios, sobretudo quando estão em causa escolhas e opções que envolvem, afetam e constroem a individualidade e a intimidade de cada um. A lei e a sociedade não devem impor figurinos ou modos de vida, ao contrário, devem acolher a pluralidade das formas de pensar e viver a maternidade, promovendo uma cultura de aceitação e respeito pela diferença e pelas opções de cada um» (itálico aditado).
Segundo a definição legal do artigo 8.º, n.º 1, da LPMA – que, como mencionado, também é relevante para a delimitação do tipo objetivo da incriminação prevista no artigo 39.º do mesmo diploma –, a gestação de substituição envolve um acordo – o contrato de gestação de substituição – entre a gestante e quem pretende assumir as responsabilidades parentais relativamente à criança que vier a nascer – por simplificação, os beneficiários (por vezes também referidos, em especial noutras ordens jurídicas ou na doutrina, como “pais intencionais”, “pais jurídicos” ou “pais sociais”).
Note-se, em todo o caso, que a utilização do plural no presente acórdão – “beneficiários” – não deve ser entendida como uma tomada de posição do Tribunal relativamente à questão de saber se todos os “beneficiários” referidos no artigo 6.º, n.º 1, da LPMA são igualmente “beneficiários” para efeitos do disposto no artigo 8.º e preceitos com ele conexionados, como por exemplo, os artigos 14.º, n.º 6, 16.º, n.º 1, ou 30.º, n.º 2, alínea p) (cfr. no sentido de que somente casais, heterossexuais ou de mulheres, mencionados no citado artigo 6.º, n.º 1, podem ser beneficiários da gestação de substituição, a referida Deliberação do CNPMA n.º 20-II/2017, de 20 de outubro de 2017).
No âmbito do citado acordo, a gestante aceita: (i) engravidar no interesse dos beneficiários e levar a gravidez até ao fim; e (ii) depois do parto, entregar a criança nascida aos beneficiários, «renunciando aos poderes e deveres da maternidade». Esta renúncia justifica-se e tem sentido para a caracterização da figura num quadro normativo em que a mesma é proibida e a filiação relativamente à mãe resulta, nos termos gerais, do facto do nascimento (cfr. o artigo 1796.º, n.º 1, do Código Civil). A redação originária do artigo 8.º, n.º 3, da LPMA confirmava isso mesmo – a ineficácia total do contrato de gestação de substituição consequente da nulidade estatuída no n.º 1 do mesmo preceito: «[a] mulher que suportar uma gravidez de substituição de outrem é havida para todos os efeitos legais, como mãe da criança que vier a nascer».
Contudo, as alterações à LPMA introduzidas pela Lei n.º 25/2016 visaram, justamente, modificar tal quadro, permitindo em determinadas circunstâncias a gestação de substituição. Nessas circunstâncias, o contrato de gestação de substituição, desde que autorizado pela entidade administrativa competente, é lícito e, por isso mesmo, eficaz. Mas uma das condições de possibilidade da eficácia intencionada pelas partes é um critério de estabelecimento da maternidade que, diferentemente do critério geral, não se funde no nascimento. Por isso o artigo 8.º, n.º 7, da LPMA veio dispor que a «criança que nascer através do recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respetivos beneficiários». Ou seja, e por confronto com a anterior redação do n.º 3 do mesmo preceito: verificando-se o nascimento de uma criança na sequência da execução de um contrato de gestação de substituição eficaz, a lei determina o afastamento do critério geral de estabelecimento da filiação, seja em relação à mãe, seja em relação ao pai, passando a mesma criança a ser tida como filha de quem figura como beneficiário no dito contrato.
No novo quadro normativo, a gestação de substituição fundada num contrato devidamente autorizado, válido e eficaz determina que a gestante assuma as seguintes obrigações essenciais:
– Submeter-se a uma técnica de PMA;
– Suportar a gravidez por conta dos beneficiários até ao fim e dar à luz a criança;
– Entregar a criança nascida aos beneficiários.
Independentemente de a substituição meramente gestacional se processar com recurso a ovócitos da “mãe intencional” ou de uma terceira dadora, aquela implica, relativamente à gestante, a utilização de técnicas de PMA, sendo por isso mesmo perspetivada por alguns como (simples) «variante da fecundação heteróloga aplicada à mulher» (assim, v. Vincenzo Scalasi, “Maternità surrogata: come far cose com regole” in Scritti in Onore di Giovanni Furgiuele, t. II, Universitas Studiorum, Mantova, 2017, pp. 219 e ss., pp. 219-220). Embora sujeita a uma técnica de PMA, a gestante não é, todavia, considerada beneficiária da mesma, já que a gravidez visada, uma vez concretizada, será suportada por conta de outrem, no sentido de que as responsabilidades parentais relativamente à criança que vier a nascer não serão assumidas por si, mas pelos terceiros com quem previamente contratou. Por ser assim, não lhe pode ser aplicado o critério de maternidade previsto para as beneficiárias de técnicas de PMA, o qual, devido ao disposto no artigo 10.º, n.º 2, da LPMA, acaba por se reconduzir ao facto do nascimento, ou seja, ao parto (cfr. o artigo 1796.º, n.º 1, do Código Civil; note-se que o disposto no n.º 1 do artigo 20.º da LPMA se aplica apenas ao companheiro – homem ou mulher – da mulher submetida a técnica de PMA, em contexto de casal, e que o n.º 3 do mesmo preceito pressupõe a aplicação à mulher submetida a PMA, fora do contexto de casal, do mencionado critério do Código Civil).
Isto significa que a referência à renúncia aos poderes e deveres próprios da maternidade contida na parte final do n.º 1 do artigo 8.º da LPMA é, pelo menos, ambígua: não se pode renunciar a posições jurídicas de que se não é – nem se poderá vir a ser, de acordo com o disposto no n.º 7 do mesmo preceito – titular. Aliás, a gestante (e, bem assim, os beneficiários) consente e acorda na gestação de substituição, desde logo, porque pretende que a filiação da criança que venha a nascer – e, consequentemente, também as correspondentes responsabilidades parentais a assumir – seja estabelecida em relação à parte contratante, isto é, aos beneficiários a que se reporta o artigo 8.º da LPMA, e não a si própria. Pela sua própria razão de ser, a gestação de substituição não visa concretizar um projeto parental próprio da gestante, mas sim dos beneficiários.
No entanto, e por outro lado, a gestação de substituição só é lícita desde que aceite por ambas as partes, com observância dos requisitos, positivos e negativos, previstos na lei. E entre estes, importa relevar o consentimento das partes destinado a garantir que a sua participação em todo o processo é realmente voluntária. Em vista disso, e independentemente do momento em que seja prestado e da forma que revista, tal consentimento é um pressuposto essencial do próprio contrato, que dele se autonomiza em termos funcionais e obedece a um regime próprio.
Com efeito, à validade e eficácia do mesmo é aplicável, «com as devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º» da LPMA (cfr. o respetivo artigo 8.º, n.º 8; itálico adicionado). E, porque a gestante não é beneficiária da gestação de substituição, o artigo 14.º, n.º 5, confirma que ao seu consentimento também é aplicável o disposto nesse mesmo artigo, mutatis mutandis, como não pode deixar de ser. Assim, e desde logo, a gestante de substituição:
– Tem de ser previamente informada, por escrito, de todos os benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, bem como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas (artigo 14.º, n.º 2);
– Tem de prestar o seu consentimento, livre e esclarecido, de forma expressa e por escrito, perante o médico responsável, pelo menos no que respeita às técnicas de PMA a utilizar (artigo 14.º, n.º 1);
– Tem de ser previamente informada, por escrito, do «significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal» (artigo 14.º, n.º 6);
– Pode – só pode – revogar livremente o seu consentimento «até ao início dos processos terapêuticos de PMA» (artigo 14.º, n.º 4).
Do mesmo modo, os direitos previstos no artigo 12.º da LPMA são aplicáveis, também com as devidas adaptações, mas independentemente do contrato que entre si tenham celebrado ou venham a celebrar, aos beneficiários e à gestante de substituição (cfr. o artigo 8.º, n.º 9, daquela Lei).
Resulta, em todo o caso, claramente do citado artigo 14.º, n.º 6, que o consentimento da gestante e dos beneficiários no âmbito da gestação de substituição é muito mais complexo e abrangente do que aquele que é exigido aos beneficiários no âmbito da utilização das técnicas de PMA.
Desde logo, porque diferentemente deste último, não tem apenas um caráter autorizante, com referência à utilização das técnicas de PMA – vertente que, todavia, não deixa de estar presente, dizendo especialmente respeito ao médico responsável (cfr. o artigo 14.º, n.º 1, da LPMA). O consentimento em análise dirige-se também ao outro lado interessado na gestação de substituição: o dos beneficiários à gestante, no sentido de para esta ser transferido um embrião constituído com recurso a gâmetas de, pelo menos, um deles; e o da gestante aos beneficiários, no sentido de a gravidez resultante da implantação daquele embrião e o posterior parto da criança serem suportados em benefício daqueles. Nesta segunda vertente, o consentimento reveste uma natureza vinculante para quem o emite, obrigando em conformidade.
Não obstante, o consentimento dos beneficiários e o da gestante, não só não são simétricos – uma vez que o da gestante implica a aceitação de intervenções continuadas em direitos fundamentais como a integridade física ou a saúde e o direito a constituir família e a ter filhos, ao passo que o dos beneficiários se limita à recolha do material genético necessário para a concretização da gestação de substituição e à transferência uterina do embrião assim criado; como, sobretudo, não são consumidos pelo contrato que beneficiários e gestante celebram entre si. É o que se pode concluir da referência expressa e autónoma ao «consentimento das partes» (em paralelo com a menção dos «negócios jurídicos de gestação de substituição», que devem ser celebrados «através de contrato escrito» – n.º 10 do artigo 8.º) contida no já mencionado n.º 8 do artigo 8.º da LPMA, em conjugação com a livre revogabilidade do consentimento garantida nos termos do artigo 14.º, n.º 4, do mesmo diploma. De resto, um dos problemas suscitados pela Lei n.º 25/2016 – e que tem origem em vicissitudes do seu procedimento legislativo – respeita ao modo de estabelecer, do ponto de vista formal, a articulação entre o consentimento de cada uma das partes e o contrato entre elas celebrado. Mas tal problema em nada prejudica a autonomia funcional (traduzida depois em exigências jurídicas próprias) entre a declaração unilateral vinculante correspondente ao consentimento e o acordo de vontades consubstanciado no contrato – questão que será abordada mais à frente.
Em especial no que se refere ao consentimento prestado pela gestante, a atividade consentida não se esgota num ato único ou num conjunto de atos pontuais de utilização das técnicas de PMA; o seu consentimento abrange necessariamente a gravidez – o processo biológico, psicológico e potencialmente afetivo inerente à gestação –, a qual é suportada ou vivida, necessariamente também, no interesse dos beneficiários, e o próprio parto da criança, que é igualmente suportado necessariamente também no interesse daqueles. Ou seja, o consentimento da gestante implica a vontade positiva de que a criança que vier a trazer no seu ventre e que vier a dar à luz não seja tida como sua filha, mas antes como filha dos beneficiários. Daí a assunção da obrigação de entrega a estes últimos – e não a quaisquer terceiros – da criança nascida.
É neste contexto que deve entender-se a referência à renúncia «aos poderes e deveres próprios da maternidade» feita no segmento final do n.º 1 do artigo 8.º da LPMA, e que se conjuga necessariamente com a previsão do n.º 7 do mesmo artigo: a criança dada à luz pela gestante não é tida como sua filha, mas sim como filha dos beneficiários do contrato de gestação de substituição. Esta consequência jurídica tem como pressuposto a validade e eficácia do consentimento das partes a que se refere o n.º 8 do mesmo artigo 8.º, merecendo especial atenção o consentimento da gestante devido às obrigações por si assumidas no âmbito do acordo de gestação de substituição. Para celebrar validamente tal acordo, a gestante tem necessariamente de querer que a criança trazida no seu ventre durante a gravidez e que depois fará nascer, não seja sua filha, mas antes dos beneficiários. A gestante aceita, por isso, não ser mãe da criança cuja gravidez e parto deverá suportar, sabendo que poderia ser considerada como tal, à semelhança do que sucede com todas as mulheres que dão à luz – incluindo aquelas que só engravidaram na sequência da utilização de uma técnica de PMA heteróloga em que o embrião não seja formado com o seu material genético. É esta escolha da gestante – não ser mãe da criança que vier a dar à luz – que, correspondendo ainda a uma forma de liberdade negativa de constituir família e de ter filhos, pode ser perspetivada, tal como refere a lei, como uma renúncia (antecipada) «aos poderes e deveres próprios da maternidade».
- O regime jurídico da LPMA que disciplina a gestação de substituição lícita inclui outros aspetos que, em conjugação com o que já foi referido em relação ao consentimento da gestante e dos beneficiários, permitem recortar e autonomizar, por referência às regras de direito internacional e às soluções de direito comparado, um certo modelo ou conceito de gestação de substituição que o legislador português quis admitir, com exclusão de modelos ou conceitos alternativos.
Em primeiro lugar, a gestação de substituição continua a ser uma solução excecional e, como tal, sujeita a autorização prévia, para situações muito específicas de infertilidade (a «celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição só é possível a título excecional […] nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem» – n.º 2 do artigo 8.º – devendo tais contratos ser precedidos de autorização – n.ºs 3 e 4 do mesmo artigo). Além disso, e como já referido, verificando-se o nascimento de uma criança na sequência da execução de um contrato de gestação de substituição eficaz, a lei determina o afastamento do critério geral de estabelecimento da filiação previsto no artigo 1796., n.º 1, do Código Civil, seja em relação à mãe, seja em relação ao pai, passando a mesma criança a ser tida como filha de quem figura como beneficiário no dito contrato (artigo 8.º, n.º 7).
Em segundo lugar, só são admissíveis acordos de gestação de substituição de natureza gratuita (v., de novo, o citado n.º 2 do artigo 8.º: a «celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição só é possível […] com natureza gratuita»). Isto mesmo se confirma no artigo 8.º, n.º 5, que afirma ser «proibido qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de substituição pela gestação da criança, exceto o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestado».
Por outro lado, e como reforço da garantia da liberdade das partes, em especial da gestante, a lei exige a inexistência de relações de subordinação económica entre elas: «[n]ão é permitida a celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição quando existir uma relação de subordinação económica, nomeadamente de natureza laboral ou de prestação de serviços, entre as partes envolvidas» (artigo 8.º, n.º 6).
A lei acautela a existência de uma ligação genética com pelo menos um dos beneficiários, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, exigindo o recurso a gâmetas de, pelo menos, um deles. Acresce que a lei exclui em absoluto a substituição genética: «a gestante de substituição [não pode], em caso algum, ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante» (v. ibidem).
Por fim, o contrato deve ser celebrado por escrito (artigo 8.º, n.º 10), e a necessária autorização prévia é da competência do CNPMA, antecedida da audição da Ordem dos Médicos (artigo 8.º, n.º 4). Todavia, a lei não estabelece quaisquer cláusulas obrigatórias que devam constar do referido contrato, limitando-se a prever que do mesmo contrato «devem constar obrigatoriamente, em conformidade com a legislação em vigor, as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez» e que o «contrato […] não pode impor restrições de comportamentos à gestante de substituição, nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade» (cfr., respetivamente, os n.ºs 10 e 11 do artigo 8.º; itálicos aditados).
Estes traços essenciais do regime jurídico-positivo devem ser tomados em consideração na ponderação de valores a levar a cabo no presente caso e permitem, desde logo, traçar um perfil da gestação de substituição lícita no ordenamento português, enquanto instituto jurídico ou figura jurídica a se: a mesma reveste caráter subsidiário e excecional, assume uma natureza meramente gestacional, pressupõe o consentimento autónomo dos interessados destinado a garantir a sua voluntariedade e tem de ser formalizada por via de um contrato a título gratuito, previamente autorizado, encontrando-se tal competência autorizativa atribuída ao CNPMA. E é este o perfil do que pode designar-se por modelo português de gestação de substituição, a considerar para uma apreciação da inadmissibilidade constitucional de princípio da figura ou instituto jurídico, isto é, independentemente de aspetos particulares do seu regime, como a sustentada pelos requerentes no seu pedido de fiscalização.
B.2. Direito internacional e direito da União Europeia
- No plano do direito internacional, a gestação de substituição releva tanto para efeito das normas que procuram prevenir a mercantilização do corpo humano ou de partes dele, como das normas respeitantes à defesa dos direitos da criança. Por outro lado, também não pode ignorar-se o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (“TEDH”) quanto ao artigo 8.º (direito ao respeito da vida privada e familiar) da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (“CEDH”).
Relativamente ao primeiro aspeto, importará considerar, desde logo, o artigo 21.º (Proibição da obtenção de lucros) da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina (“Convenção de Oviedo”), aprovada em 1997, no âmbito do Conselho da Europa (cfr. a Resolução da Assembleia da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro, e o Decreto do Presidente da República n.º 1/2001, da mesma data):
«O corpo humano e as suas partes não devem ser, enquanto tal, fonte de quaisquer lucros.»
Este princípio encontra-se alinhado com o que prevê a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (“UNESCO”) na sua 29.ª sessão, a 11 de novembro de 1997 (cfr. o respetivo artigo 4.º: o «genoma humano no seu estado natural não deverá dar origem a benefícios pecuniários»). No mesmo sentido, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (“CDFUE”) estabelece no seu artigo 3.º, n.º 2, alínea c), que, no domínio da medicina e da biologia, deve ser respeitada «a proibição de transformar o corpo humano ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte de lucro».
Na ponderação das questões colocadas pelo recurso à gestação de substituição deve ainda ser tida em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança, (cfr. a Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 de setembro, e o Decreto do Presidente da República n.º 49/90, da mesma data). O respetivo artigo 3.º, n.º 1, consagra o primado do interesse da criança como critério axiológico-prático de quaisquer decisões relativas a crianças:
«Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança.»
O artigo 7.º, n.º 1, da mesma Convenção consagra o direito da criança a ser registada imediatamente após o nascimento e, «desde o nascimento, o direito a um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os seus pais e de ser educada por eles». Por sua vez, o artigo 9.º, n.º 1, primeira frase, prevê que os «Estados Partes garantem que a criança não é separada de seus pais contra a vontade destes, salvo se as autoridades competentes decidirem, sem prejuízo de revisão judicial e de harmonia com a legislação e o processo aplicáveis, que essa separação é necessária no interesse superior da criança».
A nível europeu, ainda no tocante aos direitos da criança, cumpre destacar a Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças, adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1996 (cfr. a Resolução da Assembleia da República n.º 7/2014, de 27 de janeiro, e o Decreto do Presidente da República n.º 3/2014, da mesma data), que, segundo o seu artigo 1.º, n.º 2, «tendo em vista o superior interesse das crianças, visa promover os seus direitos, conceder-lhes direitos processuais e facilitar o exercício desses mesmos direitos, garantindo que elas podem ser informadas, diretamente ou através de outras pessoas ou entidades, e que estão autorizadas a participar em processos perante autoridades judiciais que lhes digam respeito». E, sobretudo, o artigo 24.º (Direitos das crianças) da CDFUE: «[t]odos os atos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por instituições privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança» (n.º 2); e «[t]odas as crianças têm o direito de manter regularmente relações pessoais e contactos diretos com ambos os progenitores, exceto se isso for contrário aos seus interesses» (n.º 3).
Fácil é compreender que vários destes direitos dos menores podem ser gravemente afetados em casos de gestação de substituição, principalmente quando se verificam conflitos entre os ordenamentos jurídicos e soluções específicas consagradas em determinados regimes legais, de natureza permissiva em relação à gestação subrogada, são tidas por contrárias à ordem pública noutra ordem jurídica. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado tem-se ocupado deste problema, tendo divulgado em 2014 um estudo sobre parentalidade e questões colocadas pelos acordos internacionais de gestação de substituição (acessível a partir de https://assets.hcch.net/docs/bb90cfd2-a66a-4fe4-a05b-55f33b009cfc.pdf), no qual se ensaia o desenho de um instrumento multilateral, que consagre algumas normas com vista a limitar os potenciais conflitos.
No plano político, cumpre desde logo recordar a mencionada Resolução do Parlamento Europeu 2015/2229 (INI), de 17 de dezembro de 2015, a que o Presidente da República se referiu no seu veto (cfr. supra o n.º 5).
Também no âmbito da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, o Comité de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável aprovou em 21 de setembro de 2016 um projeto de recomendação afirmando a conveniência de elaborar diretrizes tendentes a salvaguardar os direitos das crianças em conexão com os acordos de gestação de substituição, fundamentado num memorando em que se reconhecia ser consensual que a gestação de substituição a título oneroso é lesiva dos superiores interesse da criança e, por isso, deve ser proibida, e, outrossim, a necessidade de os Estados não violarem os direitos das crianças quando tomam medidas para salvaguarda da sua ordem pública e para desincentivar o recurso à gestação de substituição (acessível a partir de http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-bbc0-0113402749b5). Por isso, o memorando preconizava que os Estados Partes proibissem todas as formas de gestação de substituição onerosa, e que colaborassem entre si, no sentido de proteger os direitos das crianças sempre que tomassem medidas para proteger a ordem pública e desencorajar o recurso a este tipo de práticas. Todavia, o projeto de recomendação foi rejeitado por aquela Assembleia, na sua sessão de 11 de outubro de 2016, considerando-se que o mesmo tendia a contemporizar com práticas ilegais e, por isso, a aceitar a admissibilidade de princípio da gestação de substituição. No entanto, também foram rejeitadas as emendas ao projeto, que apontavam no sentido de serem proibidas pelo direito internacional todas as formas de gestação de substituição.
- No plano específico do quadro paramétrico decorrente da CEDH, a questão da gestação de substituição e dos direitos dos envolvidos – beneficiários, gestante e criança – tem sido abordada, em regra, à luz do disposto no artigo 8.º (Direito ao respeito da vida privada e familiar). O TEDH foi já chamado a pronunciar-se num número expressivo de casos, começando a desenhar-se uma jurisprudência firme quanto a diversos aspetos.
Desde logo, aquele Tribunal tem traçado uma distinção fundamental entre o direito à vida privada dos beneficiários da gestação de substituição e o direito à vida privada e familiar das crianças assim nascidas. Quanto ao primeiro aspeto, o Tribunal de Estrasburgo tem-se inclinado pela não violação da CEDH, e pelo reconhecimento aos Estados de uma ampla margem de apreciação no estabelecimento de um equilíbrio entre os valores constitucionais em conflito (dignidade da pessoa humana, ordem pública e proteção das potenciais gestantes). Todavia, no que respeita às crianças nascidas através do recurso à gestação de substituição, e à definição e prossecução do seu superior interesse, nos termos da Convenção e das demais normas pertinentes de direito internacional (em particular, a Convenção sobre os Direitos das Crianças), o TEDH tem entendido que o não reconhecimento da filiação e a recusa de atribuição (à criança) da nacionalidade dos pais-beneficiários têm como consequência um dano intolerável para o direito à vida privada, nomeadamente, devido à situação de indefinição jurídica em que as crianças são deixadas, que as impossibilita de estabelecer os detalhes da sua identidade como ser humano.
Esta linha jurisprudencial é importante para a análise a levar a cabo no plano jurídico-constitucional interno, já que é diferente a ponderação de bens jurídicos quando se confrontam apenas os interesses privados dos beneficiários e da gestante e os interesses públicos constitucionalmente relevantes, da operação de concordância prática a efetuar num momento, após o nascimento da criança, em que todo o processo decisório deve ter por propósito cimeiro a tutela do superior interesse da criança. O espaço de conformação dos Estados para procurar uma solução específica, consentânea com o seu particular quadro axiológico e valorativo, é substancialmente mais pequeno no segundo caso, no qual se impõe a salvaguarda de um elevado standard de proteção dos direitos fundamentais da criança.
De todo o modo, não pode perder-se de vista que os casos apreciados pelo TEDH apresentam diferenças importantes em relação à ponderação que deve ser efetuada pelo Tribunal Constitucional. Aquele Tribunal não procede a um controlo abstrato da compatibilidade de normas jurídicas com certos parâmetros. Diferentemente, as suas apreciações respeitam, por um lado, a situações concretas que têm, em regra, uma dimensão internacional, respeitando a crianças nascidas no estrangeiro, fruto de gestação de substituição; por outro lado, o juízo de ponderação não incide imediatamente sobre a admissibilidade da gestação de substituição em si mesma, uma vez que se trata de casos referentes a crianças já nascidas, o que implica a ponderação dos direitos destas, enquanto sujeito autónomo. Nesse âmbito, como o próprio Tribunal reconhece, não lhe compete substituir pela sua a apreciação feita pelas autoridades nacionais competentes no que se refere à determinação do «meio mais apropriado para regular a questão – complexa e sensível – da relação entre os pais intencionais e uma criança nascida no estrangeiro com recurso a um acordo comercial de gestação por conta de outrem e a utilização de uma técnica de PMA, nos casos em que tal acordo e a referida técnica sejam proibidos no Estado requerido» (v. § 180 do Acórdão de 24 de janeiro de 2017, Paradiso and Campanelli c. Itália (Queixa n.º 25358/12) ).
Importa começar por referir um primeiro grupo de casos decididos pelos Acórdãos de 26 de junho de 2014, Mennesson c. França (Queixa n.º 65192/11) e Labassee c. França (Queixa n.º 65941/11), e de 21 de julho de 2016, Foulon c. França (Queixa n.º 9063/14) e Bouvet c. França (Queixa n.º 10410/14). Em todos eles o TEDH foi chamado a apreciar se o não reconhecimento, em França, da filiação constante de certidões de nascimento emitidas pelas autoridades de um outro Estado relativamente a crianças aí nascidas através do recurso à gestação de substituição constituía uma violação do artigo 8.º da CEDH. Nesses casos, os requerentes – que eram os pais beneficiários do contrato de gestação de substituição, sendo o pai beneficiário igualmente o pai biológico – invocaram que a decisão dos tribunais franceses de não reconhecerem a nacionalidade francesa das crianças violava o direito ao respeito da vida familiar e o direito ao respeito da vida privada das crianças, ínsitos no citado artigo da Convenção.
O Tribunal aceitou que o não reconhecimento da filiação pode efetivamente implicar dificuldades práticas na vida familiar dos requerentes e das crianças, na medida em que estas últimas não possuem legalmente a nacionalidade francesa e documentos franceses, mas sim nacionalidade e documentos do Estado em que nasceram. Mas, por outro lado, entendeu também que os obstáculos práticos que as famílias têm de enfrentar, na sequência da decisão de não reconhecimento da filiação, não são inultrapassáveis, porquanto aquelas se encontram a residir em França com as crianças, não havendo qualquer elemento que indiciasse o risco de serem separadas pelas autoridades francesas. Consequentemente, entendeu que as decisões dos tribunais franceses não tinham excedido os limites da margem de apreciação interna dos Estados, tendo aqueles procedido a uma ponderação adequada entre os interesses dos requerentes e os interesses de ordem pública estadual.
Decisão distinta foi, porém, proferida relativamente à alegada violação do direito ao respeito da vida privada das crianças. Como o Tribunal começou por notar, tal direito inclui a possibilidade de cada pessoa estabelecer os detalhes da sua identidade como ser humano, o que inclui a relação jurídica de filiação. Ora, neste plano, as crianças encontravam-se numa situação de indefinição jurídica devida à recusa de transcrição do registo: embora os tribunais franceses reconhecessem que existia uma relação de filiação entre os beneficiários e as crianças à luz do direito estrangeiro, essa relação não era reconhecida à luz do direito francês. Os juízes entenderam que esta contradição não só colocava em causa a identidade das crianças no seio da sociedade francesa, como limitava a possibilidade de estas obterem a nacionalidade francesa e de serem titulares de direitos sucessórios perante a lei francesa. O problema era ainda agravado pelo facto de o beneficiário ser o progenitor genético das crianças em questão, o que fazia com que o não reconhecimento da relação de filiação entre os dois à luz do direito francês assumisse contornos particularmente prejudiciais para o superior interesse das crianças, na medida em que uma das componentes essenciais da sua identidade seria necessariamente afetada. Por conseguinte, o Tribunal concluiu que as decisões dos tribunais franceses de recusa de transcrição excediam a margem de apreciação do Estado francês na ponderação dos interesses em conflito, verificando-se uma violação do direito ao respeito da vida privada das crianças.
O segundo conjunto de decisões respeita ao caso Paradiso and Campanelli c. Itália (Queixa n.º 25358/12), com origem nos tribunais italianos.
Estava em causa um casal italiano que havia celebrado um contrato oneroso de gestação de substituição na Rússia, prevendo a gestação da criança por uma mulher russa, com recurso ao material genético do beneficiário e de uma terceira dadora. Após o nascimento da criança, as autoridades russas lavraram uma certidão de nascimento, constando aquela como filha do casal beneficiário. Porém, quando os beneficiários requereram em Itália a transcrição da certidão de nascimento, as autoridades italianas não só recusaram o pedido, como iniciaram um inquérito penal contra aqueles, por falsificação de documentos e deturpação do estado civil. Após a realização de testes de ADN, comprovou-se que a criança não tinha afinal sido gerada com recurso aos gâmetas de nenhum dos membros do casal, o que motivou a sua retirada e posterior adoção por outra família. O caso foi objeto de queixa para o TEDH, que o apreciou em duas instâncias.
Na primeira decisão, datada de 27 de janeiro de 2015, o TEDH centrou a sua análise na necessidade de ponderação dos interesses públicos e privados em conflito, tendo como referência o princípio fundamental do superior interesse da criança. Nestes termos, e no que respeita à primeira decisão emitida pelas autoridades italianas (uma recusa de reconhecimento da certidão de nascimento emitida pelas autoridades russas e, consequentemente, da relação de filiação aí estabelecida), a Câmara de Julgamento considerou que as mesmas não tinham agido de forma desrazoável, na medida em que a criança não possuía qualquer ligação genética com os beneficiários. O mesmo entendimento não foi, porém, mantido a propósito da apreciação da decisão dos tribunais italianos de retirar a criança de casa dos beneficiários, tendo os juízes de Estrasburgo considerado que os interesses da criança não tinham sido devidamente equacionados, o que implicava a uma violação do artigo 8.º da Convenção.
Esta decisão foi, todavia, revertida em 24 de janeiro de 2017, pela Câmara de Apelação (Grand Chamber) do TEDH, tendo a posição maioritária vencido por 11 votos contra 6. Em primeiro lugar, o Tribunal entendeu que não tinha existido verdadeiramente vida familiar entre os beneficiários e a criança, especialmente devido à curta duração da vida em comum (6 meses em Itália e 2 meses na Rússia) e à inexistência de uma ligação genética entre os mesmos, pelo que o direito ao respeito da vida familiar não seria aplicável in casu (§§ 157 e 158).
Os juízes consideraram, porém, que o direito ao respeito da vida privada seria aplicável ao caso, na sua vertente de direito ao respeito da decisão de os “pais intencionais” assumirem responsabilidades parentais e ao desejo de se desenvolverem por essa via, atenta a sua intenção genuína em serem pais e a existência de laços emocionais e afetivos com a criança (§ 163). Ou seja, a mera ausência de uma relação genética entre os pais intencionais e a criança (e, bem assim, a inexistência de uma relação familiar duradoura) não foi considerada um obstáculo à consideração da posição desses progenitores no âmbito de proteção do direito ao respeito da vida privada e familiar consagrado no artigo 8.º da CEDH.
A partir daqui, o Tribunal apreciou se a afetação desse direito poderia ser justificada com base nos pressupostos previstos no n.º 2 do artigo 8.º da CEDH: (i) tratar-se de uma ingerência prevista na lei; e (ii) constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para garantir certos bens fundamentais, em especial, a defesa da ordem pública e dos direitos e liberdades da criança (cfr. o § 177: o Tribunal considera legítima a vontade das autoridades italianas de reafirmarem a competência exclusiva do Estado para reconhecer um vínculo de filiação em vista da proteção das crianças, e que este tenha na sua base apenas uma ligação biológica ou uma adoção regular). Avaliando o impacto que a separação irreversível entre os beneficiários e a criança teve na vida privada dos primeiros, o Tribunal considerou que as autoridades italianas haviam procedido a uma ponderação adequada dos interesses em conflito, e que os interesses públicos deveriam ser tidos como prevalecentes neste caso, a fim de evitar a consolidação no ordenamento jurídico de uma situação criada intencionalmente pelos beneficiários da gestação de substituição em incumprimento de normas importantes do direito italiano. Deste modo, o TEDH concluiu que os tribunais italianos, ao verificarem que a criança não sofreria danos graves ou irreparáveis em consequência da separação, não tinham extravasado da margem de apreciação estadual consentida, pelo que não ocorrera uma violação do artigo 8.º da CEDH.
- No âmbito do direito da União Europeia, as questões suscitadas pela gestação de substituição relacionam-se com o regime de proteção social da parentalidade dos pais sociais ou pais intencionais, nomeadamente no que se refere à admissibilidade (ou até à necessidade) de interpretação extensiva ou aplicação analógica dos direitos à licença para adoção e à licença de maternidade ou paternidade. O Tribunal de Justiça reconhece que a gestação de substituição coloca problemas quanto à questão de saber se os direitos sociais previstos em instrumentos de direito da União Europeia são aplicáveis às mulheres beneficiárias, mas tende a considerar que, por se tratar de uma realidade nova, a mesma não se encontra tutelada por tais instrumentos. Em qualquer caso, o referido Tribunal não exclui a admissibilidade e relevância daquele modo de constituição de relações parentais, enquanto pressuposto da atribuição de tais direitos.
Por exemplo, no Acórdão de 18 de março de 2014, C.D. (C-167/12) – um caso relativo a um reenvio prejudicial proveniente do Reino Unido –, aquele Tribunal entendeu:
«1) A Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho […], deve ser interpretada no sentido de que os Estados‑Membros não são obrigados a conceder uma licença de maternidade a título do artigo 8.° desta diretiva a uma trabalhadora, na sua qualidade de mãe intencional que teve um filho através de um contrato de maternidade de substituição, mesmo quando pode amamentar essa criança após o parto ou quando a amamenta efetivamente» (nesta parte, contra as conclusões da Advogada-Geral; itálico aditado);
2) O artigo 14.° da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, lido em conjugação com o artigo 2.°, n.ºs 1, alíneas a) e b), e 2, alínea c), desta diretiva, deve ser interpretado no sentido de que o facto de um empregador recusar conceder uma licença de maternidade a uma mãe intencional que teve um filho através de um contrato de maternidade de substituição não constitui uma discriminação em razão do sexo» (itálico aditado).
Num outro Acórdão, proferido na mesma data, Z. (C-363/12), o Tribunal de Justiça, confirmou que a citada Diretiva 2006/54/CE, nomeadamente os seus artigos 4.° e 14.°, deve ser interpretada no sentido de que «não constitui uma discriminação em razão do sexo o facto de se recusar a concessão de uma licença remunerada equiparada à licença de maternidade ou à licença por adoção a uma trabalhadora, na sua qualidade de mãe intencional que teve um filho através de um contrato de maternidade de substituição» (desta feita, em concordância com as conclusões do Advogado-Geral no processo; itálico aditado). E declarou ainda:
«A Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, deve ser interpretada no sentido de que não constitui uma discriminação em razão de uma deficiência o facto de se recusar a concessão de uma licença remunerada equiparada à licença de maternidade ou à licença por adoção a uma trabalhadora que sofre da incapacidade de levar uma gravidez a termo e que recorreu a um contrato de maternidade de substituição» (itálico aditado).
Sendo a dignidade do ser humano consagrada como parâmetro fundamental do direito da União Europeia no artigo 1.º da CDFUE, não deixa de ser significativo que o Tribunal de Justiça se limite a afastar o reconhecimento dos invocados direitos sociais pelas Diretivas em análise apenas com base na letra, no sistema e na teleologia dessas mesmas Diretivas, não questionando a admissibilidade de princípio, face a opção político-jurídica nelas vertida, de tais direitos poderem ser reconhecidos aos beneficiários de acordos de gestação de substituição.
B.3. A gestação de substituição no direito comparado
- A gestação de substituição também tem sido objeto de amplo debate interno em muitos Estados. Em boa parte dos países, existe um vazio de regulação relativamente aos procedimentos de gestação de substituição: não se proíbe, mas também não se reconhece legalmente a validade e a eficácia dos contratos de gestação de substituição ou as consequências deles decorrentes. No âmbito de tais ordenamentos, ocorrendo a celebração de contratos de gestação, os beneficiários procuram “validar” as consequências deles decorrentes, por via do recurso ao instituto da adoção.
As soluções legislativas encontradas aí onde existe um regime legal expresso podem dividir-se em três grupos fundamentais. Alguns ordenamentos jurídicos permitem e regulam a prática, a título oneroso e, ou, gratuito, estabelecendo vínculos de parentalidade entre os beneficiários e a criança concebida imediatamente após o parto, de forma direta e automática, por força da lei. Noutros ordenamentos, contudo, verifica-se um reconhecimento inicial da gestante como mãe, sendo necessário um processo judicial para atribuição da maternidade e paternidade aos membros do casal beneficiário. Um último grupo de países proíbe e pune a prática da gestação de substituição.
A proibição é, aliás, a solução típica dos ordenamentos jurídicos romano-germânicos. Efetivamente, essa é a regra constante das ordens jurídicas da Alemanha, da Áustria, de Espanha, de França e de Itália. Na Suíça, tal proibição encontra-se estabelecida logo ao nível da Constituição, juntamente com a doação de embriões (cfr. o artigo 119.º, alínea 2, letra d), da Constitution fédérale de la Confédération suisse). Ainda no âmbito da União Europeia, há outros Estados-Membros que proíbem expressamente a gestação de substituição, como é o caso da Bulgária e de Malta. A matéria tem sido bastante debatida nos países nórdicos, tendo a Noruega clarificado as regras de reconhecimento da paternidade das crianças nascidas através de gestação de substituição no estrangeiro, embora a prática não seja legal no país. Também não o é na Dinamarca, na Finlândia (onde decorreu sem enquadramento legislativo até 2007, altura em que foi proibida), nem na Suécia (onde um relatório independente solicitado pelo governo, em 2016, concluiu pela necessidade de proibição, em virtude do risco de pressões para a gestante e da falta de conhecimento das consequências da prática para as crianças nascidas através da mesma). Uma proibição expressa vigora também em quatro Estados federados dos Estados Unidos da América: Indiana, Michigan, Nova Jérsia e Nova Iorque.
É ainda importante notar que um grupo relevante de países com legislação mais permissiva nesta matéria tem vindo a adotar restrições importantes. Nesse sentido, alguns Estados passaram a proibir os contratos onerosos de gestação de substituição (por exemplo, a Tailândia, em 2015, e a Índia, em 2016). Foram igualmente introduzidas limitações ao universo subjetivo dos beneficiários possíveis da gestação de substituição, em particular restringindo-se o acesso a nacionais e, ou, estrangeiros legalmente residentes no país (é, por exemplo, o caso, desde 2015, do Nepal e da Índia; a Tailândia, também em 2015, limitou a sua prática gratuita aos casais heterossexuais casados, devendo pelo menos um dos seus membros ter nacionalidade tailandesa). Desta forma, muitos dos países que constituíam elementos chave do mercado internacional de gestação de substituição têm vindo a limitar a prática, reduzindo, assim, as possibilidades de recurso a tais mecanismos por parte dos cidadãos de outros países.
Centrando a atenção em ordenamentos jurídicos de Estados-Membros da União Europeia, é possível, no entanto, encontrar exemplos de vários modelos legislativos no que toca à prática da gestação de substituição.
- Na Alemanha, o recurso à gestação de substituição não é diretamente proibido ou punido. Contudo, a censura jurídica em relação a estes contratos resulta inequivocamente de várias disposições previstas no ordenamento jurídico alemão, designadamente da Lei de Proteção de Embriões (Embryonenschutzgesetz – ESchG, v., em especial, o § 1, alíneas 1, n.º 7, e 3, n.º 2: punição de quem realize inseminação artificial ou implante um embrião em mulher disposta a entregar permanentemente a criança após o parto a terceiros [– Ersatzmutter –], mas não da gestante nem dos beneficiários), do Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB, v., em especial, os §§ 134 e 138, alínea 1 – nulidade do contrato de gestação de substituição – e 1591 e 1592 – determinação da maternidade com base no facto do nascimento e regras de determinação da paternidade) e da Lei da Adoção (Adoptionsvermittlungsgesetz – AdVermiG, v., em especial, os §§ 13c e 14b: respetivamente, proibição da mediação de acordos de gestação e punição criminal dos seus mediadores).
Por outro lado, a jurisprudência tem também vindo a decidir no sentido da invalidade deste tipo de contratos. E, tal como hoje é habitual nos ordenamentos jurídicos de matriz romano-germânica, muitos dos processos judiciais respeitam a casos em que os beneficiários recorrem à gestação de substituição em países onde a mesma é permitida e faculta o acesso dos beneficiários ao vínculo de filiação, com vista ao posterior reconhecimento da mesma nos seus países de origem.
Uma das decisões mais importantes sobre tal problemática é o acórdão do Bundesgerichtshof, de 10 de dezembro de 2014 (Processo XII ZB 463/13), que, tendo em conta o superior interesse da criança – neste particular seguindo uma orientação perfilhada pelo TEDH – e a ausência de contradição com a ordem pública internacional alemã (nomeadamente por incompatibilidade do reconhecimento com os direitos fundamentais), considerou não existirem impedimentos ao reconhecimento efetuado por um tribunal estrangeiro da paternidade jurídica dos beneficiários (Wunscheltern) relativamente a uma criança nascida na sequência do recurso a gestação de substituição. Para o efeito, o Bundesgerichtshof entendeu como decisivo o seguinte:
«Desde que esteja garantido que o acordo e a execução da gestação de substituição [Leihmutterschaft] segundo o direito aplicado pelo tribunal estrangeiro obedeçam a exigências que salvaguardem a voluntariedade da decisão da gestante de suportar a gravidez e de, após o parto, entregar a criança aos pais intencionais, é a disponibilidade da gestante para proceder a tal entrega comparável à de uma adoção. A dignidade humana da gestante não é violada apenas pela circunstância de estar em causa a concretização de uma gestação de substituição […] E o mesmo vale, desde logo, também para a criança, que sem a gestante não teria nascido […]. Caso o tribunal estrangeiro verifique a eficácia do acordo de gestação de substituição e o estabelecimento da filiação jurídica relativamente aos pais intencionais no âmbito de um procedimento conforme às exigências próprias de um Estado de direito, tal decisão, na ausência de dados em sentido contrário, oferece a garantia de que a decisão da gestante é livre, assim como da voluntariedade da entrega da criança aos pais intencionais.
A situação da gestante após o nascimento da criança é, deste modo, comparável à de uma mãe que consente na adoção do seu filho. […]
A dignidade humana da gestante pode, ao invés, ser violada, caso a gestação de substituição seja realizada em circunstâncias que não assegurem a sua colaboração voluntária, ou caso faltem indicações essenciais e completas, quanto à pessoa da gestante, quanto às condições em que esta se dispôs a suportar a gravidez ou quanto ao acordo de gestação […] ou se, na tramitação do processo junto do tribunal estrangeiro, tiverem sido desrespeitadas garantias procedimentais fundamentais […].» (Rn. 49-51)
Esta decisão abriu aos casais que por qualquer razão não têm filhos a possibilidade de conservarem na Alemanha uma relação de parentalidade jurídica estabelecida no estrangeiro sem recurso ao procedimento de adoção, não obstante a inadmissibilidade nesse país dos contratos de gestação de substituição (no mesmo sentido, v., por exemplo, o acórdão do Oberlandesgericht Celle, de 22 de maio de 2017, Processo 17 W 8/16, que também critica a decisão em sentido contrário do Oberlandesgericht Braunschweig, de 12 de abril de 2017, Processo 1 UF 83/13; esta última foi objeto de recurso para o Bundesgerichtshof; Processo XII ZB 224/17).
- Na Áustria, a Fortpflanzungsgesetz – FmedG (Lei da Reprodução Medicamente Assistida) não contém uma referência explícita à gestação de substituição, pelo que se considera que a mesma não é admissível no ordenamento daquele país. O critério da maternidade é fixado no § 137b do Código Civil, segundo o qual é considerada como mãe a mulher que dá à luz.
Esta regra foi, contudo, afastada em duas decisões do Verfassungsgerichtshof, uma de 14 de dezembro de 2011 (Processo B 13/11-10), e a outra de 11 de outubro de 2012 (Processo B 99/12 ua). Perante a questão de saber se crianças nascidas no estrangeiro através do recurso à gestação de substituição poderiam beneficiar da nacionalidade austríaca em situações em que, pelo menos um dos beneficiários é progenitor genético da criança, aquele tribunal respondeu afirmativamente, considerando, no essencial: (i) o superior interesse da criança, já que a aplicação da regra geral prevista no § 137b do Código Civil determinaria que a gestante fosse considerada a mãe jurídica da criança que dera à luz, forçando-a a assumir a responsabilidade parental contra a sua vontade e sem atender ao facto de a mesma não possuir qualquer ligação genética com a criança; (ii) que a aplicação da referida norma iria não só impedir que a criança pudesse ficar à guarda dos seus progenitores genéticos e excluí-la de vários direitos possíveis (v.g. direitos sucessórios), como poderia fazer com que ela fosse considerada apátrida, caso o Estado da nacionalidade da gestante não lhe permitisse requerer a cidadania desta (v.g. Ucrânia). Por outro lado, o Verfassungsgerichtshof considerou que, nos termos do artigo 8.º da CEDH, o direito ao respeito pela vida privada e familiar inclui o direito da criança de adquirir a nacionalidade quando existe uma relação de parentesco entre a criança e os progenitores, pelo que deveria ter-se por constitucionalmente excluída a aplicação da citada norma do Código Civil para determinar a parentalidade jurídica (e, consequentemente, a nacionalidade) das crianças nascidas no exterior com recurso à gestação de substituição.
- Em Espanha, vigora uma proibição legal absoluta de recurso à gestação de substituição (Ley 14/2006, de 26 de mayo, artigo 10.º – Gestación por sustitución – n.º 1: «[s]erá nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero»). Ainda nos termos da lei, a gestante deverá ser tida, para todos os efeitos, como mãe da criança que vier a nascer na sequência de um contrato de gestação, embora seja possível que o elemento masculino do casal beneficiário do contrato que tenha doado gâmetas seus, possa reivindicar a paternidade da criança. Por sua vez, o artigo 221.º do Código Penal espanhol criminaliza várias condutas praticadas em cumprimento de contratos de gestação de substituição onerosos: a entrega da criança pela gestante (n.º 1), a receção da criança pelos beneficiários e as condutas praticadas pelos intermediários neste tipo de contratos (n.º 2).
No plano jurisprudencial, cumpre destacar a Sentencia 835/2013 de 6 de fevereiro de 2014 do Tribunal Supremo, confirmatória de decisões das instâncias que haviam recusado o reconhecimento da filiação feito pelas autoridades americanas, relativamente a uma criança nascida nos Estados Unidos através do recurso à gestação de substituição com material genético de um cidadão espanhol casado com pessoa do mesmo sexo e de uma terceira dadora. O tribunal considerou que tal recusa se baseava apenas no tipo de procedimento utilizado (gestação de substituição), sustentando que o reconhecimento da parentalidade em violação dos critérios estabelecidos na lei espanhola atentaria contra a dignidade da gestante e do menor, «mercantilizando a gestação e a filiação, “coisificando” a mulher e a criança».
- Em França, a gestação de substituição foi proibida de forma expressa pelo legislador em 1994, após a entrada em vigor das denominadas «leis bioéticas», as quais introduziram diversas alterações no Code Civil, no Code de la Santé Publique e no Code Pénal. Uma das inovações consistiu no aditamento do artigo 16-7 ao Code Civil, que estatui a nulidade de qualquer convenção tendo por objeto a procriação ou a gestation pour le compte d’autrui. Esta solução legal foi concebida na sequência de uma importante decisão da Cour de Cassation de 1990, confirmativa da nulidade de uma associação (denominada «Alma mater»), que se dedicava à intermediação de procedimentos de gestação de substituição. O tribunal considerou que os acordos promovidos por esta associação eram ilícitos, devido ao seu objeto, e contrários à ordem pública, por violarem o princípio da indisponibilidade do estado das pessoas.
O Code Pénal, no seu artigo 227-12, primeiro parágrafo, criminaliza o incitamento ao abandono de uma criança, dispondo o seguinte: «le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende». Esta solução visa dar resposta a uma realidade muito frequente em França. Com efeito, desde a década de 80 do século passado que se tem recorrido ao instituto da adoção para encobrir contratos de gestação de substituição, através de um expediente simples: uma mulher aceita ser inseminada com o esperma do beneficiário e compromete-se a exercer, após o nascimento da criança, o direito existente no ordenamento jurídico francês de não ser declarada como mãe da criança (système d’accouchement sous X). Por sua vez, o beneficiário perfilha a criança e, após passar a deter as responsabilidades parentais, permite a adoção da mesma pelo seu cônjuge. Esta prática foi condenada pela Cour de Cassation, que, anulando a decisão recorrida, confirmou a decisão do tribunal de primeira instância de não autorizar a adoção de uma criança nestas condições (Arrêt de 31 de maio de 1991, Processo 90.20105). Segundo a Cour de Cassation, aquele procedimento constitui uma deturpação do instituto da adoção e um atentado aos princípios da indisponibilidade do corpo humano e do estado das pessoas.
A lei francesa é omissa no que respeita à determinação da filiação das crianças nascidas ao abrigo de contratos de gestação nulos. Perante o silêncio da lei, essa determinação tem vindo a ser feita pela jurisprudência. Com efeito, após a entrada em vigor das «leis bioéticas», os processos mais frequentes discutidos nos tribunais franceses neste âmbito têm incidido sobre casos em que os cidadãos, de nacionalidade francesa, recorrem à gestação de substituição em países em que a mesma é lícita, pretendendo os mesmos ver posteriormente reconhecida a filiação da criança no ordenamento jurídico francês.
Num primeiro momento, a Cour de Cassation recusou a transcrição do registo de nascimento das crianças nascidas nestas circunstâncias, fazendo prevalecer o princípio da proibição da gestação de substituição sobre o superior interesse da criança, a fim de combater o “turismo reprodutivo”. Para tanto, aquele tribunal considerou que o reconhecimento de efeitos a um contrato de gestação implicaria uma violação de um princípio essencial do direito francês – o princípio da indisponibilidade do estado das pessoas –, pelo que a recusa do reconhecimento da filiação decorrente desse contrato era legítima à luz da ordem jurídica internacional francesa (Arrêt n.º 1285, de 17 de dezembro de 2008, e Arrêts n.ºs 369, 370 [Mennesson] e 371 [Labassee], de 6 de abril de 2011). Ainda assim, o tribunal não deixou de reconhecer que o não reconhecimento em França da filiação relativamente aos beneficiários do contrato de gestação não anulava a sua existência à luz do direito norte-americano nem impedia a criança de viver em França com o progenitor genético e o outro beneficiário. A mesma recusa de transcrição também foi justificada com o argumento de fraude à lei (Arrêts n.ºs 1091 e 1092, de 13 de setembro de 2013, e n.º 281, de 19 de março de 2014).
Tal oposição à transcrição dos registos de nascimento de crianças concebidas no estrangeiro através do recurso a contratos de gestação de substituição foi, todavia, condenada pelo TEDH (cfr. supra no n.º 11 a jurisprudência do TEDH relativa aos casos Mennesson, Labassee, Foulon e Bouvet). Em consequência, a Cour de Cassation passou a entender que o recurso a um contrato de gestação de substituição, só por si, designadamente por força dos aludidos princípios da indisponibilidade do estado ou da proibição de fraude à lei, não justifica, a recusa de transcrição; a transcrição do registo de nascimento de uma criança nascida no estrangeiro com recurso a um contrato de gestação onde se encontre estabelecida a filiação relativamente ao pai biológico deve ser admitida, desde que o ato estrangeiro seja formalmente regular e substancialmente verdadeiro, isto é, que não seja falsificado e os factos nele declarados correspondam à realidade (Arrêts – da Assemblée plenière – n.ºs 619 e 620, de 3 de julho de 2015). Como foi notado no pertinente comunicado do próprio tribunal, os registos cuja transcrição estava em causa mencionavam, como pai, aquele que realizou um reconhecimento de paternidade e, como mãe, a gestante que deu à luz a criança. Ou seja, não estava em causa a transcrição de um registo em que a filiação estabelecida no estrangeiro respeitasse a “pais sociais” ou “pais intencionais” (parents d’intention) – isto é, a pais que, não tendo qualquer relação genética com a criança, pretendem apenas assumir em relação à mesma as correspondentes responsabilidades parentais.
Esta última questão foi objeto de quatro decisões da Cour de Cassation, datadas de 5 de julho 2017, no sentido de que, estando em causa uma criança nascida através do recurso a gestação de substituição realizada no estrangeiro, o ato de registo, na parte em que a “mãe social” figure como “mãe” (para efeitos de assunção das responsabilidades parentais), não pode ser transcrito (v. Arrêts n.ºs 824, 825, 826 e 827). Ou seja, nessas circunstâncias, a transcrição é admissível na parte em que é reconhecida a paternidade do pai biológico, já que, no seguimento da jurisprudência de 2015, uma gestação de substituição realizada no estrangeiro, de per si, não constitui obstáculo à transcrição de um registo que reflita a realidade dos factos. Por outro lado, a existência de tal gestação, por si só, também não obsta à adoção da criança pelo cônjuge do respetivo pai. Na verdade, a Lei de 17 de maio de 2013 (casamento entre pessoas do mesmo sexo) tem como efeito permitir, por via da adoção, o estabelecimento de um vínculo de filiação entre uma criança e duas pessoas do mesmo sexo sem qualquer restrição relativa ao modo de procriação.
Em suma, a jurisprudência francesa mantém a proibição da gestação de substituição, considerando, no entanto, que a mesma proibição não pode contrariar – nem contraria – o interesse das crianças nascidas com recurso a tal modalidade de procriação que residam em França.
- A Grécia é, atualmente, o Estado-Membro da União Europeia com uma legislação mais permissiva no que se refere à gestação de substituição. As normas jurídicas relativas a esta prática constam do artigo 1458.º do seu Código Civil (aditado pela Lei da Procriação Medicamente Assistida, de 2002) e do artigo 13.º da Lei n.º 3305/2005 («Enforcement of Medically Assisted Reproduction»).
Permite-se o acesso a casais heterossexuais e a mulheres solteiras, quando a beneficiária não possua capacidade para proceder à gestação ou para realizar o parto, estando excluídos os casais do mesmo sexo. Tanto os beneficiários como a gestante devem ser cidadãos gregos ou residentes na Grécia (artigo 8.º da Lei n.º 3089/2002), requisito que se tem verificado essencial para afastar da Grécia os casos de “turismo reprodutivo” que têm ocorrido nos países que não consagram uma exigência semelhante (particularmente, os Estados Unidos, a Ucrânia, a Rússia e, até há bem pouco tempo, a Índia).
Os contratos onerosos de gestação de substituição são proibidos, havendo sanções penais para quem participe (como parte no contrato ou intermediário) em procedimentos de gestação de substituição que violem o regime legal.
Exige-se que a criança seja concebida com o recurso a gâmetas de, pelo menos, um dos membros do casal beneficiário e proíbe-se a substituição genética. Com efeito, o referido artigo 1458.º é claro no sentido de não ser admissível que a criança seja gerada com o recurso a gâmetas da gestante. Este impedimento assume uma importância basilar no regime jurídico grego, na medida em que o mesmo se encontra baseado no princípio de que seria moral, social e juridicamente intolerável obrigar uma mulher a entregar a outra mulher uma criança com a qual partilha uma ligação genética. Por seu turno, a norma já não é tão clara quanto à possibilidade de utilização de gâmetas de um terceiro dador caso um dos beneficiários seja infértil, tendo a doutrina maioritária vindo a considerar que, perante a ausência de uma proibição expressa nesse sentido, se deve admitir essa possibilidade.
A realização do procedimento de gestação de substituição está dependente de autorização judicial prévia, cabendo ao tribunal apreciar o cumprimento dos requisitos legais por parte dos intervenientes e a validade do contrato de gestação. Deste modo, visa-se assegurar a legalidade da realização deste procedimento, só podendo os intervenientes dirigir-se à clínica médica para efetuar o procedimento após a autorização judicial. Em caso de inexistência desta decisão judicial, o procedimento de gestação de substituição não produzirá os efeitos previstos na lei, sendo aplicável a regra geral prevista no Código Civil, nos termos da qual a maternidade é atribuída à mulher que dá à luz a criança.
Ainda nos termos da legislação em vigor, quando o procedimento de gestação de substituição cumpra o disposto na lei, após o nascimento da criança presume-se que a mãe é a mulher beneficiária que obteve autorização judicial para celebrar o contrato de gestação, constituindo esta presunção uma exceção à regra mater semper coerta. Contudo, no prazo de 6 meses após o nascimento, a gestante ou a mulher beneficiária podem ilidir judicialmente essa presunção, se provarem que a criança foi concebida com material genético da gestante, sendo então esta última declarada judicialmente a mãe da criança. O regime jurídico grego assenta, pois, numa distinção central consoante exista substituição genética ou substituição meramente gestacional (a única que é legalmente permitida), considerando, no primeiro caso, que a mãe é a gestante, e, no segundo, que mãe é a mulher beneficiária, após uma decisão judicial nesse sentido.
- Em Itália, a gestação de substituição é legalmente proibida e criminalizada, nos termos da legge 19 febbraio 2004, n. 40, de 19 de fevereiro de 2004, artigo 12.º, n.º 6, respeitante às condutas de realização, de organização e de publicitação da gestação de substituição, gratuita ou onerosa. Apesar de disposições desta lei relacionadas com a proibição de PMA de cariz heterólogo terem sido consideradas inconstitucionais pela Sentenza n. 162/2014, de 9 de abril de 2014, na mesma decisão, a Corte Costituzionale considerou que, ao invés, a proibição constante do referido artigo 12.º, n.º 6, é legítima.
Contudo, a lei italiana é totalmente omissa no que respeita às consequências jurídicas decorrentes da celebração deste tipo de contratos no estrangeiro. Na falta de disposição expressa a regular as consequências dos contratos de gestação, a doutrina e a jurisprudência têm vindo a considerar que, no tocante ao estabelecimento da filiação, é de aplicar o princípio geral estabelecido no terceiro parágrafo do artigo 269.º do Código Civil, segundo o qual é mãe a mulher que dá à luz o filho.
A matéria da gestação de substituição tem vindo a ser objeto de vários processos judiciais, havendo, à semelhança de outros ordenamentos, decisões distintas e, por vezes, contraditórias sobre a matéria. A maioria dos casos em juízo respeitaram, após a lei de 2004, a tentativas de reconhecimento, em Itália, da parentalidade de crianças nascidas através de gestação de substituição no estrangeiro, tendendo os tribunais italianos a não reconhecer a filiação estabelecida no exterior com base em tais contratos (as sentenças respeitantes ao caso Paradiso e Campanelli são exemplo disso mesmo; em sentido idêntico, num caso em que nenhum dos “pais intencionais” havia contribuído geneticamente para a geração da criança, v. a Sentenza n. 24001, de 11 de novembro de 2014, da Corte di Cassazione). De resto, a Corte Costituzionale, ainda que em obiter dictum, já declarou que a gestação de substituição (maternità surrogata) «ofende de modo intolerável a dignidade da mulher e mina profundamente as relações humanas» (v. Sentenza n. 272/2017, de 22 de novembro de 2017).
- O Reino Unido consagra o que pode qualificar-se como uma “solução intermédia” em relação à gestação de substituição. Na verdade, o país foi dos primeiros a regulamentar a prática, em 1985, com a entrada em vigor do Surrogacy Arrangements Act. Atualmente, a disciplina jurídica da gestação de substituição encontra-se essencialmente contida neste diploma e no Human Fertilization and Embriology Act, de 2008, tendo o regime vigente as seguintes caraterísticas fundamentais: (i) os beneficiários devem ser casais, heterossexuais ou homossexuais, que se encontrem unidos pelo matrimónio, por união civil ou por união de facto; (ii) os contratos de gestação não são judicialmente executáveis contra a vontade de qualquer dos intervenientes; (iii) são proibidos e criminalmente punidos os contratos onerosos de gestação; (iv) não se exige autorização judicial ou administrativa prévia do contrato de gestação; (v) a criança deve ser concebida com recurso aos gâmetas de pelo menos um dos membros do casal beneficiário; (vi) é proibida a substituição genética (ou seja, a utilização de gâmetas da gestante, o que faria com que a criança fosse geneticamente sua); e (vii) consagra-se um modelo de transferência judicial da parentalidade da criança, após o nascimento – em regra, através de uma “ordem de parentalidade” (parental order), nos primeiros seis meses de vida do menor – sendo a gestante legalmente considerada como mãe até então.
A figura jurídica da ordem de parentalidade constitui, assim, elemento fundamental para a solução das situações de gestação de substituição. Nestes termos, e apesar de a criança ser legalmente considerada filha da gestante após o nascimento, permite-se a posterior transferência, por via judicial, da parentalidade do menor para os beneficiários do contrato de gestação, uma vez verificado estarem cumpridos os pressupostos legais (por exemplo, pedido realizado nos primeiros seis meses após o nascimento da criança; esta deve encontrar-se a residir no Reino Unido, com o casal beneficiário, no momento em que o pedido é efetuado e no momento em que a ordem é emitida; é necessário o consentimento da gestante e do seu cônjuge, o qual, no caso da gestante, só é válido se emitido 6 semanas após o parto; finalmente, tem de haver comprovação judicial da inexistência de um contrato oneroso de gestação).
Este modelo (do qual se aproximam as soluções de cinco dos treze Estados federados norte-americanos que admitem expressamente a gestação de substituição: Alabama, Califórnia, Flórida, Texas e Utah) consagra, pois, uma solução de compromisso, centrada em acautelar o superior interesse da criança neste complexo tipo de procedimentos, permitindo que esta possa ser juridicamente considerada como filha dos seus progenitores genéticos, que serão, em regra, as pessoas que para ela tinham, desde o primeiro momento, um projeto parental. É ainda um modelo que salvaguarda fortemente a posição da gestante, cujo consentimento esclarecido e consciente é exigido em todas as fases do processo.
B.4. O modelo português de gestação de substituição à luz da dignidade da pessoa humana
- Como se viu, o recurso à gestação de substituição é uma prática disseminada a nível mundial, suscitando interrogações no plano ético, bem como diversos problemas jurídicos. As exigências decorrentes da tutela dispensada aos direitos da criança no plano internacional e da proibição de mercantilizar o corpo humano ou as suas partes e a análise do respetivo enquadramento nos ordenamentos jurídicos de outros Estados permitem traçar um quadro elucidativo do tipo de questões axiológico-jurídicas associadas a tal modo de procriação. É um tema de fronteira e não consensual respeitante à delimitação das formas ética, cultural e socialmente aceites de procriar no âmbito do qual interesses até há pouco naturalmente harmonizados podem surgir em oposição.
Daí não surpreender que nos ordenamentos que consagram expressamente a dignidade do ser humano como um bem fundamental inviolável – e hoje, nos termos do artigo 1.º da CDFUE, em conjugação com cláusulas abertas de direitos fundamentais ou com diretrizes de interpretação conforme (e sem prejuízo do âmbito de aplicação da mesma Carta previsto no seu artigo 51.º), tal vale não só para a própria União Europeia, como para a generalidade dos seus Estados-Membros –, se suscite o problema da compatibilidade de princípio da gestação de substituição – isto é, logo num plano conceptual do próprio instituto jurídico recortado segundo um determinado perfil –, com aquele valor. A questão pode colocar-se diretamente, com referência às soluções do ordenamento interno, ou indiretamente, a propósito de problemas como o do reconhecimento da filiação estabelecida no estrangeiro, como sucedeu, por exemplo, na Alemanha e em Itália (e, no mesmo plano de análise, mas sem referência imediata à compatibilidade com a dignidade humana, também em França).
No que respeita a Portugal, a questão vem diretamente colocada no presente processo, uma vez que um dos parâmetros convocados para o controlo da constitucionalidade do artigo 8.º da LPMA é a dignidade da pessoa humana, prevista nos artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição da República Portuguesa. Com efeito, no entender dos requerentes, a gestação de substituição consubstancia uma inaceitável mercantilização do ser humano, quer no que respeita à gestante, cujo corpo se transformaria num objeto ao serviço dos beneficiários, quer relativamente à criança, que desde antes do nascimento seria objeto de um negócio jurídico.
Se o referido artigo 67.º, n.º 2, alínea e), visou resolver o problema genérico da admissibilidade das técnicas de PMA, o mesmo também deixa muito claro que tal solução normativa não reconhece um direito a toda e qualquer procriação possível segundo o estado atual da técnica, visto que exclui, à partida, as formas de procriação assistida lesivas da dignidade da pessoa humana (cfr., por exemplo, Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, anot. VII ao artigo 69.º, pp. 869-870). A determinação do que possa constituir uma lesão da dignidade da pessoa humana neste contexto surge, pois, como elemento indispensável para uma adequada compreensão daquela imposição constitucional de regulação. Nesse sentido, afirma-se no já citado Acórdão n.º 101/2009:
«O legislador constitucional não se limitou, como se vê, a impor um dever de regulamentar a procriação medicamente assistida. Deu ainda uma referência normativa, uma indicação de princípio, a que o legislador ordinário se deverá submeter, ao exigir que a matéria seja regulada “em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana”. […]»
Torna-se, assim, necessário determinar o sentido substancial que deve ser atribuído à menção da salvaguarda da dignidade humana, uma vez que dele depende a delimitação do espaço de livre conformação do legislador em matéria de regulação da PMA. Como mencionado, a gestação de substituição pressupõe o recurso a uma técnica de PMA heteróloga, diferenciando-se, depois, em virtude da utilização do corpo de outra mulher que não a beneficiária do processo (cfr. o Parecer n.º 87/CNECV/2016, n.º IV.4, p. 15).
Ou seja, face ao artigo 8.º da LPMA, deve este Tribunal começar por controlar se o legislador, ao aprovar aquele preceito, respeitou os limites constitucionais que balizam a sua atuação neste domínio, nomeadamente aqueles que decorrem da dignidade da pessoa humana. Nestes termos, a primeira, e fundamental, questão de constitucionalidade que se coloca a propósito da gestação de substituição é a de saber se, como sustentam os requerentes, os negócios jurídicos legalmente previstos que têm por objeto a utilização temporária do corpo de um ser humano (a gestante) para gerar outro (a criança a nascer por via de tal modo de procriação) não serão incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.
- Não é demais salientar a importância estruturante e a função legitimadora da dignidade humana enquanto base da República: esta é um Estado de direito democrático porque baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular (artigos 1.º e 2.º da Constituição). Mas a segunda está subordinada à primeira; «não se lhe contrapõe como princípio com que tenha de se harmonizar, porquanto é a própria ideia constitucional de dignidade que a exige como forma de realização […A] dignidade da pessoa é axiologicamente primordial e, por isso, a vontade popular está-lhe juridicamente subordinada – não é outro, aliás, o significado da prevalência dos direitos fundamentais sobre a lei» (assim, v. António Cortês in Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2010, anot. III ao artigo 1.º, pp. 77-78; v., igualmente, Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. VI ao artigo 1.º, p. 198, referindo-se à dignidade como “valor-limite”).
Daí, também, a conexão entre a dignidade humana e o sistema de direitos fundamentais: este concretiza a juridicidade do Estado porque aquela é um dos critérios legitimadores do poder estadual. Assim, a dignidade da pessoa humana é o «étimo fundante da República e dos direitos fundamentais» (Acórdão n.º 121/2010) e, por isso, «o sistema dos direitos fundamentais detém uma unidade de sentido, que se organiza em torno da ideia da dignidade das pessoas» (Acórdão n.º 465/2012). Mas, considerando a dignidade da pessoa humana em si mesma, este Tribunal entende-a numa dimensão objetiva e autónoma:
«Ao fazer um apelo ao princípio da dignidade da pessoa humana, no âmbito da procriação medicamente assistida, o preceito remete para o estabelecido no artigo 1º da Constituição, onde se declara que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. […] Neste sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana surge, não como um específico direito fundamental que poderia servir de base à invocação de posições jurídicas subjetivas, mas antes como um princípio jurídico que poderá ser utilizado na concretização e na delimitação do conteúdo de direitos fundamentais constitucionalmente consagrados ou na revelação de direitos fundamentais não escritos» (Acórdão n.º 101/2009).
Como refere Maria Lúcia Amaral, «o princípio da dignidade da pessoa humana acaba por ter um conteúdo de tal modo amplo (idêntico afinal de contas a um dos elementos da tradição do Estado de direito) que não chega a ter densidade suficiente para ser fundamento direto de posições jurídicas subjetivas» (v. Autora cit., “O princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência constitucional” in Jurisprudência Constitucional, n.º 13, 2007, pp. 4 e ss., pp. 4-5; v. também Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. I, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 78 e ss.). Mas, como sublinhado no Acórdão n.º 101/2009 no último trecho citado, tal não impede que o mesmo princípio tenha um valor próprio e que desempenhe diversas funções relevantes em matéria de direitos fundamentais – desde logo, no que se refere ao princípio da igualdade (cfr. o artigo 13.º, n.º 1, da Constituição) e, bem assim, por exemplo, no tocante à identificação de direitos não escritos ou como critério de interpretação e de ponderação nos conflitos entre direitos (v., por último, as referências em Benedita Mac Crorie, “O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição da República Portuguesa” in Afonso Vaz, Catarina Santos Botelho, Luís Heleno Terrinha e Pedro Coutinho (Coord.), Jornada nos Quarenta Anos da Constituição da República Portuguesa – Impacto e Evolução, Universidade Católica Editora – Porto, 2017, pp. 104 e ss., p. 108) – em consonância, de resto, com a necessária articulação das suas múltiplas dimensões («a dignidade como dimensão intrínseca do ser humano, a dignidade como dimensão aberta e carecedora de prestações [e] a dignidade como expressão do reconhecimento recíproco» – v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. VIII ao artigo 1.º, p. 199).
Estes últimos Autores salientam que o valor próprio e a dimensão normativa específica da dignidade humana – a dimensão intrínseca e autónoma de cada ser humano –, constituindo embora um “dado prévio”, não é «um dado fixista, invariável e abstrato[, uma vez que se articula] com a liberdade de conformação e de orientação da vida segundo o projeto espiritual de cada pessoa, o que aponta para a necessidade de, não obstante a existência de uma constante antropológica, haver uma abertura às novas exigências da própria pessoa humana» (v. idem, ibidem). Esta dialética entre o intrínseco-permanente que constitui um prius e a abertura inerente à natureza histórico-cultural da pessoa não é fácil de concretizar positivamente, para mais no quadro de uma sociedade democrática e plural.
E o Tribunal Constitucional tem reconhecido isso mesmo, seja recusando identificar a dignidade humana a partir de um dado sistema de valores, éticos, morais ou religiosos, ou uma certa tradição filosófico-cultural, perspetivando-a como um conceito axiologicamente fixo ou “fechado”; seja recusando considerar tratar-se apenas de uma “norma de receção” de conceções filosóficas predominantes na sociedade (e, nessa medida, de um conceito totalmente aberto e sem um conteúdo próprio). Ao mesmo tempo, e com todas as cautelas, o Tribunal não afasta a possibilidade de tal princípio operar como parâmetro de apreciação da inconstitucionalidade, reconhecendo um primado de concretização ao legislador democrático (v., por exemplo, os Acórdãos n.ºs 105/90 e 359/2009). E, perante soluções legais concretas, o Tribunal reconhece relevo particular à «convergência de soluções legislativas em ordenamentos que, com o português, sem dúvida se integram na mesma básica “civilização jurídica” – e civilização a que justamente é comum a mesma ideia e pressuposto fundamental da “dignidade da pessoa humana”» como «mais um índice ou fator (e particularmente significativo)» de que uma dada solução legal «não implica violação daquele princípio ou pressuposto jurídico essencial, tal como deve ser entendido no quadro constitucional português» (assim, v. o Acórdão n.º 105/90).
É neste quadro problemático que o Tribunal Constitucional tem vindo a concretizar a referida dimensão intrínseca da dignidade humana a partir da sua violação, reconhecendo um importante valor heurístico à chamada “fórmula do objeto” de Günter Dürig («a dignidade humana é atingida quando o ser humano em concreto é degradado [herabgewürdigt] a objeto, a um simples meio, a uma realidade substituível»). Fê-lo, entre outros, nos Acórdãos n.ºs 130/88, 426/91, 89/2000 ou 144/2004. Se é inerente ao ser-humano de cada um – ou seja, a todo e qualquer indivíduo da espécie humana – ter “direito a ter direitos” e, portanto, a qualidade de sujeito titular dos direitos que lhe asseguram o exercício da autonomia na definição e prossecução dos seus fins próprios – os direitos fundamentais –, daí decorre necessariamente que cada um enquanto ser humano não possa ser degradado, desde logo pelos poderes públicos, a mero objeto, isto é, não possa ser tratado como simples meio para alcançar fins que lhe sejam totalmente estranhos.
É a partir desta conclusão que opera o critério de verificação da eventual violação da dignidade humana em torno da proibição de a pessoa ser reduzida a um simples instrumento de fins alheios e, nessa medida, coisificada e tratada como mero objeto (cfr. Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Almedina, Coimbra, 2017, p. 112). Ou seja, «a inconstitucionalidade advém do facto de a pessoa ser utilizada só como meio e, por isso, a atenção é funcionalmente colocada a incidir sobre a definição do que é um tratamento juridicamente censurável da pessoa como meio, como objeto, sobre o sentido dessa coisificação ou dessa instrumentalização» (v. idem, ibidem, p. 113).
Por outro lado, e uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana também postula um valor intrínseco de cada ser humano, assumindo a sua integridade e uma capacidade de autodeterminação em razão da autonomia ética, não se pode excluir a relevância do consentimento livre e esclarecido de quem, relativamente a atuações ou situações que, sendo impostas e não consentidas, atentariam contra a dignidade do sujeito. Com efeito, mesmo reconhecendo poder haver exceções, o consentimento em causa, desde que temporário e não irremediavelmente lesivo da autodeterminação futura do sujeito, constitui, ele próprio, um modo legítimo de afirmação da dignidade humana. E esta vertente da dignidade humana – que também pode estar presente no quadro das relações entre os particulares e os poderes públicos – é fundamental para enquadrar as relações horizontais fundadas na autonomia dos sujeitos e frequentemente regidas por normas de caráter permissivo.
Finalmente, importa não descurar a já mencionada importância do direito internacional e do direito comparado para a fixação de um standard tão universal como a dignidade do ser humano (cfr. os Acórdãos n.º 105/90, acima referido, e n.º 101/2009, no trecho citado supra no n.º 6). A sua consideração permite prevenir «pré-juízos paroquiais» (parochiale Befangenheit) e um «exacerbamento das peculiaridades jurídicas» nacionais:
«Se não se quiser determinar a defesa da dignidade humana apenas a partir do contexto nacional e de condicionamentos históricos particulares, há que recorrer ao direito comparado. Tal é particularmente importante à medida que uma sociedade vai perdendo a sua homogeneidade de valores [Werthomogenität]. Em especial, o olhar sobre a legislação e a jurisprudência de outros países com elevados standards quanto às exigências de um Estado de direito (como é o caso dos Estados-Membros da União Europeia, dos EUA e outros Estados da família jurídica anglo-americana) assegura um significativo ganho de legitimidade e racionalidade. Precisamente quando se toma a sério a dignidade humana como um standard intangível e universalmente vinculativo, não se deve censurar precipitadamente como lesivos de tal dignidade modelos de regulação jurídica de outros modernos Estados de direito. De outro modo, corre-se o risco de a dignidade humana passar a alojar escalas de valor puramente nacionais» (assim, v. Matthias Herdegen in Maunz-Dürig Grundgesetz Kommentar, C.H.Beck, München, Lfg. 55, Mai 2009, Art. 1 Abs. 1, Rn. 43).
- 4.1. A questão da dignidade da gestante de substituição
- No que se refere à gestante de substituição, consideram os requerentes que um acordo de gestação de substituição, independentemente de ser gratuito ou oneroso, implica a sua instrumentalização ao serviço de um desejo de ter filhos dos beneficiários, «praticamente desaparecendo enquanto sujeito de direitos»: a «mãe gestante converte-se numa incubadora ao serviço dos beneficiários» num «processo de coisificação» incompatível com a sua dignidade. Apesar de reconhecerem que, no quadro excecional em que a lei admite a gestação de substituição, a gestante também satisfaz «um louvável espírito altruísta e de solidariedade», desvalorizam tal circunstância por a realidade ser, na grande maioria das vezes, outra, a que corresponde a expressão de sentido pejorativo “barrigas de aluguer”. Em suma, de acordo com tal perspetiva, a violação da dignidade da pessoa humana é uma consequência necessária da gestação de substituição, porquanto esta coenvolve uma inaceitável exploração reprodutiva e a utilização do corpo da mulher.
- Em primeiro lugar, importa não desconsiderar a natureza gratuita dos contratos de gestação de substituição. Tal como na LPMA, só esses são permitidos na Grécia e no Reino Unido. E, em muitos outros países o esforço de limitar o mercado internacional de gestação de substituição passa pela proibição de contratos onerosos. Além disso, a gratuitidade é mais uma garantia de que a atuação da gestante é verdadeiramente livre e, como tal, uma expressão da sua autonomia.
Não menos importante e significativo, é o diferente sentido e alcance que a gestação de substituição gratuita assume para a gestante, em especial num quadro legal como o português, em que tal método de procriação só é admissível a titulo subsidiário («nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem»). Com efeito, a sua intervenção no projeto parental dos beneficiários é co-constitutiva, já que o mesmo não pode assentar exclusivamente no desejo de ter filhos destes últimos. É igualmente essencial a solidariedade ativa da gestante, traduzida na vontade de que aqueles concretos beneficiários sejam os pais da criança que ela venha a dar à luz. Para haver gestação de substituição de acordo com as disposições da LPMA, os beneficiários têm de querer ser pais e a gestante tem de querer que os beneficiários sejam pais. E, por isso mesmo, ao aceitar colaborar ativamente com os beneficiários, a gestante, apesar de se submeter a técnicas de PMA, não assume um projeto parental próprio – ser mãe da criança que vier a dar à luz –, visando antes possibilitar a concretização do projeto parental daqueles (cfr. supra o n.º 8). Nessa exata medida, este projeto parental, sem deixar de ser próprio dos beneficiários, é também partilhado pela gestante: os beneficiários e a gestante querem todos que os primeiros tenham uma criança que seja sua filha, não obstante ter sido dada à luz pela segunda (cfr. o artigo 8.º, n.ºs 1 e 7, da LPMA). E é com base nesta convergência de vontades – rectius: é reconhecendo a sobredita convergência de vontades no pressuposto de a mesma ser válida e eficaz – que a lei prevê um regime especial de estabelecimento da filiação que afasta a regra geral do artigo 1796.º, n.º 1, do Código Civil.
Por outro lado, além de não se poder analisar uma figura jurídica somente a partir das suas patologias – como se o seu funcionamento saudável não seja possível ou sequer imaginável ou deva ser considerado como totalmente irrealista –, a verdade é que o legislador se preocupou em estabelecer condições mínimas que assegurem o requisito positivo da gratuitidade da gestação de substituição: proíbe pagamentos e doações à gestante, excetuadas as compensações de despesas efetivamente incorridas (artigo 8.º, n.º 5, da LPMA) e exige que as partes do contrato de gestação de substituição não tenham entre si vínculos de subordinação económica (n.º 6 do mesmo preceito). Nada na lei impede que o clausulado contratual reforce estes aspetos, embora também não imponha qualquer tipo de cláusulas especificamente votadas a tal desiderato. Mas, em todo o caso, o legislador sanciona civil e penalmente a onerosidade daquele tipo de contratos ou o aproveitamento económico dos mesmos por parte de terceiros (artigos 8.º, n.º 12, e 39.º, n.ºs 1, 2 e 6, da mesma Lei). Em especial, no respeitante à sanção criminal, deve salientar-se que a tentativa é punível e que, em qualquer caso, estão em causa crimes públicos. Isto significa que uma mera denúncia ou suspeita é suscetível de desencadear uma investigação criminal, mobilizando os meios públicos de controlo da legalidade mais eficazes.
Em suma, a gratuitidade da gestação de substituição consagrada no ordenamento português é um dos seus traços essenciais e o legislador adotou medidas efetivas tendentes a garanti-la minimamente, pelo que tal característica tem de ser relevada na análise da admissibilidade constitucional da figura. De resto, foi também essa a conclusão do CNECV na apreciação que fez em 2012 de tal aspeto no seu domínio específico de atuação (cfr. o Parecer n.º 63/CNECV/2012, ponto 2, al. a), p. 9, que refere, como decisivo para a aceitação da gestação de substituição apesar de todos os riscos e incertezas, «a exigência da sua natureza absolutamente gratuita»).
Pelo exposto, o argumento invocado quanto à exploração económica da gestante não procede em face do modelo português de gestação de substituição.
- Em segundo lugar, há que analisar o argumento da instrumentalização da gestante de substituição, segundo o qual esta é reduzida à condição de um simples meio – uma incubadora, isto é, um objeto ao dispor dos interesses reprodutivos de terceiro –, aparecendo a sua dignidade «capturada pela liberdade»; o que conduziria a uma nova e grave forma de discriminação da mesma face ao homem, por poder ser tratada como objeto, e, consequentemente, a uma posição de clara inferioridade face a este (cfr. Paulo Otero, “A dimensão ética da maternidade de substituição” in Direito e Política, n.º 1, Outubro-Dezembro, 2012, pp. 82 e ss., pp. 85-86; no mesmo sentido, v. João Loureiro, “Outro útero é possível: civilização (da técnica), corpo e procriação – Tópicos de um roteiro em torno da maternidade de substituição” in AAVV (Coord.), Direito Penal: Fundamentos Dogmáticos e Político-Criminais – Homenagem ao Prof. Peter Hünerfeld, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 1387 e ss., p. 1413: «a gestante é degradada ao papel de incubadora, numa clara instrumentalização»).
O mesmo argumento surge ampliado e reforçado na perspetiva de Estrela Chaby: a gestação de substituição afronta a dignidade da gestante, porque implica não apenas a instrumentalização de uma parte do corpo da mulher, mas sim a utilização de todo o seu corpo, durante a plenitude do tempo que dura a gestação. Uma vez que o corpo não é separável da pessoa nem a gravidez corresponde a uma “condição médica”, mas sim a um estado durante o qual a mulher mantém e utiliza a sua liberdade de viver, à gestação de substituição é inerente a utilização de outra pessoa em todas as dimensões da vida. Por isso mesmo, no contrato de gestação são usualmente especificados uma série de deveres e obrigações que esta terá de cumprir (cfr. a Autora cit., “Direito de constituir família, filiação e adopção…” cit., pp. 353-355). Nas palavras de Sylviane Agacinsky, seguida de perto neste particular por aquela Autora, «a mera utilização do ventre [em benefício de terceiro], mesmo que pudesse não ser mercantilizada, é contrária à dignidade, porque faz da própria existência de um ser humano um meio ao serviço de outrem» (Autora, cit., Corps en Miettes, Flammarion, Paris, 2013, p. 93). Nesse sentido, a gestação de substituição implica um direito à utilização do outro contrário à dignidade da pessoa humana.
Estas posições, todavia, deixam na sombra o papel ativo da gestante, ignorando as suas motivações, e sobrevalorizam os condicionamentos à sua vida decorrentes de uma gravidez.
- No que se refere a este segundo aspeto, não pode negar-se que a gravidez, enquanto processo biológico, psicológico e potencialmente afetivo, é um estado da mulher no seu todo que, inclusivamente, se projeta na sua interação com aqueles que lhe são mais próximos e, bem assim, com a sociedade em geral. Por isso mesmo, valorizando tal estado, ao mesmo tempo que reconhece a maior vulnerabilidade que lhe está associada, a Constituição prevê um estatuto de especial proteção para as mulheres durante a gravidez (artigo 68.º, n.º 3). Mas a vida da mulher grávida não tem de se esgotar na gravidez: para além dos cuidados impostos por tal estado, a mulher conserva a sua liberdade de autodeterminação, podendo continuar a “viver a sua vida”, tal como o fazia antes de estar grávida. Se é verdade que «a mulher grávida toma diariamente incontáveis decisões das quais não se desliga do seu estado, mas que são decisões da sua vida, tendo em consideração que está grávida» (assim, v. Estrela Chaby, ob. cit. pp. 354-355), não é menos verdade que o rumo da sua vida não tem de mudar só porque engravidou: mesmo estando grávida, pode continuar a trabalhar, a cuidar da sua família ou a desenvolver as atividades de lazer ou de formação, como vinha fazendo até então. Assumir o contrário corresponde a uma redução – ainda que temporária – da condição de mulher livre, ativa e socialmente comprometida (enquanto trabalhadora, empreendedora, criadora ou mãe) a um estado incapacitante. Ora, a gravidez, implicando vulnerabilidade e exigindo cuidados especiais, não corresponde a uma incapacidade. A mulher grávida, no essencial, continua tão livre e autodeterminada nos planos intelectual e físico (incluindo neste a dimensão sexual) como antes, não representando os mencionados cuidados mais do que condicionamentos limitados, que se justificam em razão do bem-estar da criança que vai nascer e da própria grávida.
É, por isso, manifestamente exagerado considerar-se que a gestação de substituição implica uma subordinação da gestante em todas as dimensões da sua vida ao interesse dos beneficiários, como se se tratasse de uma situação de apropriação, equivalente a “escravatura temporária” consentida. A “existência” da gestante, globalmente considerada, não tem de ser colocada ao serviço dos beneficiários e, por conseguinte, não é toda a sua vida que é instrumentalizada. Tão pouco existe um direito dos beneficiários à utilização da gestante. O compromisso que esta assume perante os beneficiários limita-se à observância dos cuidados normais numa qualquer gravidez, em ordem a poder cumprir, após o nascimento, a obrigação de entrega da criança. Daí a proibição de imposição contratual de «restrições de comportamentos à gestante de substituição» ou de «normas que atentem contra os seus direitos, liberdades e garantias» estatuída no artigo 8.º, n.º 11, da LPMA.
- Relativamente à questão da instrumentalização da gestante, não pode abstrair-se da causa-função do contrato de gestação de substituição (a razão que levou o legislador a autonomizá-lo e a excetuá-lo da regra geral da proibição estabelecida no artigo 39.º da LPMA) nem das próprias motivações e condições em que a gestante o celebra – aspetos que são, todos e cada um deles, decisivos para a afastar a ideia de uma degradação (Herabwürdigung) desta última.
A gestação de substituição, tal como prevista no artigo 8.º, n.ºs 2 a 6, da LPMA, visa criar condições para que os beneficiários, confrontados com a impossibilidade de procriar – podendo tal impossibilidade ser absoluta ou relativa – devido à falta de condições para suportar uma gravidez, possam, ainda assim, tentar fazê-lo com a colaboração voluntária de uma terceira pessoa. Sublinhe-se que, devido à exigência da presença de gâmetas de pelo menos um dos beneficiários exigida pelo artigo 8.º, n.º 2, da LPMA, a gestação de substituição só é admissível como modo subsidiário de (tentar) assegurar a reprodução dos beneficiários, isto é, que os mesmos consigam ter um filho que, pelo menos em parte, seja da sua descendência biológicas; e não como via para que os pais intencionais estabeleçam simplesmente um vínculo jurídico de filiação com uma criança.
Assim, num quadro em que a PMA heteróloga já era admitida a título subsidiário (cfr. o artigo 10.º, n.º 1, da mesma Lei e a apreciação feita no Acórdão n.º 101/2009), e, apesar da alteração de paradigma resultante do novo artigo 4.º, n.º 3, da LPMA, também o legislador entendeu permitir que, apenas nos referidos casos – e, portanto, a título excecional – a gestante de substituição se disponha a engravidar, recorrendo por exemplo à implantação de embrião ou a outras técnicas de PMA equivalentes (artigos 27.º e 47.º da LPMA).
A gestação de substituição tem, por isso, uma relevância constitucional positiva, enquanto modo de realização de interesses jurídicos fundamentais dos beneficiários, que, por razões de saúde, ficaram prejudicados. Estão em causa, nomeadamente, o direito de constituir família e o direito de procriar.
A correlação destes direitos foi assumida no Acórdão n.º 101/2009, aceitando o Tribunal, na senda do que defendem Gomes Canotilho e Vital Moreira, que «a PMA poderá porventura ser considerada, ainda, uma forma de exercício do direito fundamental de constituir família previsto no artigo 36.º, n.º 1, da Constituição». Com efeito, os referidos Autores afirmam:
«O direito a constituir família implica não apenas o direito de estabelecer vida em comum e o direito ao casamento, mas também um direito a ter filhos […]; direito que embora não seja essencial ao conceito de família e nem sequer o pressuponha, lhe vai naturalmente associado (cfr. a epígrafe deste preceito). Isso compreende […] a liberdade de procriação […]
Problemático é saber até que ponto é que o direito a ter filhos envolve um direito à inseminação artificial heteróloga […] ou à gestação por “mãe de aluguer”, afigurando-se, contudo, que a presente disposição constitucional só poderá oferecer algum subsídio para a questão em conjugação com os princípios da dignidade da pessoa humana e do Estado de direito democrático, que garantem simultaneamente a irredutível autonomia pessoal, bem como os seus limites […]» (v. Autores cits., Constituição…, cit., anot. X ao artigo 36.º, p. 567).
No mesmo sentido, aponta Rui Medeiros:
«O direito a constituir família significa, neste contexto [– a previsão do artigo 36.º, n.º 1, que abrange, ao lado da família conjugal, a família constituída por pais e filhos –] que todas as pessoas, independentemente de contraírem ou não casamento, têm um direito fundamental a procriar. […]. Naturalmente, como sucede com os direitos, liberdades e garantias em geral, não obstante o disposto no artigo 18.º, n.º 2, primeira parte, o direito de procriar não é absoluto. [… Pode, por isso, colocar-se a questão de saber se tal direito vale,] na perspetiva do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, quanto à questão da identificação das limitações à admissibilidade do recurso às referidas técnicas […]. Seja como for, as restrições do direito a procriar estão sujeitas aos limites constitucionais gerais e, em particular, ao princípio da proporcionalidade» (v. Autor cit. in Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição…, cit., anot. VIII ao artigo 36.º, pp. 813-814; o mesmo Autor, ibidem, anot. XII ao artigo 67.º, p. 1366, afirma a relevância da PMA para a efetivação do direito fundamental a procriar, sem prejuízo de reconhecer também que inexiste «um direito a toda e qualquer procriação possível segundo o estado atual da técnica», visto que se excluem, à partida, aquelas que que sejam lesivas da dignidade da pessoa humana).
Em especial, no que se refere à permissão legal da PMA heteróloga a título subsidiário, o Tribunal, no citado Acórdão n.º 101/2009, considerou-a situada ainda «dentro da margem de livre ponderação do legislador», já que a mesma corresponde a uma dinamização do direito ao desenvolvimento da personalidade e do direito a constituir família dos beneficiários que não afeta o direito à identidade pessoal da criança a gerar. Se é certo que a procriação por via de ato sexual constitui uma dimensão óbvia do direito a constituir família consagrado no artigo 36.º, n.º 1, da Constituição, não é menos certo poder afirmar-se que, no âmbito de proteção desta norma constitucional, não se integra um direito subjetivo a toda e qualquer forma de procriação assistida, visto que o recurso à PMA se encontra objetivamente delimitado, a priori, pelos limites impostos pela dignidade da pessoa humana, conforme previsto no artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição. É evidente que a previsão de tal limite só terá sentido se a utilização de algumas dessas técnicas se incluir no âmbito do direito constitucional a constituir família.
Todavia, como se disse, não resulta das normas constitucionais que tenham de ser todas as técnicas desenvolvidas pela ciência. Pode, mesmo, duvidar-se da inclusão no direito fundamental do artigo 36.º, n.º 1, da Constituição de quaisquer técnicas de procriação heteróloga; aliás foi esse o entendimento que acabou por se afirmar no já referido Acórdão n.º 101/2009. Mas tal também não impediu o Tribunal de admitir a consagração legal de tal técnica, uma vez que, da circunstância de a mesma não ser constitucionalmente imposta, não se segue «que ela deva ser tida como contrária à Constituição».
Estas mesmas considerações, não obstante a maior complexidade decorrente de a intervenção da gestante se somar à dos dadores de gâmetas, são transponíveis para uma justificação da admissibilidade, de princípio, da gestação de substituição, pois também esta visa possibilitar a concretização de um projeto parental e, consequentemente, tende a favorecer o acesso a um bem com relevância constitucional (família com filhos).
Acresce que, perspetivada a impossibilidade de engravidar nos casos previstos no n.º 2 do artigo 8.º da LPMA à luz de um conceito social de deficiência, tal como consagrado no artigo 1.º, segundo parágrafo, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – aquelas pessoas «que têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros» –, a gestação de substituição também pode constituir um importante fator de integração social (cfr. o artigo 71.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição; quanto à referida Convenção, v. a Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009 e o Decreto do Presidente da República n.º 71/2009; e sobre o conceito social de deficiência, v. Geraldo Rocha Ribeiro, “O sistema de proteção de adultos (incapazes) do Código Civil à luz do artigo 12.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, cit., pp. 1105 e ss., pp. 1107-1108 e 1111-1112). A referida perspetiva é acolhida, por exemplo, no direito da União Europeia (cfr. o Acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de março de 2014, Z. (C-363/12), n.ºs 76 e 78-81; e, de modo especial, o n.º 93 das conclusões do Advogado-Geral apresentadas nesse processo). De resto, ainda que numa perspetiva médica, esta foi uma consideração que também esteve presente no âmbito de iniciativas que culminaram na aprovação da Lei n.º 25/2016 (cfr. o Projeto de Lei n.º 131/XII, 2012, do Partido Socialista: «[o] interesse primordial em tratar da doença da infertilidade implica que em certos casos existam exceções à proibição do recurso à maternidade de substituição [surgindo esta como] a última alternativa para superar a doença da infertilidade»).
Todavia, insista-se, nada disto implica a aceitação de um direito fundamental à procriação por via da gestação de substituição, que, de resto, devido à essencialidade da intervenção voluntária de uma mulher disposta a suportar a gravidez por conta dos beneficiários e a entregar a criança após o parto, o Estado jamais estaria em condições de satisfazer diretamente. E, mesmo admitindo já ad argumentandum tantum, a compatibilidade da gestação de substituição com a salvaguarda da dignidade humana, conforme exigido pelo artigo 67.º, n.º 1, alínea e), da Constituição, a verdade é que o entendimento de que o acesso à PMA heteróloga não é constitucionalmente imposto (v. o Acórdão n.º 101/2009) prejudica uma imposição desse tipo quanto à regulação da gestação de substituição, porquanto esta pressupõe o recurso àquela. E, de todo o modo, a relativa novidade de tal prática e as incertezas quanto aos efeitos, de longo prazo, da sua utilização apontam igualmente no sentido desse instituto jurídico não dever ter-se por constitucionalmente imposto. Assim, entende-se, mais modestamente, que a permissão a título excecional da gestação de substituição, nos termos do artigo 8.º da LPMA corresponde a uma opção do legislador que, além de não ser arbitrária, favorece bens constitucionalmente protegidos e, como tal, não deve ser afastada sem razões fortes.
- Analisando agora, segundo a perspetiva da gestante, o modelo ou perfil de gestação de substituição consagrado no artigo 8.º da LPMA – que, recorde-se, reveste caráter subsidiário e excecional, assume uma natureza meramente gestacional, pressupõe o consentimento autónomo dos interessados destinado a garantir a sua voluntariedade e tem de ser formalizada por via de um contrato a título gratuito sujeito a autorização administrativa (cfr. supra o n.º 9) –, cumpre começar por recordar – e destacar – que aquela é (também) um sujeito ativo de todo o processo e que a sua participação voluntária é essencial para a concretização do mesmo. Como se referiu acima, a gestante e os beneficiários comprometem-se reciprocamente num projeto que em muitos aspetos essenciais é partilhado por todos (cfr. supra o n.º 24). E a motivação principal da intervenção da gestante não pode deixar de ser a resposta a um impulso de altruísmo, de solidariedade para quem, apesar de o querer e de eventualmente até dispor de parte do material genético indispensável para o efeito, não pode ter filhos por falta de útero ou devido a lesões ou doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez. Ou seja – e este é já um segundo aspeto – a gestante aceita participar no projeto, porque quer entregar-se à tarefa de ajudar outros a superar dificuldades que estes só por si não são capazes de ultrapassar.
Nesta medida, a gestante de substituição atua um projeto de vida próprio e exprime no mesmo a sua personalidade. Consequentemente, a intervenção no projeto parental dos beneficiários não se esgota no proveito para estes últimos, já que a própria gestante também retira benefícios para a sua personalidade, confirmando ou desenvolvendo o modo como entende dever determinar-se perante si e os outros. A sua gravidez e o parto subsequente são tanto instrumento ou meio, como condição necessária e suficiente de um ato de doação ou entrega, que, a seus olhos e segundo os seus próprios padrões éticos e morais, a eleva. E eleva-a igualmente perante aqueles que são por ela ajudados. Ora, a elevação da gestante de substituição, perante si mesma e os beneficiários e, porventura, perante o círculo dos seus mais próximos, é o oposto da sua degradação.
Com efeito, entendida como atuação de uma solidariedade ativa – ou até como entrega por amizade ou amor –, a gestação de substituição não pode deixar de ser vista como exercício da liberdade de exteriorização da personalidade ou liberdade de ação de acordo o projeto de vida e a vocação e capacidades pessoais próprias – uma das dimensões do direito ao desenvolvimento da personalidade consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. III ao artigo 26.º, pp. 463-464) – que é indissociável da liberdade de ação necessária à autoconformação da identidade própria de um sujeito autodeterminado, o mesmo é dizer, com a dignidade própria do ser humano. Em sentido convergente, afirma Guilherme de Oliveira: o direito fundamental consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição deve ser ponderado no quadro da discussão sobre a admissibilidade (e legitimidade quanto à imposição dos respetivos limites) de utilização de técnicas de PMA, na medida em que «a decisão de procriar tem implicações grandes em vários domínios – psicológico, fisiológico, sanitário, económico – e não pode deixar de constituir uma decisão estruturante da autonomia individual e da liberdade pessoal» (v. Autor cit., “Restrições de acesso à parentalidade na medicina de reprodução” in Lex Medicinae, Ano 10, n.º 20 (2013), p. 7).
Deste modo, a dignidade humana daquela que se assume como gestante de substituição não é violada; pelo contrário, a sua participação na gestação de substituição afirma uma liberdade de ação que, em última análise, se funda nessa mesma dignidade, já que os «diversos direitos enunciados no artigo 26.º são, em qualquer caso, hipóteses típicas concretizadoras de um mesmo princípio fundamental de respeito pela dignidade da pessoa» (assim, v. Rui Medeiros e António Cortês in Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição…, cit., anot. III ao artigo 26.º, p. 608). Como referido acima, a propósito da “fórmula do objeto” (cfr. supra o n.º 22), a instrumentalização lesiva da dignidade do ser humano não pode ser entendida mecanicamente; antes exige uma apreciação sobre o respetivo impacto concreto no valor intrínseco de cada pessoa, e muito particularmente na sua capacidade de autodeterminação e de afirmação livre e responsável da sua personalidade (advertindo para a necessidade de distinguir quanto aos termos em que cada um é instrumentalizado ou se deixa instrumentalizar, v. Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, cit., pp. 122-123). Somente a instrumentalização que anule ou desconsidere essa autonomia pessoal, no presente ou para o futuro, pode ser considerada degradante porque reduz a pessoa a uma coisa ou objeto e, como tal, violadora da dignidade humana. Porém, não é isso que se verifica com a gestante de substituição, já que esta, enquanto tal, e conforme previsto no artigo 8.º da LPMA, atua no exercício de uma liberdade de ação fundada na sua própria dignidade.
No Acórdão n.º 101/2009, já se tinha afirmado, a propósito da opção legal de não incriminar a maternidade de substituição gratuita:
«[A] maternidade de substituição gratuita tende a ser vista como menos censurável [do que a onerosa], por revelar altruísmo e solidariedade da mãe gestadora em relação à mulher infértil, e por não haver, da parte desta, um desrespeito pela dignidade da mãe gestadora, por não ocorrer aqui nenhuma tentativa de instrumentalização de uma pessoa economicamente carenciada, por meio da fixação de um «preço», como sucede nas situações de maternidade de substituição onerosa.»
Além disso, a mesma conclusão mostra-se alinhada com o entendimento que é possível retirar da análise do direito internacional e do direito comparado (v. supra as secções B.2. e B.3.), tanto por via direta (como no caso da Grécia e do Reino Unido, não falando já de diversos Estados federados dos Estados Unidos da América), como por via indireta (como sucede, por exemplo, na jurisprudência do Tribunal de Justiça, na Alemanha, na Áustria ou em França). E, bem assim, com a posição do CNECV expressa em 2012 quanto à admissibilidade de princípio da gestação de substituição:
«Independentemente da opinião que se tenha sobre eventuais riscos do recurso à gestação de substituição, uma delimitação tão estreita e excecional das condições e requisitos de acesso e, designadamente, a exigência da sua natureza absolutamente gratuita, podem retirar à proposta o carácter controverso que o tema potencialmente apresenta. Eventuais riscos e dúvidas subsistentes respeitam sobretudo à diferente perceção dos efeitos indeterminados de instabilização que a admissibilidade, mesmo excecional, da gestação de substituição pode gerar na valoração social e simbólica da gravidez e da maternidade.
Ora, não estando decisivamente em causa a afetação real e atual de princípios fundamentais, a subsistência daqueles riscos e dúvidas pode ser compensada pelos benefícios substanciais que uma gravidez de substituição legalmente configurada nestes termos pode proporcionar à vida concreta de algumas pessoas, pelo que, nestas condições, não haverá objeções éticas absolutas […]» (v. o seu Parecer n.º 63/CNECV/2012, ponto 2, al. a), p. 9).
- O regime consagrado no artigo 8.º da LPMA evidencia uma preocupação em proteger a referida liberdade de ação da gestante de substituição, essencial à salvaguarda da sua dignidade. Na verdade, se e na medida em que a gestante intervém em todo o processo de gestação de substituição no exercício da sua autonomia, tal dignidade não é afetada. Daí o dever de proteção assumido pelo legislador em relação à gestante no âmbito do regime jurídico que permite a celebração de contratos de gestação de substituição.
Um elemento essencial de tal proteção é a exigência e garantia de que a vontade da gestante não seja determinada por razões económico-financeiras: só são legalmente admissíveis acordos gratuitos (cfr. supra os n.ºs 9 e 24). A gratuitidade do contrato de gestação de substituição é, assim, a primeira garantia da liberdade de ação da gestante.
Mas, além disso, o legislador também se preocupou em rodear de garantias adequadas a voluntariedade do compromisso assumido pela gestante, de modo a que o mesmo possa ser expressão livre do desenvolvimento da sua personalidade. Com efeito, o contrato de gestação de substituição não põe “frente a frente” apenas partes privadas; é um contrato marcado por uma intensa intervenção pública destinada a salvaguardar a dignidade dos contraentes, em especial da gestante – a parte que, por suportar mais riscos para a sua saúde e por assumir maiores condicionamentos para a sua vida, se apresenta como mais vulnerável.
Nesse sentido, a lei autonomiza o consentimento da gestante de substituição do contrato a celebrar com os beneficiários e procedimentaliza a sua expressão de modo a assegurar que o mesmo seja informado e livre (cfr. supra o n.º 8). Aliás, como mostram os trabalhos preparatórios, desde o início que o consentimento informado se encontrou previsto autonomamente e foi objeto de disciplina própria; a referência autónoma ao contrato surgiu na sequência do veto do Presidente da República, como tentativa de satisfazer as condições 3.ª, 8.ª e 11.ª enunciadas no Parecer n.º 63/CNECV/2012. Com efeito, pode ler-se na Proposta de Alteração ao Decreto da Assembleia n.º 27/XIII apresentada pelo autor da iniciativa inicial, os Deputados do Bloco de Esquerda, que conduziu à aprovação do Decreto da Assembleia n.º 37/XIII, objeto de promulgação posterior:
«Fica clarificado que no consentimento informado nos casos de gestação de substituição, tanto os beneficiários, assim como a gestante de substituição, são informados também do significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal.
Clarifica-se que o disposto na atual lei sobre consentimento informado se aplica também aos casos de gestação de substituição e, em concreto, à gestante de substituição (consentimento livre, esclarecido e de forma expressa por escrito, informação por escrito de todos os riscos e benefícios conhecidos resultantes da utilização de técnicas de PMA, livre revogação do consentimento até ao início dos processos terapêuticos de PMA).
Torna-se explícita a necessidade de um contrato escrito estabelecido entre as partes e supervisionado pelo CNPMA onde devem constar as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez, sempre em conformidade com a legislação em vigor aplicável à situação.
Explicita-se ainda que o contrato estabelecido não pode impor restrições comportamentais à gestante, nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade. [..]
Ao definir-se uma maior estabilidade contratual e reduzir-se a hipótese de litígio, acrescentando mecanismos a outros já previstos no Decreto da Assembleia, defende-se o direito da criança a nascer. Ao explicitar-se os direitos e deveres da gestante, assim como a necessidade da mesma prestar consentimento informado, a necessidade absoluta de se respeitar a dignidade desta, a impossibilidade de contratos que atentem contra a mesma, estamos a garantir os direitos da gestante. Ao explicitar a necessidade de existência de um contrato escrito, supervisionado pelo CNPMA, e ao definir algumas das disposições que nele devem constar, estamos a proporcionar um melhor enquadramento contratual.» (itálicos aditados)
Acresce que o legislador estabeleceu garantias procedimentais e organizatórias mínimas que acautelam a celebração do contrato, a prestação do consentimento e a utilização das técnicas de PMA necessárias à concretização da gestação de substituição segundo as referidas exigências de proteção.
Assim, o contrato de gestação de substituição é celebrado por escrito e deve ser precedido de autorização do CNPMA destinada a comprovar a observância de todos os requisitos legais (n.ºs 3, 4 e 10 do artigo 8.º da LPMA). Entre estes consta, por força da remissão do artigo 8.º, n.º 8, da LPMA para o artigo 14.º da mesma Lei, a exigência de que a prestação do consentimento seja feita, de forma expressa e por escrito, perante o médico responsável pela aplicação da PMA à gestante (n.º 1). A prestação de tal consentimento deve ser precedida de informação escrita pelo CNPMA de todos os benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, das suas implicações éticas, sociais e jurídicas, bem como da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal (n.ºs 2, 3 e 6). Por fim, as técnicas de PMA indispensáveis à concretização da gestação de substituição, só podem ser realizadas em centros devidamente autorizados e por pessoas qualificadas para o efeito (cfr. o artigo 5.º da mesma Lei).
Em suma, o legislador, ao modelar o regime da gestação de substituição, não ignorou a necessidade de salvaguarda da dignidade da pessoa humana referida no artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição, tendo criado para o efeito um procedimento específico e previsto um quadro organizatório próprio. Um e outro não se mostram desadequados nem insuficientes para proteger eficazmente a liberdade e o esclarecimento da gestante, pelo menos, no momento em que esta contrata com os beneficiários e inicia os processos terapêuticos de PMA.
- Saber se estas garantias procedimentais e organizatórias são suficientes para uma efetiva proteção da liberdade de ação da gestante ao longo de todo o processo de gestação de substituição é uma questão diferente, mas que já não interfere com a admissibilidade constitucional de princípio do próprio instituto da gestação de substituição, tal como modelado pelo legislador nos seus traços essenciais (cfr. supra os n.ºs 8, 9 e 28). Nesse caso, poderão estar em causa aspetos concretos do regime jurídico, que, por força das exigências constitucionais quanto ao direito ao desenvolvimento da personalidade – o qual, recorde-se, é um direito fundamental concretizador do respeito pela dignidade da pessoa –, e atendendo à própria dinâmica da gestação, coloquem problemas de constitucionalidade. Ou seja, no plano das soluções jurídicas concretas consagradas nos vários números do artigo 8.º da LPMA, haverá que avaliar se as mesmas salvaguardam adequadamente o direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante de substituição, nomeadamente em situações de potenciais conflitos de direitos, ainda que esta tenha, no momento inicial, de livre vontade e num exercício de autodeterminação, prestado o seu consentimento para o concreto procedimento de gestação de substituição em que é participante e aceitado vincular-se contratualmente perante os beneficiários do mesmo.
Nessa sede, deverá o Tribunal verificar se a disciplina da gestação de substituição estabelecida pelo legislador nas citadas normas realiza uma ponderação adequada entre o direito contratual dos beneficiários – mas que também não deixa de corresponder a um interesse fundamental dos mesmos – à concretização do seu projeto de procriação e de constituir família, o superior interesse da criança que nascer na sequência do processo de gestação, o direito ao desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação em matéria reprodutiva de todos os envolvidos e a necessidade de proteção da dignidade da mulher que assume o papel de gestante de substituição, seja no momento em que celebra o contrato com os beneficiários ou no momento em que lhe são aplicadas as técnicas de PMA, seja durante o período em que efetivamente se encontra grávida e até depois do parto. Além da criança, esta mulher é, como referido, a parte mais vulnerável, se se atender aos riscos já assinalados de coerção e aos riscos inerentes a uma gravidez, designadamente, riscos de aborto, gravidez ectópica, pré-eclâmpsia e outras complicações obstétricas, que tendem a aumentar com o número de gestações. De resto, a natureza da gravidez enquanto fenómeno biológico, psíquico e potencialmente afetivo, e o seu dinamismo próprio, são igualmente aptos a justificar reponderações.
B.4.2. A questão da dignidade da criança nascida na sequência do recurso à gestação de substituição
- A principal questão suscitada a propósito da dignidade da criança nascida na sequência do recurso à gestação de substituição respeita ao seu tratamento, desde antes do nascimento, como «objeto de um negócio jurídico», o que seria determinante da sua coisificação. Sustentam os requerentes, com efeito, que a criança que vier a nascer é tratada como «um produto final que pode acabar por ser rejeitado por todos ou, pelo contrário, querido por todos», sem que seja dada resposta satisfatória a problemas fundamentais para os seus interesses (por exemplo, o impacto da quebra da ligação estabelecida durante a gestação ou a salvaguarda do superior interesse da criança em situações de conflito entre a gestante e os beneficiários, antes ou depois do nascimento). Salientam também que a referência à dignidade da pessoa humana feita no artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição pretende salvaguardar, além dos direitos das «pessoas que mais diretamente poderão estar em causa por efeito de aplicação das técnicas de PMA», também os direitos das pessoas nascidas na sequência da aplicação das mesmas técnicas, incluindo neste universo «tanto [a] pessoa já nascida como [a] pessoa desde a sua conceção».
Importa, em todo o caso, separar os problemas atinentes à dignidade da criança considerada isoladamente – que, de acordo com a aludida “fórmula do objeto”, se prendem com o seu eventual tratamento degradante, nomeadamente em resultado de se estar perante um “direito a uma pessoa” – daqueles que já relevam de uma conjugação da dignidade com o dever de proteção estadual dos seus interesses, previsto no artigo 69.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição, como será o caso do não acautelamento das consequências psicológicas e emocionais da quebra da ligação uterina decorrente da obrigação de entrega da criança aos beneficiários do contrato de gestação de substituição. Embora este modo de procriação possa contender com ambos os parâmetros constitucionais em causa – a dignidade da pessoa humana e o dever de proteção da infância –, é diferente a intensidade do grau de exigência de conformidade de cada um deles: a salvaguarda da dignidade humana impõe-se a qualquer outra consideração, enquanto o dever de proteção da infância admite ponderações com outros interesses constitucionais.
- A ideia de que a conceção de uma criança para ser posteriormente entregue a outrem consubstancia um inadmissível “direito a uma pessoa”, implicando, por conseguinte, a coisificação da criança e a sua transformação no objeto de um acordo celebrado entre adultos com vista a satisfazer os seus desejos é igualmente articulada por diversos Autores. Paulo Otero, por exemplo, considera haver nos contratos de gestação de substituição gratuitos uma violação do princípio da humanidade, dado que a criança é vista como um meio de alcançar fins que lhe são alheios. Além disso, entende que a dignidade do novo ser também é violada a partir do momento em que este é gerado já com o propósito de ser abandonado logo após o nascimento (v. Autor cit., “A dimensão ética da maternidade de substituição”, cit., pp. 87-88). Já Maria Patrão Neves pondera o seguinte:
«[A gestação de substituição e as restantes técnicas de PMA heteróloga] evidenciam a conversão do legítimo desejo de um filho, enquanto coincidente na sua dimensão biológica com o projeto afetivo, num ilegítimo direito a um filho que, enquanto tal, seria reduzido na sua identidade a um mero objeto ou bem cuja posse seria suscetível de ser reclamada como direito por outrem» (v. Autora cit., “Mudam-se os tempos, manda a vontade. O desejo e o direito a ter um filho” in Ana Sofia Carvalho (Coord.), Bioética e Vulnerabilidade, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 49 e ss., pp. 55-56).
Contudo, estes argumentos provam de mais, como sublinham vários outros Autores.
Vera Lúcia Raposo sublinha, desde logo, que a mesma visão também pode ser invocada quanto a projetos parentais de pessoas casadas que procuram ter filhos para salvar a sua relação, para se realizarem pessoalmente ou para outros fins extrínsecos ao interesse dos mesmos (v. Autora cit., De Mãe para Mãe – Questões Legais e Éticas suscitadas pela Maternidade de Substituição, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 48). Marta Costa e Catarina Saraiva Lima, pelo seu lado, consideram que o recurso à gestação de substituição, só por si, não viola a dignidade da criança nos termos referidos, salientando que esta técnica não é mais lesiva da dignidade do novo ser do que qualquer outra técnica de PMA heteróloga que se encontra atualmente permitida (v. Autoras cits., “A maternidade de substituição à luz dos direitos fundamentais de personalidade” in Lusíada, n.º 10, 2012, pp. 237 e ss., pp. 287-289). E Reis Novais chama a atenção para a seguinte consideração, que vale para qualquer projeto parental, independentemente de o mesmo se concretizar por via de ato sexual ou por via de PMA:
«Quando um casal programa a conceção de um filho […] há aí inevitavelmente uma instrumentalização, mas não há violação da dignidade, já que não há uma instrumentalização do novo ser.
A conceção do novo ser foi um meio, um instrumento para prosseguir determinado objetivo, podendo dizer-se que há instrumentalização no ato de conceção, no sentido de que a conceção do novo ser e a sua integração na família é decidida em função da visão de felicidade dos membros do casal, mas não há instrumentalização do novo ser enquanto tal, uma vez que este, quando surge no Mundo, terá, potencialmente, uma natureza e uma vida exatamente iguais às de qualquer outro ser humano. No decurso da sua vida normal, essa pessoa pode passar por episódios em que a sua dignidade seja desrespeitada, mas exatamente como se verificará com qualquer outra pessoa e sem qualquer relação intrínseca com a instrumentalização detetada no ato de conceção.
Se no contexto familiar em que nasce, o novo ser for tratado e amado como qualquer outro filho – e é essa também a intenção e o projeto do casal que projetou o seu nascimento –, o facto de a sua conceção e nascimento terem servido para beneficiar a vida do casal, em nada o afeta. Nesse sentido, não se percebe nesse projeto qualquer violação da dignidade da pessoa humana. Só por si, instrumentalização envolvendo a conceção de novas pessoas ou novos seres não significa a violação da dignidade humana» (v. Autor cit., A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, cit., pp. 120-121; v. também a nota 99).
O CNECV também afirmou no seu Parecer n.º 63/CNECV/2012: «[a] motivação, a intenção e o interesse de quem recorre às técnicas de PMA para gerar um novo ser é sempre uma motivação de benefício, de realização ou de satisfação pessoais e que se traduz na intenção de procriar, de gerar descendência, de assumir maternidade ou paternidade, de constituir família, porque se pensa que isso será bom para o próprio e, sendo o caso, para o projeto parental que se comunga com alguém, acompanhado da convicção – a não ser que se estivesse no domínio de patologia que pode ocorrer em qualquer situação – de que o projeto parental será igualmente bom para o novo ser» (ponto 1, al. c), p. 7).
Pode mesmo dizer-se – numa formulação próxima da utilizada no Acórdão n.º 101/2009 – que o artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição, ao admitir a PMA e impor a sua regulação em termos que «salvaguardem a dignidade da pessoa humana», tem implícita a ideia de que o recurso a técnicas de PMA para concretizar um projeto parental, só por si, não viola a dignidade da criança nascida na sequência de tal forma de reprodução. Aliás, não fora a mesma técnica, e tal criança nem sequer existiria.
A gestação de substituição também exige o recurso a uma técnica de PMA, uma vez que a gestante, que não pode ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante (artigo 8.º, n.º 3, da LPMA), para ficar grávida, recebe um embrião constituído a partir de gâmetas de terceiros. A sua gravidez compara, neste aspeto, com a gravidez de outras beneficiárias de PMA heteróloga.
Mas, por outro lado, a gestação de substituição diferencia-se da aplicação simples de uma técnica de PMA, em virtude de o útero que recebe o embrião pertencer a uma mulher, que não aquela que é considerada beneficiária do processo e que será tida como a mãe da criança a nascer. Sucede que esta diferença em nada interfere com o desenvolvimento intrauterino: da perspetiva do nascituro, o mesmo em nada se distingue por ocorrer no seio do útero da gestante de substituição. E, após o parto, a criança é entregue à beneficiária prevista ab initio como sendo a sua mãe, pelo que não se justifica falar num “abandono” da criança logo após o nascimento. Ou seja, a criança nascida integra-se, se tudo correr conforme previsto, na família da beneficiária e, nesse contexto, tem potencialmente uma vida igual à de qualquer outro ser humano, em nada de essencial se distinguindo de outros filhos nascidos na sequência do recurso a técnicas de PMA.
Por outro lado, é inerente às diferentes modalidades de procriação com assistência médica uma formalização jurídico-contratual (por exemplo, dos beneficiários com o centro onde decorrerá o processo terapêutico ou dos dadores de gâmetas com o centro). Na gestação de substituição, acresce a esses contratos o acordo entre os beneficiários e a gestante, que regula também a fase da gestação. O objeto imediato destes contratos nunca é a criança em si mesma considerada. Diferentemente, e deixando de lado as relações com os dadores, os mesmos visam a conceção e a gestação, enquanto funções necessárias para que uma criança, relativamente à qual existe um projeto parental pré-definido, possa nascer. Uma vez nascida, essa criança integra-se numa família, tal como as demais crianças que nascem na sequência da reprodução por via de ato sexual. A prévia celebração dos contratos que regulam as técnicas de PMA ou a gestação de substituição, que foram indispensáveis para que tal criança nascesse, em nada afetam a sua dignidade.
Pelo exposto, é justificado um paralelismo com o que ocorre em relação à PMA: tal como nesta, o recurso à gestação de substituição para concretizar um projeto parental, só por si, também não viola a dignidade da criança nascida na sequência de tal forma de reprodução.
- Esta conclusão não é afastada pela quebra da ligação uterina pressuposta na execução do contrato de gestação de substituição. Poderá, nesse caso, estar em causa o superior interesse da criança, mas já não direta e autonomamente a sua dignidade. Depois do seu nascimento, os interesses da criança podem ser afetados de muitas formas, positiva ou negativamente. Só se poderia falar de uma afetação da criança na sua dignidade, caso a gestação de substituição implicasse, por si só, uma necessária afetação negativa do novo ser em termos de comprometer o seu desenvolvimento integral num ambiente familiar normal (artigo 69.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição). A Constituição protege a vida intrauterina (v. a jurisprudência em matéria de interrupção voluntária da gravidez – Acórdãos n.ºs 25/84, 85/85, 288/98, 617/2006 e 75/2010) e, bem assim, a vida de embriões, «no ponto em que o embrião, ainda que não implantado, é suscetível de potenciar a vida humana» (Acórdão n.º 101/2009), pelo que não é constitucionalmente admissível uma intervenção nessas fases que intencional e necessariamente resulte num ser humano diminuído e sem plena capacidade de autodeterminação. Então, sim, ocorreria uma instrumentalização ab initio do novo ser às finalidades de tal prática que não poderia deixar de se qualificar como degradante. Porém, não existe a evidência de uma necessária lesão da criança causada pela sua separação da mulher que a deu à luz.
No relatório elaborado em 2012 pelo Presidente do CNECV pode ler-se a este respeito:
«Alguns estudos, no âmbito da Psicologia e Pediatria, avaliaram a relação entre as crianças e os pais, e os respetivos níveis de bem-estar, responsabilidades parental e educativa, com base na distinção entre as famílias consideradas naturais e as resultantes de técnicas de PMA (nomeadamente com recurso à gravidez de substituição), concluindo na generalidade pelo reconhecimento de boas competências de parentalidade e capacidade de afeto dos pais e normais níveis de desenvolvimento intelectual, emocional somático e social das crianças. São, porém, estudos limitados no tempo, só contemplando crianças até aos 2 anos de idade.» (pp. 21-22).
E, no seu Parecer n.º 63/CNECV/2012, o CNECV referiu apenas riscos e dúvidas respeitantes «sobretudo à diferente perceção dos efeitos indeterminados de instabilização que a admissibilidade, mesmo excecional, da gestação de substituição pode gerar na valoração social e simbólica da gravidez e da maternidade». Por isso mesmo, considerou que «não estando decisivamente em causa a afetação real e atual de princípios fundamentais, a subsistência daqueles riscos e dúvidas pode ser compensada pelos benefícios substanciais que uma gravidez de substituição legalmente configurada nestes termos pode proporcionar à vida concreta de algumas pessoas, pelo que, nestas condições, não haverá objeções éticas absolutas» à gestação de substituição (p. 9).
Mesmo no relatório de 2016, que antecedeu o parecer do CNECV desfavorável à gestação de substituição (o Parecer n.º 87/CNECV/2016), assinala-se o seguinte:
«Não existe ainda suficiente evidência sobre os efeitos de um novo e diferente contexto reprodutivo na construção da personalidade da criança, havendo, no entanto, alguma evidência quanto à ligação (psicológica, biológica/epigenética) que se estabelece durante a gestação entre o feto e a mulher grávida, ligação que é importante para o desenvolvimento futuro da criança. A questão está em ponderar se será aceitável que a lei imponha o cumprimento de um contrato que representa o corte com o vínculo biológico e afetivo construído ao longo do desenvolvimento intrauterino da criança e cuja manutenção e aperfeiçoamento a ciência já demonstrou ser benéfica para o recém-nascido, no seu processo de crescimento e de afirmação bio-psico-social» (pp. 15-16).
Ora, o apelo implícito ao princípio da precaução e à ponderação dos aspetos benéficos da vinculação precoce mãe-nascituro exclui a certeza sobre o malefício de uma rutura e, portanto, também a pertinência de um argumento jurídico fundado apenas na dignidade da criança. Nesse sentido, Vera Lúcia Raposo, por exemplo, desvaloriza os riscos de uma eventual perturbação psicológica para a criança que esta técnica provoca, notando que a criança gerada com recurso à gestação de substituição poderá ter a certeza de ter sido muito desejada pelos beneficiários, forçados a ultrapassar as suas próprias limitações fisiológicas e biológicas para a trazer ao mundo, pelo que nunca padecerá do trauma dos filhos “acidentais” (cfr. a Autora cit., De Mãe para Mãe…, cit., p. 48).
Na verdade, é de realçar que os estudos científicos existentes não indiciam quaisquer diferenças relevantes, no que respeita às relações de parentalidade e ao desenvolvimento psicológico harmonioso, entre crianças nascidas com recurso a gestação de substituição e as restantes, não tendo este fator sido assinalado como causa direta de quaisquer perturbações (veja-se, por exemplo, e para além dos mencionados no aludido relatório do Presidente do CNECV de 2012, Golombok, S., Blake, L., Casey, P., Roman, G. and Jadva, V. (2012), “Children born through reproductive donation: a longitudinal study of psychological adjustment” in Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 653–660. doi:10.1111/jcpp.12015).
- 5. Outras questões de inconstitucionalidade suscitadas pelo modelo português da gestação de substituição
- De todo o modo, as questões de inconstitucionalidade relacionadas com a dignidade dos intervenientes na gestação de substituição não esgotam o número daquelas que podem pôr em causa a admissibilidade constitucional de princípio desta figura, mesmo que só considerada nos seus traços jurídico-positivos essenciais (gestação de substituição de caráter subsidiário e excecional, formalizada por via de um contrato a título gratuito, sujeito a autorização administrativa prévia, e a realizar mediante uma técnica de PMA com recurso a gâmetas de pelo menos um dos respetivos beneficiários, não podendo a gestante ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante). Há outras possíveis objeções constitucionais a considerar, algumas delas formuladas pelos requerentes, mas não apenas por eles. O Tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade de normas cuja apreciação tenha sido requerida, mas pode fazê-lo com fundamento na violação de normas ou princípios constitucionais diversos daqueles cuja violação foi invocada (cfr. o artigo 51.º, n.º 5, da Lei do Tribunal Constitucional).
Os requerentes chamam desde logo a atenção para a deficiente tutela do interesse da criança nascida, em virtude da já referida quebra de ligação com a gestante após o parto, com consequências negativas para o seu futuro desenvolvimento. Desse modo, a permissão legal da gestação de substituição determinaria uma violação do dever de proteção da infância (artigo 69.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição). Este foi, de resto, um dos fundamentos invocados no Parecer n.º 87/CNECV/2016 para se pronunciar contra a alteração do regime jurídico então em vigor (n.º 1: o «Conselho considera que não estão salvaguardados os direitos da criança a nascer»).
Mas têm sido suscitadas outras questões igualmente relacionadas com a defesa do superior interesse da criança, atenta a respetiva centralidade na problemática da gestação de substituição, nomeadamente o tema das desvantagens para a criança associadas à monoparentalidade e, num plano mais geral, à desconsideração da própria família, enquanto instituição assente em laços familiares claramente diferenciados, decorrente da promoção de uma ambiguidade sobre o sentido da maternidade.
- A violação do dever de proteção da infância, previsto no artigo 69.º, n.º 1 da Constituição – «[a]s crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições» – é invocada pelos requerentes a propósito da omissão ou deficiente defesa do superior interesse da criança perante o desejo dos pais intencionais de terem um filho. Na base de tal posição está a aludida possibilidade de a quebra de vínculo entre o recém-nascido e a gestante causar danos psicológicos e emocionais durante o desenvolvimento do primeiro, os quais poderão acompanhá-lo ao longo de toda a vida. Acresce que, conforme referido no relatório do CNECV de 2016, a ciência já demonstrou ser benéfica para o recém-nascido, no seu processo de crescimento e de afirmação bio-psico-social, a manutenção e aperfeiçoamento de tal vínculo. Daí que o superior interesse da criança exigisse a salvaguarda dessa ligação, devendo este interesse prevalecer sobre o dos pais intencionais e da própria gestante.
A proteção da infância e a salvaguarda do superior interesse da criança constituem valores proeminentes a nível internacional e da União Europeia, sendo numerosos os instrumentos que consagram direitos das crianças e obrigações estaduais para garantir a sua proteção e a salvaguarda do seu superior interesse. Destacam-se, como referido supra no n.º 10, a Convenção sobre os Direitos da Criança (em especial, os seus artigos 3.º, n.º 1, 7.º, n.º 1 e 9.º, n.º 1) e a CDFUE (artigo 24.º). No plano interno, releva o citado dever de proteção da infância.
Na verdade, as características físicas e psicológicas das crianças, assim como o dinamismo inerente à formação e desenvolvimento da sua personalidade, tornam-nas naturalmente vulneráveis a circunstâncias que podem fazer perigar o seu processo de autonomização e, em última análise, comprometer ou condicionar a respetiva autodeterminação enquanto adultos. Daí que a Constituição as reconheça como sujeitos de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, se preocupe com as eventuais situações de necessidade associadas à sua natural vulnerabilidade, reconhecendo-lhes um específico e próprio «direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral» (artigo 69.º, n.º 1). Como sublinham Gomes Canotilho e Vital Moreira, «este direito à proteção infantil protege todas as crianças por igual, mas poderá justificar medidas especiais de compensação (discriminação positiva), sobretudo em relação às crianças em determinadas situações (órfãos e abandonados) (n.º 2)» (v. Autores cits., Constituição…, cit., anot. I ao artigo 69.º, p. 869). Com efeito, «a noção constitucional de desenvolvimento integral (n.º 1, in fine) – que deve ser aproximada da noção de “desenvolvimento da personalidade” (art. 26.º-[1]) – assenta em dois pressupostos: por um lado, a garantia da dignidade da pessoa humana (cfr. art. 1.º), elemento “estático”, mas fundamental para o alicerçamento do direito ao desenvolvimento; por outro lado, a consideração da criança como pessoa em formação, elemento dinâmico, cujo desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades» (idem, ibidem, pp. 869-870).
Deste modo, o direito à proteção das crianças com vista ao seu desenvolvimento integral ganha uma densidade autónoma, pois, além de pressupor o direito ao desenvolvimento da personalidade, implica direitos a uma proteção do bem jurídico desenvolvimento da personalidade contra ameaças ou agressões provenientes de terceiros, incluindo os progenitores, ou de contingências naturais – a que correspondem deveres de proteção «contra todas as formas de abandono, de discriminação e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições» (artigo 69.º, n.º 1) – e a garantia de condições favoráveis à própria formação da personalidade. E é por causa desta segunda vertente – a que corresponde um dever geral de promoção do bem jurídico em causa – que o direito das crianças à proteção do seu desenvolvimento integral se reconduz a um «típico “direito social”, que envolve deveres de legislação e de ação administrativa para a sua realização e concretização» (assim, v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. I ao artigo 69.º, p. 869).
A vertente do dever de proteção – especificamente invocada pelos requerentes – pressupõe uma ameaça ou perigo para o bem protegido (in casu, o desenvolvimento integral da criança) e implica uma atuação contra o agressor. Esta atuação deverá ser tanto mais intensa, quanto mais certa e concreta for a ameaça. Em qualquer caso, tal atuação, quando dirigida contra terceiros (na situação ora em causa, contra os pais intencionais e a gestante), determina limitações e restrições à sua liberdade de agir, podendo, no limite, determinar inibições ou mesmo a perda de direitos. Daí a necessidade de fazer ponderações entre, por um lado, a intensidade do risco para o bem a proteger e, por outro, a importância dos interesses daqueles que serão afetados pelas medidas de proteção de tal bem.
No que se refere ao impacto negativo no desenvolvimento da criança que foi separada da mulher que a deu à luz, verifica-se inexistirem certezas, seguras e determinadas ou definitivas; os dados científicos apontam, isso sim, para um impacto positivo da manutenção de tal ligação após o nascimento (cfr. supra o n.º 33). E, de todo o modo, também não se exclui que eventuais impactos negativos não possam ser compensados por uma experiência de parentalidade mais intensa, porque muito desejada e alcançada após a superação de enorme sofrimento. Do lado dos pais intencionais e da gestante, não pode ignorar-se a já mencionada relevância constitucional positiva da gestação de substituição, enquanto modo de viabilização de direitos fundamentais dos beneficiários (cfr. supra o n.º 27) e enquanto expressão possível da autonomia pessoal da gestante (cfr. supra o n.º 28).
Em suma, dir-se-á que o perigo inerente à gestação de substituição para o desenvolvimento da criança nascida com recurso à mesma reveste um grau de abstração elevado e de significativa incerteza. É este nível de ameaça àquele bem que tem de ser ponderado com a imposição de severas limitações à liberdade geral de atuação, seja dos pais intencionais ou beneficiários, seja da gestante de substituição. Num tal quadro de incerteza quanto aos riscos para o desenvolvimento da criança e de certeza positiva quanto aos benefícios da gestação de substituição para os beneficiários e a própria gestante, não pode deixar de reconhecer-se ao legislador um significativo espaço de avaliação e de conformação. O dever de proteção da criança, nestas condições, não impõe uma única atuação, em especial a prevenção absoluta de todo e qualquer risco mediante a proibição da gestação de substituição. Aliás, tal solução, embora admitida, não foi considerada constitucionalmente imposta no Acórdão n.º 101/2009. Diferentemente, o cumprimento daquele dever permite diversas soluções que equilibrem os vários interesses em presença, soluções essas que vão desde a proibição de tal forma de procriação até à sua regulação. Permitir a gestação de substituição ou proibi-la, corresponde simplesmente a uma opção do legislador, a adotar num quadro de ausência de certezas absolutas sobre se as vantagens sobrelevam as desvantagens ou vice-versa (cfr., quanto à não imposição da permissão, supra o n.º 27). Consequentemente, a consagração da gestação de substituição no artigo 8.º da LPMA, por si só, não viola o dever de proteção da infância.
- Uma outra questão suscitada em conexão com a defesa do superior interesse da criança respeita à possibilidade de criação de famílias monoparentais.
O problema foi suscitado no pedido objeto de apreciação pelo Acórdão n.º 101/2009, uma vez que a admissibilidade da PMA heteróloga pode conduzir a esse tipo de situações: ao excluir a paternidade do dador do sémen e ao permitir que o marido ou o companheiro unido de facto à mulher sujeita à técnica de PMA possa impugnar a presunção de paternidade, provando que não prestou consentimento para a mesma (ou que a criança não nasceu da inseminação para que o consentimento foi prestado), a criança pode, na prática, ser juridicamente considerada apenas filha da mulher que se submeteu à técnica de PMA (artigos 10.º, n.º 2, 19.º, n.º 1, 20.º, n.º 4, e 21.º, todos da LPMA, com a redação dada pelas leis de 2016). Por força do alargamento do âmbito dos beneficiários das técnicas de PMA operado pela Lei n.º 17/2016, visando garantir o acesso de todas as mulheres à PMA (v. o respetivo artigo 1.º), o problema tornou-se ainda mais presente: segundo a nova redação do artigo 6.º, n.º 1, da LPMA, qualquer mulher, independentemente do estado civil e da respetiva orientação sexual, pode recorrer às técnicas de PMA, sendo por isso beneficiária de tais técnicas, nos mesmo termos em que o são casais heterossexuais ou casais de mulheres, respetivamente casados ou casadas ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges. Anteriormente à citada Lei n.º 17/2016, aquele preceito apenas permitia o acesso a técnicas de PMA a casais heterossexuais, casados ou que vivessem em condições análogas às dos cônjuges.
A questão da monoparentalidade pode eventualmente colocar-se também no âmbito da gestação de substituição (cfr. a nota feita supra no n.º 8). Mas ainda que assim suceda, certo é que a mesma não é um problema específico de tal modo de procriação. A questão coloca-se hoje necessariamente em consequência da referida alteração do artigo 6.º, n.º 1, da LPMA. Era nesse preceito que se ancorava o princípio da biparentalidade (assim, v. o Acórdão n.º 101/2009). Porém, como se refere no relatório junto ao Parecer n.º 87/CNECV/2016, ocorreu uma «mudança de paradigma da utilização das técnicas de PMA, centrando as questões numa realidade: que a beneficiária das técnicas é a mulher, independentemente do facto de estar ou não acompanhada por um/a parceiro/a. Nesta medida, as alterações previstas para a Lei n.º 32/2006, de 26 de junho [– e que nela foram introduzidas pela referida Lei n.º 17/2016 –], não implicam um verdadeiro alargamento dos beneficiários das técnicas da PMA, antes constituem o reconhecimento legal de que a beneficiária das técnicas é aquela em quem as técnicas são potencialmente aplicadas, ou seja, a mulher» (p. 11). Deste modo, a possibilidade de constituição de famílias monoparentais com recurso a técnicas de PMA resulta exclusivamente do artigo 6.º, n.º 1, da LPMA.
Sucede que a constitucionalidade deste preceito não é questionada pelos requerentes, nessa ou em qualquer outra dimensão, razão por que este Tribunal, em obediência ao princípio do pedido, não pode conhecer de tal questão.
- A questão mais geral respeitante à promoção do caráter ambíguo da maternidade com impacto sobre a criança nascida na sequência do recurso à gestação de substituição e sobre a própria instituição familiar encontra-se enunciada, por exemplo, na declaração de voto conjunta contrária ao sentido do Parecer n.º 63/CNECV/2012 e, de modo especial, salientando os respetivos aspetos ético-filosóficos, no relatório que dela faz parte elaborado pelo Conselheiro Michel Renaud. Sintetizando o essencial das preocupações a tal respeito, pode ler-se na referida declaração conjunta:
«O voto contra é essencialmente justificado pelo facto de se considerar que foi o interesse sempre prioritário e frequentemente exclusivo do casal beneficiário e não o interesse do nascituro que esteve na base da discussão do CNECV; ora, considera-se que o superior interesse do nascituro é o primeiro elemento que deve nortear a reflexão. Em seguida, por motivos circunstanciais, o Parecer aprovado por maioria altera o sentido global da maternidade, o que, aliás, pressupõe a promoção intencional de um dualismo filosófico entre a vertente natural da maternidade e a sua vertente sócio-jurídica e política – dualismo com o qual filosoficamente não concordamos e que não nos parece ser a marca de um progresso civilizacional. […]
A proposta de parecer [negativo] fundamenta-se nas seguintes considerações:
[…]
[6. A] GDS acarreta uma profunda mudança civilizacional, ética e social, quer na realidade da família, quer no sentido da maternidade e da filiação, o que reclama uma profunda reflexão. […]
- A ambiguidade que decorre da questão “quem é a mãe” – a mãe genética ou a gestante – apenas pode ser determinada de modo arbitrário pelo direito […] A discordância, a esse respeito, entre os Estados que aceitam a GDS mostra que esta induziu no conceito de maternidade uma ambiguidade que precisa de uma medida jurídica para ser superada (por oposição ao adágio “mater semper certa est”). […]
- A GDS tem consequências sobre o conceito de filiação: altera o conceito natural da filiação. Dissocia intencionalmente filiação natural e filiação social; contrariamente ao ato de adoção, que não é responsável nem pela filiação natural nem pela ausência de relação entre filiação natural e filiação social, a GDS constitui a iniciativa, explícita e voluntária, desta dissociação […].
- Se a GDS for realizada com a participação de uma familiar, é previsível uma perturbação psicológica devida ou a um curto-circuito geracional (se a gestante é ao mesmo tempo avó do nascituro) ou a uma confusão na imagem da maternidade que se cria no ser humano nascido mediante GDS. […]»
Em sentido convergente, João Loureiro articula juridicamente a seguinte posição, com base na garantia institucional da família consagrada no artigo 67.º da Constituição:
«Homo familiaris, não são indiferentes as estruturas simbólicas do parentesco, a começar pelo tabu do incesto [… V]alem aqui as pertinentes considerações de um relatório do The President’s Council on Bioethics: “a procriação humana, embora aparentemente um ato exclusivamente privado, tem um profundo significado público. Determina as relações entre uma geração e a próxima, conforma identidades, cria vínculos, e estabelece responsabilidades pelo cuidado e criação dos filhos (e o cuidado pelos pais idosos ou outro parente necessitado). Se a mãe é mãe, mas a avó também é, de facto, mãe ao dá-lo à luz, e se o útero releva, mais do que a questão da multiplicação […], assistimos, paradoxalmente, a um pôr em questão a separação fundante dos laços familiares, a desordem e a uma diferenciação indiferenciante, que esquece o profundo simbolismo da narratividade da criação, assente numa ordem estruturada precisamente na referida separação [o que origina, segundo as palavras de Onora O’Neill,] relações familiares que classifica como “confusas” ou “ambíguas”.
[A]figuras-se-nos que a CRP não permite a abertura de portas a uma experimentação, que, neste caso, dramaticamente, não é, uma mera “experiência do pensamento”» (v. Autor cit., “Outro útero é possível…” cit., pp. 1425-1427).
Apesar de a gestação de substituição permitida pelo artigo 8.º da LPMA não se limitar ao âmbito familiar – e, por isso, não se reconduzir necessariamente a uma substituição intrafamiliar –, é inegável a possibilidade – se não mesmo a probabilidade – de surgirem situações como as descritas.
Em qualquer caso, e independentemente da maior ou menor perceção que delas possam ter, as posições recíprocas da beneficiária, da gestante e da criança nascida na sequência do recurso à gestação de substituição estão perfeitamente definidas do ponto de vista jurídico. É esse, precisamente, o objetivo da adaptação do direito da filiação geral estabelecido no Código Civil à situação especial da gestação de substituição (cfr. o artigo 8.º, n.º 7, da LPMA; v. também supra o n.º 8). Consequentemente, o perfil jurídico-normativo da instituição família, de modo particular no que respeita ao seu âmbito mais restrito – a chamada “família nuclear” –, não é afetado pela gestação de substituição: a criança gerada pela avó ou pela tia por conta, respetivamente, de uma filha ou de uma irmã, para o direito, continua a ser ou só neta e sobrinha de cada uma delas; ou, caso ocorra alguma vicissitude invalidante do contrato de gestação de substituição, somente filha. Acresce que o critério da filiação em causa não é (juridicamente) arbitrário, uma vez que se funda na eficácia de um contrato de gestação lícito, que, no ordenamento jurídico português, à semelhança do que sucede no âmbito de outras ordens jurídicas, desempenha uma função jurídico-social com relevância ao nível da própria Constituição.
A questão de constitucionalidade que se pode suscitar é a de saber se a família em que tais situações ocorrem ainda corresponde ao conceito constitucional homónimo: família enquanto «elemento fundamental da sociedade» com «direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros» (artigo 67.º, n.º 1, da Constituição).
O conceito constitucional de família não se encontra definido e o seu domínio normativo apresenta-se cada vez mais diferenciado quanto às soluções que admite. As sucessivas reformas do direito da família dão conta disso mesmo. Como reconhece Jorge Duarte Pinheiro, o «Direito da Família é especialmente permeável à realidade social e às posições ideológicas lato sensu (incluindo visões políticas, religiosas ou conceções de vida laicas e apolíticas», reconduzindo-se o direito português atual, no que se refere ao modo de conexão com os valores, a uma matriz pluralista, em virtude de «admitir a relevância de diferentes ordens de dever-ser social, dentro de certos limites, que são normalmente definidos pelo pensamento da maioria» (v. Autor cit., O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, pp. 53-57).
Por outro lado, o programa normativo de tal conceito deve ser densificado a partir de referências constitucionais que sejam relevantes, como por exemplo, o artigo 36.º, n.º 1, de onde decorre que o conceito constitucional de família não implica o casamento (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. III ao artigo 67.º, pp. 856-857). Ora, a norma do artigo 67.º, n.º 2, alínea e), referente à regulação da PMA, desempenha uma função similar: a família constitucionalmente prevista abre-se à possibilidade de PMA; não a limita. Mais: a efetivação das condições que permitam a realização pessoal dos membros da família é, ela própria, um direito da família.
Não se vislumbra, assim, que a garantia institucional da família revista uma definição de contornos tão precisa, que habilite a sua mobilização como obstáculo constitucional a que o legislador ordinário permita a gestação de substituição em determinadas condições. Só por si, este modo de procriação não colide com o conceito constitucionalmente adequado de família. Pelo contrário, o mesmo modo de procriação apresenta-se como (mais) um fator de dinamização da família, possibilitando o estabelecimento de vínculos de filiação aí onde, por razões de saúde, os mesmos não seriam possíveis.
- 6. Questões de inconstitucionalidade suscitadas por certos aspetos do regime da gestação de substituição lícita
- A inexistência de uma incompatibilidade de princípio do modelo português de gestação de substituição com a Constituição não significa que determinados aspetos do seu regime jurídico não possam suscitar questões de inconstitucionalidade. A ser assim, não estará em causa o modelo, em si mesmo considerado, mas tão-somente certas soluções adotadas na sua concretização legislativa. Desde que as soluções em causa se compreendam no âmbito objetivo do pedido – os n.ºs 1 a 12 do artigo 8.º da LPMA e demais normas da mesma Lei que se refiram à gestação de substituição – nada obsta a que o Tribunal aprecie a sua eventual inconstitucionalidade (cfr. o já citado artigo 51.º, n.º 5, da Lei do Tribunal Constitucional).
Do ponto de vista substancial, isto é, no que se refere ao conteúdo das soluções adotadas, podem identificar-se problemas de duas ordens, de resto já pré-anunciados na análise desenvolvida a propósito da salvaguarda da dignidade da gestante e da dignidade da criança (v., em especial, supra o n.º 30).
Em primeiro lugar, cumpre analisar a efetividade da garantia de autonomia ética e pessoal da gestante de substituição, indispensável à preservação da sua dignidade, que age no âmbito de um processo biológico, psíquico e potencialmente emocional-afetivo como a gravidez. Com efeito, se a gestação de substituição é legítima, do ponto de vista da gestante, enquanto exercício da sua liberdade de exteriorização da personalidade – uma liberdade de agir de acordo com um projeto de vida próprio e autoconformador da própria personalidade (cfr. supra o n.º 28) – importa assegurar que o sentido de tal atuação não seja invertido e que, a meio do processo, se converta em mero instrumento ao serviço da vontade dos beneficiários. O legislador foi ao encontro desta preocupação por duas vias: exigindo, por um lado, como pressuposto do próprio contrato de gestação de substituição, que a gestante seja informada dos benefícios e riscos conhecidos, bem como das implicações éticas, sociais e jurídicas do compromisso que se propõe assumir e que a mesma preste um consentimento expresso, autónomo e antecipado; e, por outro, permitindo a revogação de tal consentimento «até ao início dos processos terapêuticos de PMA» (cfr. os artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, ambos da LPMA; v. também supra os n.ºs 8 e 29). Mas será que tal é suficiente?
Em segundo lugar, o regime da nulidade previsto no n.º 12 do artigo 8.º da LPMA, privando de eficácia o contrato de gestação de substituição, afeta a filiação estabelecida nos termos do n.º 7 de tal preceito com base nesse contrato. Suscitam-se, por isso, dúvidas, quanto ao respeito das exigências de segurança jurídica numa matéria tão importante como a da filiação, atenta a invocabilidade a todo o tempo e por qualquer interessado da nulidade. Tais dúvidas estendem-se ainda à questão de saber se, e em que medida, o interesse da criança nascida na sequência de uma gestação de substituição pode ser objeto de ponderação autónoma, em caso de nulidade do pertinente contrato, seja ele gratuito ou oneroso.
Num plano diferente, mas não menos relevante no quadro de um Estado de direito democrático, coloca-se ainda o problema da suficiência e determinabilidade do regime legal estabelecido quanto ao contrato de gestação de substituição, para mais num domínio coberto, ao menos parcialmente, pela reserva de lei parlamentar (n.ºs 4, 10 e 11, do artigo 8.º da LPMA). Com efeito, o legislador abdicou de intervir no tocante à conformação do conteúdo das cláusulas contratuais, limitando-se a prever a existência necessária de disposições sobre certas matérias e a proibir disposições que imponham «restrições de comportamentos à gestante de substituição» ou «normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade». Sendo o contrato uma expressão da autonomia privada das partes, a omissão de intervenção em causa prima facie até poderia parecer consequente. Simplesmente, o legislador também reconhece que o contrato é “supervisionado” pelo CNPMA e tem de ser pelo mesmo previamente autorizado. Ou seja, e sem prejuízo do início de vigência do regulamento referido no artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 25/2016, ao abdicar nos termos referidos de intervir na conformação do conteúdo do contrato de gestação de substituição, o legislador acabou por remeter para o CNPMA a competência de delimitar positiva e negativamente o âmbito do exercício da autonomia privada das partes em tal contrato.
B.6.1. A questão dos limites à livre revogabilidade do consentimento da gestante
- A essencialidade do consentimento da gestante para a eficácia do contrato de gestação de substituição já foi devidamente sublinhada. Se o contrato, para além da regulação de diferentes aspetos das relações entre as partes, traduz a adesão da gestante a um projeto parental dos beneficiários, aceitando, perante estes, que se submete a um conjunto de operações que visam, no final, dar à luz uma criança que seja tida como filha deles (cfr. supra os n.ºs 24 e 28), o referido consentimento destina-se a garantir que as obrigações assumidas em ordem a permitir alcançar tal finalidade – obrigações essas que interferem com direitos fundamentais da gestante, nomeadamente o direito à integridade física, o direito à saúde e até o direito a constituir família e a ter filhos – não violentam a gestante, ficando salvaguardada a sua dignidade ao longo de todo o processo (cfr. supra os n.ºs 8, 28 e 29). Com efeito, qualquer uma das obrigações características do contrato de gestação de substituição – a submissão a uma técnica de PMA, a gravidez e o parto suportados no interesse dos beneficiários e a entrega a estes da criança nascida – só é juridicamente admissível porque consentida pela gestante. E este consentimento livre e esclarecido – é essa a razão de ser do estabelecimento de certas garantias procedimentais e organizatórias para a sua prestação –, que a vincula, tem de valer enquanto for condição indispensável à salvaguarda da dignidade da gestante, pois só desse modo pode desempenhar a função específica que lhe compete no âmbito do regime da gestação de substituição.
Dada a natureza jurídica do consentimento enquanto negócio jurídico unilateral, não é fácil a sua articulação jurídico-formal com o regime do contrato – um negócio jurídico bilateral. E o modo como a referência expressa ao contrato foi introduzida na lei também não ajuda (cfr. supra o n.º 29). De todo o modo, é seguro que a previsão legal do contrato e o seu regime não pode prejudicar a função própria e específica do consentimento, em particular o da gestante, sob pena de pôr em causa a própria admissibilidade constitucional da gestação de substituição. Recorde-se que uma das condições de admissibilidade do modelo português de gestação de substituição é, precisamente, a consideração de que o mesmo não põe em causa a dignidade da gestante (cfr. supra os n.ºs 28 e 29).
- As aludidas dificuldades de articulação jurídico-formal do consentimento e do contrato transparecem, desde logo, na própria LPMA. Não obstante, e como referido, o legislador conservou a respetiva autonomia, assegurando que, pelo menos «até ao início dos processos terapêuticos de PMA», o regime do contrato não pode pôr em causa as garantias legais conexas com a liberdade do consentimento. Com efeito, a aplicabilidade do disposto no artigo 14.º, n.º 4, daquele diploma no âmbito da gestação de substituição, tanto aos beneficiários como à gestante – resultando tal aplicabilidade das remissões contidas no artigo 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5 –, significa que, mesmo existindo já contrato assinado entre as partes, qualquer uma delas pode revogar o consentimento previamente dado, fazendo desaparecer o pressuposto da celebração do próprio contrato e, consequentemente, determinando a sua total ineficácia.
O n.º 10 do artigo 8.º da LPMA estatui que a «celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita através de contrato escrito estabelecido entre as partes», os beneficiários e a gestante. É nesse acordo, supervisionado pelo CNPMA, que devem estar reguladas certas questões («as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez» – n.º 10); por outro lado, o mesmo acordo «não pode impor restrições de comportamentos à gestante de substituição, nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade» (n.º 11 do mesmo artigo) nem prever pagamentos à gestante que ultrapassem «o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestado, incluindo em transportes, desde que devidamente tituladas em documento próprio» (ibidem, n.º 5). Em ordem a verificar a observância dos requisitos de legalidade do contrato, este tem de ser previamente autorizado pelo CNPMA (ibidem, n.º 4).
Mas o n.º 8 do mesmo artigo 8.º refere-se expressamente à «validade e eficácia do consentimento das partes», autonomizando-o do «regime dos negócios jurídicos de gestação de substituição», e determinando que a tal matéria seja aplicado o disposto no artigo 14.º da LPMA. Este preceito, concebido especificamente para a aplicação das técnicas de PMA, tem como epígrafe «Consentimento» e disciplina as condições, termos e conteúdo de uma declaração negocial desse tipo, que, por natureza é unilateral. Como se referiu supra no n.º 8, o consentimento prestado no quadro da gestação de substituição não se limita a autorizar a aplicação de uma dada técnica de PMA; o mesmo vincula o emitente em relação a todo o processo de gestação de substituição, sendo, por isso, mais complexo e abrangente.
É mais complexo, porque exige uma declaração de consentimento dos beneficiários e outra da gestante, as quais não se dirigem apenas ao médico responsável, mas também aos próprios interessados: os beneficiários consentem, também perante a gestante, que nesta seja implantado um embrião constituído com recurso a gâmetas de, pelo menos, um deles; e a gestante consente, também perante os beneficiários, em que lhe seja implantado esse mesmo embrião.
O consentimento em apreço é também mais abrangente, uma vez que o seu objeto é não só a aplicação de uma técnica de PMA, mas todo o processo gestacional e o próprio parto. Daí a previsão no artigo 14.º, n.º 6, de que «os beneficiários e a gestante de substituição [sejam] ainda [– isto é, para além das informações respeitantes aos benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização de técnicas de PMA, bem como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas –] informados, por escrito, do significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal».
Deste modo, o consentimento dos beneficiários implica a vontade positiva de que o embrião criado com recurso ao seu material genético, implantado na gestante, desenvolvido por esta durante a gravidez e por ela dado à luz, seja tido como seu filho. Do mesmo modo, o consentimento da gestante traduz a vontade positiva de que a criança que vier a trazer no seu ventre e que vier a dar à luz não venha a ser sua filha, mas dos beneficiários. Esta autovinculação direcionada inerente ao consentimento prestado no âmbito da gestação de substituição explica a dificuldade em separá-lo de um acordo entre as partes. E, na verdade, faz todo o sentido acomodar as exigências relativas ao consentimento no próprio contrato.
- Aliás, isso mesmo parece ter sido tentado no Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 de julho, que veio regulamentar a Lei n.º 25/2016, e no contrato-tipo entretanto aprovado, mas com o objetivo de reduzir ao mínimo as referências autónomas ao consentimento e fazer coincidir o acordo com a declaração unilateral de consentimento.
Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, daquele diploma, o CNPMA aprova o contrato-tipo de gestação de substituição, do qual devem constar obrigatoriamente cláusulas tendo por objeto matérias enunciadas nas alíneas do n.º 3 do mesmo preceito. Entre estas, cumpre salientar, pela sua conexão com a questão do consentimento, as alíneas e) («[a] prestação de informação completa e adequada sobre as técnicas clínicas e os seus potenciais riscos para a saúde») e f) («[a] prestação de informação ao casal beneficiário e à gestante sobre o significado e as consequências da influência do estilo de vida da gestante no desenvolvimento embrionário e fetal»), porquanto respeitam, respetivamente, às informações destinadas a garantir um consentimento informado previstas nos n.ºs 2 e 6 do artigo 14.º da LPMA. Verifica-se, deste modo, o esforço de lograr que, por via da aceitação de um contrato que obedeça ao contrato-tipo, se preste simultaneamente o consentimento exigido.
Ainda assim, este surge autonomizado logo na alínea j), respeitante aos «termos da revogação do consentimento ou do contrato e as suas consequências» (itálicos aditados). E, sobretudo, no seguinte preceito:
«Artigo 4.º
Declaração negocial
Sem prejuízo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, as declarações negociais da gestante de substituição e dos beneficiários manifestadas no contrato de gestação de substituição, são livremente revogáveis até ao início dos processos terapêuticos de PMA.»
Recorde-se que o preceito citado do Código Penal respeita à interrupção voluntária da gravidez realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez semanas de gravidez.
No contrato-tipo aprovado pelo CNPMA, já só se fala em «revogação do contrato», não para referir um acordo de revogação, mas a possibilidade de «qualquer uma das partes» livremente pôr termo ao contrato «até ao início do processo terapêutico de PMA» (cláusula 8.ª, n.º 1). Admite-se também a resolução (unilateral) do contrato nos casos de realização de interrupção voluntária da gravidez (cláusula 8.ª, n.ºs 1, parte final, e 2, só pela gestante, com referência à hipótese prevista no artigo 142.º, n.º 1, alínea e), do Código Penal; cláusula 11.ª, por qualquer das partes, nas situações das alíneas a) ou b) do mesmo preceito). Os deveres de informação, assim como o consentimento prestado perante o médico constituem um pressuposto da assinatura do contrato, conforme referido no considerando g) do contrato-tipo (ainda que depois, nas cláusulas 2.ª, n.º 2, alínea a), e 5.ª, alínea a), se afirme constituírem direitos, respetivamente, da gestante e do casal beneficiário, serem informados de acordo com a previsão do artigo 14.º, n.º 2, da LPMA):
«O casal beneficiário e a gestante foram informados por escrito dos benefícios e dos riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, das suas implicações éticas, sociais e jurídicas e do significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário e fetal, tendo prestado expressamente o seu consentimento para a realização dos necessários procedimentos de PMA de forma livre e esclarecida.»
- Simplesmente, há que não confundir uma legítima acomodação contratual com uma indiferenciação ilegítima, atenta a assimetria existente entre o que é consentido pelos beneficiários e pela gestante e a autonomia funcional do consentimento de cada uma das partes no contrato.
Concentrando a atenção na gestante, verifica-se que é a saúde desta que corre maiores riscos e durante mais tempo e é ela que se vincula a suportar a gravidez e o parto e, depois deste, a entregar a criança aos beneficiários. Para a gestante, o seu consentimento cobre um significativo período de tempo, durante o qual o seu corpo e a sua saúde psicológica e emocional vão sofrendo alterações várias. Em termos funcionais, e como mencionado, a validade jurídica de qualquer uma das obrigações essenciais do contrato de gestação pressupõe a validade e eficácia do consentimento prévio da gestante, sob pena de a dignidade desta ficar comprometida. Por isso mesmo, o seu consentimento traduz o exercício do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade com referência a cada uma das fases do processo de gestação de substituição (cfr. supra o n.º 28).
Já para os beneficiários, depois da recolha dos gâmetas exigidos e da concretização da transferência uterina, um eventual passo atrás no que se refere ao seu consentimento, já não pode interferir com as aludidas obrigações essenciais do contrato. O caráter vinculativo do seu consentimento justifica-se em razão de tais obrigações recaírem sobre a gestante, e não sobre eles. Uma eventual desistência do projeto parental que assumiram inicialmente apenas poderia culminar, caso a gestação de substituição fosse bem sucedida, numa entrega para adoção. Assim, e diferentemente do que acontece no caso da gestante, o consentimento dos mesmos não está necessariamente conexionado com o exercício de direitos fundamentais seus. Aliás, como referido anteriormente, os beneficiários não têm um direito fundamental à procriação por via de gestação de substituição; esta última corresponde tão só a uma opção do legislador no sentido de possibilitar a concretização de um projeto parental que, de outro modo, não seria viável (cfr. supra o n.º 27).
O legislador manteve a referência expressa e autónoma ao consentimento e à sua livre revogabilidade no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA, determinando que tal preceito «é aplicável à gestante de substituição nas situações previstas no artigo 8.º» (v. o n.º 5 do mesmo artigo 14.º). É que, apesar de todas as conexões, a aceitação do contrato de gestação de substituição por parte da gestante não garante necessariamente a continuidade do seu consentimento por todo o tempo da execução do contrato. Como mencionado, o contrato pode acomodar as exigências relacionadas com o consentimento, em especial com os seus limites, mas também pode não o fazer. Neste caso, as exigências do consentimento, atenta a respetiva importância para a admissibilidade jurídica do próprio contrato, têm de prevalecer. E o legislador até o reconheceu no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA: o consentimento é livremente revogável até ao início dos processos terapêuticos de PMA. A questão que este preceito suscita, depois, é a de saber se tal garantia, do ponto de vista da salvaguarda da dignidade da gestante, é suficiente.
- Tal como conformado pela lei em vigor, o consentimento da gestante é prestado ex ante relativamente ao início do processo terapêutico de PMA e, a fortiori, à própria gravidez e ao parto, mais exatamente antes da celebração do contrato de gestação de substituição ou nesse momento. Tal consentimento baseia-se nas informações a que se reportam os n.ºs 2 e 6 do artigo 14.º: respetivamente, benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, bem como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas; e significado da influência da gestante no desenvolvimento embrionário e fetal. E o consentimento só pode ser revogado até ao início do dito processo terapêutico de PMA.
Sucede que a gestação é um processo complexo, dinâmico e único, em que se cria uma relação entre a grávida e o feto que se vai desenvolvendo no seu seio. Daí poder questionar-se até que ponto é que um consentimento prestado ainda antes da gravidez, relativamente a todo o processo da gestação de substituição, desde a implantação do embrião até ao parto e, mesmo depois, até à entrega da criança aos beneficiários, é verdadeiramente informado quanto à totalidade desse mesmo processo.
No Relatório sobre Procriação Medicamente Assistida e Gravidez de Substituição, elaborado pelo Conselheiro-Presidente Miguel Oliveira da Silva em vista do Parecer n.º 63/CNECV/2012, evidencia-se que a gestante não é neutra nem biológica nem afetivamente em relação ao feto e que existe uma interação entre ambos muito significativa:
«3.4. O ambiente uterino e sua influência determinante na pessoa humana
O microambiente uterino condiciona o funcionamento da placenta e o desenvolvimento do epigenoma fetal, isto sem alterar a sequência do DNA, leva a modificações do epigenoma (conjunto das modificações na cromatina […], por metilação da DNA, modificações na histona e no micro RNA não codificante (non-coding).
A gravidez é um tempo vulnerável e constitui, entre outros aspetos, o momento por excelência de ativa programação do epigenoma do embrião-feto, condicionando e definindo a expressão dos genes do embrião/feto, para sempre: a expressão dos genes (ativação e desativação) do embrião/feto/criança é moldada pela gestação intrauterina, ativando uns genes, desativando outros, muito se jogando logo desde a própria implantação do embrião no útero. A implantação é um fenómeno cientificamente cada vez mais determinante no futuro do embrião-feto e que, obviamente, varia de útero para útero.
O recém-nascido não é a mesma pessoa de acordo com o útero em que é gerado: há uma diferente identidade (até epigenética).
A mulher grávida altera a expressão genética de cada embrião.
E inversamente: o embrião/feto altera a mãe gestatória, para sempre (até no simples plano biológico, já para não falar nos aspetos emocional e espiritual) – nenhuma mulher é a mesma pessoa (considerando apenas a biologia, já sem falar na vida psíquica e espiritual) depois de cada gravidez, dado o DNA fetal em circulação materna.
A grávida de substituição pode entregar a criança após o parto à mãe “legal-social”, mas terá toda a sua vida na respetiva circulação DNA desse ser humano, possivelmente com consequências na respetiva saúde e comportamento – a relação não termina com o cumprimento do contrato.
A grávida não se limita a “alimentar” o feto, altera-lhe a expressão dos genes; o microambiente uterino dá-lhe muito mais do que nutrientes e oxigénio: dá-lhe anticorpos, emoções, reprograma-lhe os genes (condicionando, possivelmente, futuras patologias e talvez comportamentos da pessoa que vai nascer)» (pp. 29-30).
A partir destas considerações, bem como do conhecimento da possibilidade de ocorrência de malformações do feto ou doenças fetais ou de que qualquer gravidez envolve, em maior ou menor grau, riscos para a saúde física ou psíquica da grávida (cfr. o artigo 8.º, n.º 10 da LPMA e o artigo 142.º, n.º 1, do Código Penal), pode concluir-se com referência ao processo de gestação:
– Que se trata de um fenómeno dinâmico e imprevisível quanto a uma série de vicissitudes possíveis quer quanto ao feto-nascituro, quer quanto à grávida;
– Que no seu âmbito se constitui uma relação biológica e potencialmente afetiva entre a grávida e o feto;
– Que tal processo também pode interferir com a auto-compreensão da própria gestante.
Estas características da gravidez condicionam decisivamente a possibilidade de um esclarecimento cabal ou de uma informação completa ex ante e, consequentemente, a própria posição da gestante face aos beneficiários: não sendo possível antecipar e prever o que vai ocorrer nas várias fases, desde a implantação do embrião até à entrega da criança, pode duvidar-se da existência de um consentimento suficientemente informado e, como tal, adotado com plena consciência de todas as possíveis consequências. Inexistindo um esclarecimento suficiente, a escolha realizada também não poderá considerar-se verdadeiramente livre. Em tais condições, caso a gestante se venha a opor à execução do contrato de gestação de substituição, é de concluir que uma eventual execução forçada do mesmo, ou uma penalização pecuniária pelo seu incumprimento devem ser consideradas, como uma afetação não realmente consentida da sua personalidade.
Em qualquer caso, as referidas características da gestação também não permitem excluir – bem pelo contrário, antes justificam – uma eventual alteração das circunstâncias que subjetivamente determinaram o consentimento da gestante, fazendo com que o projeto parental inicial não corresponda mais à sua vontade. A consequência da verificação de tal hipótese será, uma vez mais, que as obrigações da gestante decorrentes do contrato de gestação de substituição, no momento da sua execução, já não correspondam à vontade da gestante, em termos de a mesma ter de ser forçada a cumpri-las, eventualmente por via direta – como poderá suceder com a entrega da criança –, ou, porventura mais frequentemente, por via indireta, mediante o pagamento de indemnizações compensatórias. Porém, dada a natureza pessoalíssima de tais obrigações, as mesmas só são compatíveis com a dignidade da gestante, na medida em que o seu cumprimento corresponda a uma atuação por si voluntariamente assumida.
Na verdade, e como mencionado anteriormente, do ponto de vista da gestante, o que legitima a sua intervenção na gestação de substituição é a afirmação livre e responsável da sua personalidade – um modo de exercício do direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, que, em última análise se funda na sua dignidade (cfr. supra o n.º 28). Ora, tal direito tem de ser assegurado ao longo de todas as fases em que se desdobra o processo de gestação de substituição: celebração do contrato, aplicação das técnicas de PMA, gravidez, parto e entrega da criança aos beneficiários. Consequentemente, quer a insuficiência de informação eventualmente viciante do consentimento inicial da gestante, quer a alteração posterior e imprevisível da sua vontade em razão de vicissitudes ocorridas durante a gestação ou o parto, justificam a possibilidade da ocorrência de situações não consideradas no consentimento por ela previamente prestado e, por isso mesmo, incompatíveis com a afirmação da sua personalidade. Ou seja, tendo a gestante deixado de querer continuar no processo de gestação de substituição tal como delineado no correspondente contrato, deixa também de poder entender-se que a sua participação em tal processo corresponde ao exercício do seu direito ao desenvolvimento da personalidade.
Deste modo, atentas as aludidas características físicas, biológicas, psíquicas e potencialmente afetivas da gravidez e do parto, a revogabilidade do consentimento inicialmente prestado é a única garantia de que o cumprimento das obrigações específicas de cada fase daquele processo continua a ser voluntário e, por isso, a corresponder ao exercício de tal direito. A pura e simples autovinculação antes do início do processo de gestação de substituição não permite acautelar suficientemente tal voluntariedade ao longo de todo o processo. Por outras palavras, a aludida revogabilidade corresponde a uma garantia essencial da efetividade do direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante, o qual constitui um alicerce fundamental do modelo português de gestação de substituição. E à semelhança das exigências de gratuitidade e de não subordinação económica para garantir a liberdade de consentimento inicial, a revogação em causa também tem de ser livre, no sentido de excluir, pelo menos, qualquer indemnização. Com efeito, as obrigações contratuais pressupõem o consentimento, pelo que, desaparecendo este, aquelas também deixam de poder subsistir, não havendo lugar para qualquer incumprimento contratual.
Simetricamente, o estabelecimento de limites legais à revogabilidade do consentimento da gestante não pode deixar de corresponder à definição de outras tantas restrições do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, nomeadamente para salvaguarda do interesse dos beneficiários e do respetivo projeto parental. Apesar de vinculante desde o início, o consentimento da gestante, para garantia da sua dignidade pessoal, tem de se manter atual ao longo de todo o processo de gestação de substituição, nomeadamente enquanto aquela cumpre as obrigações essenciais do contrato de gestação de substituição (cfr. supra os n.ºs 39 e 42). Consequentemente, a imposição sem exceção da vinculatividade de tal consentimento – que é prestado ainda antes da transferência do embrião –, até ao fim do processo de gestação de substituição, apesar de o mesmo não se poder ter como totalmente esclarecido – dada a imprevisibilidade de todas as vicissitudes que podem ocorrer durante o período de gestação e durante o próprio parto –, nem poder antecipar alterações de circunstâncias subjetivas essenciais ocorridas durante o mesmo período, revela-se como uma limitação severa da mencionada exigência de atualidade. Com efeito, a vinculação ao consentimento anteriormente prestado não impede que, por razões atendíveis inerentes à necessária incompletude da informação inicial ou à própria dinâmica da gravidez, em algum momento até depois do parto, a gestante seja confrontada com uma obrigação – continuar a suportar gravidez de um filho destinado aos beneficiários ou proceder à sua entrega após o parto – cujo cumprimento já não corresponde à sua vontade mais profunda e antes constitua, para si, uma violência. Ora, o consentimento que lhe é exigido para participar num processo de gestação de substituição visa também prevenir tal tipo de situações, uma vez que as mesmas convertem – e degradam – o que foi concebido como ato de solidariedade ativa numa instrumentalização atentatória da sua dignidade pessoal.
O artigo 14.º, n.º 4, da LPMA, aplicável à gestante por remissão do artigo 8.º, n.º 8, daquela Lei, e confirmada pelo disposto no n.º 5 do mesmo artigo 14.º («o disposto nos números anteriores é aplicável à gestante»), só admite a livre revogação do seu consentimento «até ao início dos processos terapêuticos de PMA». Neste caso, está em causa a defesa dos interesses dos beneficiários perante uma eventual “mudança de ideias” ou o “arrependimento” da gestante, que se traduz na vontade de a mesma se afastar do projeto parental daqueles e no qual se dispusera a participar (cfr. supra os n.ºs 24 e 28).
- A gestante pode afastar-se do projeto parental dos beneficiários por não querer levar a gestação até ao fim, realizando uma interrupção voluntária da gravidez, ou por, inversamente, querer levar a gravidez até ao fim e assumir um projeto parental próprio. Em razão do exposto, cumpre analisar se – e em que casos – a proibição de revogação do seu consentimento estatuída no citado artigo 14.º, n.º 4, da LPMA é legítima ou excessiva, atentos os interesses em causa.
Naturalmente que também os beneficiários podem querer afastar-se, por razões supervenientes, do seu próprio projeto parental (nomeadamente, em hipótese de divórcio, de doença incurável ou mesmo da morte de um deles, mas também de malformações do feto ou de doenças fetais entretanto detetadas). Simplesmente, a aludida assimetria das obrigações assumidas pelos beneficiários e pela gestante no âmbito da gestação de substituição (cfr. supra o n.º 42), bem como a circunstância de nenhuma mulher poder ser obrigada a realizar uma interrupção voluntária da gravidez contra a sua vontade, ainda que se encontrem reunidos os pressupostos legais para o efeito, tem como consequência que, depois da transferência uterina, isto é, da implantação do embrião no útero da gestante, os primeiros já não possam voltar atrás nem exigir à gestante que o faça, mesmo no caso desta não querer assumir um projeto parental próprio relativamente ao nascituro que traga no seu ventre. A única solução, nesses casos, será, portanto, a entrega pelos beneficiários da criança nascida na sequência do recurso a gestação de substituição – e que é sua filha, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º da LPMA – para adoção (cfr., sobre as questões suscitadas pelas várias hipóteses de arrependimento das partes no contrato de gestação de substituição, Vera Lúcia Raposo, “Tudo aquilo que você sempre quis saber sobre contratos de gestação (mas o legislador teve medo de responder)” in Revista do Ministério Público, n.º 149 (janeiro-março de 2017), pp. 9 e ss., em especial, pp. 15 e ss. e 31 e ss.).
Haveria ainda a considerar a possibilidade de as partes quererem revogar por acordo o contrato de gestação de substituição, já depois de realizada a transferência uterina – hipótese não expressamente prevista e que poderia suscitar dificuldades em virtude de o mesmo não ser inteiramente livre, uma vez que tem de ser previamente autorizado. Contudo, bem vistas as coisas, tal possibilidade acaba por se reconduzir à situação em que a gestante revoga o seu consentimento, seja por não querer levar a gestação até ao fim, seja por querer assumir um projeto parental próprio. A única diferença consiste em tal revogação ocorrer numa situação em que não existe qualquer conflito com a vontade dos beneficiários.
- No que se refere ao afastamento da gestante relativamente ao projeto parental dos beneficiários em virtude de não querer levar a gravidez até ao fim, poderia pensar-se que os mesmos são objeto de disciplina legal no artigo 8.º, n.º 10 da LPMA. Contudo este preceito limita-se a estabelecer que do contrato de gestação de substituição «devem constar obrigatoriamente, em conformidade com a legislação em vigor, as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez». Ou seja, na sua letra, o mesmo preceito não assegura à gestante a possibilidade de, por si só, e sem consequências indemnizatórias, decidir realizar uma interrupção voluntária da gravidez (“IVG”) nas situações em que a mesma se encontra legalmente garantida, conforme previsto no artigo 142.º do Código Penal e na Lei n.º 16/2007, de 17 de abril.
Tal interpretação é confirmada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017, que, em todo o caso, ressalva a possibilidade de realização de IVG, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez (cfr. o artigo 4.º, com referência à alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal). Para as demais situações legalmente previstas, vale a determinação de que o contrato-tipo contenha cláusulas tendo por objeto as «disposições a observar em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez em conformidade com a legislação em vigor» (v. ibidem, artigo 3.º, n.º 3, alínea h) ).
No contrato-tipo já aprovado, aquela ressalva também se encontra prevista, a título de «revogação do contrato», sem prejuízo da obrigação de reembolsar o casal beneficiário das despesas realizadas (cfr. a cláusula 8.ª). Admite-se também a «resolução do contrato por qualquer das partes, sem que haja lugar ao pagamento de qualquer indemnização», em caso de IVG realizada ao abrigo das alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal: remoção ou prevenção do perigo de morte ou de grave e irreversível (ou duradoura) lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida.
Porém, já no que se refere às situações previstas na alínea c) do mesmo preceito do Código Penal (existência de «seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez, excecionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo»), a cláusula 9.ª estabelece que a decisão da concretização da IVG «caberá em conjunto ao casal beneficiário e à gestante» (itálico aditado). E, se a gestante, «contra a vontade declarada do casal beneficiário» (itálico aditado), não concretizar a IVG nessas mesmas situações, fica obrigada a indemnizar os danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo casal beneficiário em consequência do nascimento de uma criança naquelas condições (cfr. a cláusula 10.ª).
Em suma, as referências às disposições sobre IVG contidas no referido artigo 8.º, n.º 10, da LPMA não permitem assegurar que em todas as circunstâncias que, de acordo com a lei vigente, excluem a ilicitude da IVG realizada por escolha da mulher grávida (deixando de lado, por não relevante in casu, a situação prevista na alínea d) do artigo 142.º, n.º 1, do Código Penal – gravidez resultante de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual), a gestante também o possa fazer, sozinha e sem penalizações, num estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido. Deste modo, a limitação à revogabilidade do seu consentimento estatuída no artigo 14.º, n.º 4, da mesma Lei, aplicável por força das remissões constantes dos seus artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, abre espaço para uma intervenção condicionadora dos beneficiários neste domínio. A anterior análise de algumas cláusulas do contrato-tipo comprova isso mesmo.
Mais importante ainda é verificar que todas as situações de facto antes consideradas em que a IVG não é punível – opção da mulher grávida até às 10 semanas, perigo de vida ou perigo para a saúde física ou psíquica da mulher grávida ou risco grave de que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita – representam circunstâncias atendíveis e justificativas de uma mudança de ideias da gestante de substituição quanto à sua gravidez, designadamente no sentido de não querer levá-la até ao fim. No quadro da gestação de substituição, dir-se-á que a opção de realizar uma IVG, nos casos e nos termos em que a lei geral a admite, corresponde a uma garantia essencial da efetividade do direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante. Mas essa opção, devido à impossibilidade de revogação do consentimento, não se encontra salvaguardada em toda a sua amplitude (desde logo, por exemplo, no que se refere à exclusão de penalizações – cfr., no sentido da responsabilização da gestante em caso de abortamento voluntário, Vera Lúcia Raposo, “Tudo aquilo que você sempre quis saber sobre contratos de gestação…” cit., pp. 33-34).
- Ora, tal limite à revogação do consentimento, não se revelando inadequado nem desnecessário à proteção do projeto parental dos beneficiários e dos seus interesses e expectativas, apresenta-se, todavia, excessivo, pelo sacrifício que impõe a um direito fundamental da gestante de substituição.
Recorde-se que é esta quem, no exercício da sua autonomia pessoal, aceita participar no projeto parental dos beneficiários, viabilizando-o (cfr. supra os n.ºs 24 e 28). Estes últimos apenas gozam da faculdade legal (cfr. supra o n.º 27) de, por via da gestação de substituição, tentarem concretizar um projeto parental próprio, que, todavia, depende da disponibilidade de alguém que, por razões exclusivamente altruístas, se disponha a assumir obrigações pessoais que, não fora o reconhecimento desse altruísmo enquanto exteriorização livre da respetiva personalidade, representariam uma instrumentalização inadmissível da sua pessoa. Ou seja: o projeto parental em causa não assenta exclusivamente no desejo de parentalidade dos beneficiários; não menos essencial é a vontade da gestante de que os mesmos sejam pais da criança que esta vier a dar à luz. Os beneficiários e a gestante de substituição não podem, assim, deixar de estar cientes de que o caráter voluntário das obrigações características do contrato de gestação de substituição é essencial ao respetivo cumprimento.
Por força das características próprias da gravidez, enquanto fenómeno biológico, psicológico e potencialmente afetivo com caráter dinâmico e imprevisível quanto a diversas vicissitudes, não se pode ter como certo que a vontade inicialmente manifestada pela gestante seja totalmente esclarecida e insuscetível de sofrer modificações em virtude de desenvolvimentos não previstos ocorridos durante o próprio processo gestacional (cfr. supra o n.º 43). Consequentemente, as obrigações contratualmente assumidas e consentidas a priori, podem a partir de um dado momento deixar de corresponder à vontade da gestante, de modo tal que o respetivo cumprimento deixe de traduzir uma afirmação da sua liberdade de ação e autodeterminação. O consentimento inicial deixa, assim, de ser atual, por razões atendíveis.
Nestas circunstâncias, forçar o cumprimento de tais obrigações – no caso ora considerado, condicionar de algum modo o abandono do projeto parental que deixou de ser partilhado pela gestante com o objetivo de que o mesmo seja levado até ao parto – implicaria instrumentalizar a gestante ao mesmo projeto parental, interferindo gravemente com a sua capacidade de autodeterminação e, em última análise, com a sua dignidade pessoal. O quadro em que a gestante, no exercício do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, consentiu na gestação de substituição mostra-se alterado em termos tais, que a prossecução da mesma gestação já não traduz uma manifestação de tal direito. Porém, e como referido, esse é o pressuposto fundamental da legitimidade da intervenção e participação da gestante de substituição: na ausência de vontade positiva atual, a sua participação degrada-se em instrumento ao serviço da vontade dos beneficiários. Daí a importância de acautelar a permanência de tal vontade ao longo de todo o processo, o que só é possível mediante a admissão da livre revogabilidade do consentimento da gestante até ao cumprimento integral de todas as obrigações essenciais do contrato de gestação de substituição.
Do lado dos beneficiários, a admissão de tal revogação implica subordinar o destino do projeto parental por eles concebido – e para o qual também contribuíram decisivamente fornecendo gâmetas essenciais à formação do embrião transferido para o útero da gestante – a uma disposição de vontade da gestante, frustrando, desse modo, expectativas legítimas quanto à possibilidade de ter uma família com filhos seus.
Mas, a verdade é que o projeto em causa depende desde o início da solidariedade ativa da gestante; nunca é autónomo. Com se referiu acima, o mesmo até é, em certo sentido, partilhado pelos beneficiários e pela gestante (cfr. supra os n.ºs 8 e 24). Sendo certo, por outro lado, que tal partilha fundada na solidariedade ativa se mantém ao longo de todo o processo. De acordo com esta perspetiva – a única que permite legitimar o projeto parental dos beneficiários à luz do princípio da dignidade humana da gestante (cfr. supra o n.º 28) –, a revogação do consentimento no caso de a mencionada solidariedade desaparecer não constitui um elemento estranho ao próprio projeto parental, sendo antes uma possibilidade ineliminável que o mesmo necessariamente integra.
Acresce que, num quadro como o descrito, o afastamento da gestante do projeto parental a que inicialmente aderira, designadamente a vontade de não levar a gestação até ao fim em qualquer uma das situações em que a lei geral não pune a IVG, é motivado por razões ponderosas e atendíveis, de resto assim consideradas por essa mesma lei, pelo que a gravidade da decisão da gestante não pode ser desvalorizada nem ignorada.
Confrontando o peso das expectativas dos beneficiários protegidas pela irrevogabilidade do consentimento da gestante, com o sacrifício, momentaneamente quase total, do direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade desta última determinado por tal irrevogabilidade, sempre que estejam em causa as citadas situações, a desproporção é manifesta. Os inconvenientes e frustrações dos primeiros não justificam a instrumentalização da segunda em ordem a evitá-los. A verificar-se tal instrumentalização, seria violado o dito direito fundamental da gestante, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E, a única garantia de que tal não suceda, é, como referido anteriormente, salvaguardar a possibilidade de a gestante revogar o seu consentimento para além do início dos processos terapêuticos de PMA.
Deste modo, a limitação à revogabilidade do consentimento da gestante estabelecida em consequência das remissões dos artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, da LPMA para o n.º 4 deste último, é inconstitucional por restringir desproporcionadamente o respetivo direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (artigos 1.º e 26.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da Constituição).
- Estas considerações também são aplicáveis no caso da gestante de substituição se afastar do projeto parental dos beneficiários em virtude de querer levar a gravidez até ao fim e assumir um projeto parental próprio. Simplesmente, a existência de um concurso positivo de pretensões quanto à parentalidade da criança que vier a nascer ou já nascida torna as ponderações muito mais complexas, desde logo porque é necessário considerar também o interesse da criança. Com efeito, num tal quadro, a gravidez é levada até ao seu termo, e, uma vez nascida a criança, tanto os beneficiários, como a gestante pretendem assumir responsabilidades parentais quanto à mesma.
Uma tal hipótese não é admitida pela lei não só por causa do limite à revogabilidade do consentimento da gestante consagrado no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA e já analisado, como também devido à regra especial de estabelecimento da filiação consagrada no artigo 8.º, n.º 7, da mesma Lei, no pressuposto da existência de um contrato de gestação de substituição válido e eficaz: a «criança que nascer através do recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respetivos beneficiários».
Tal como anteriormente analisado, estas regras não são inadequadas nem desnecessárias à salvaguarda da posição dos beneficiários. Contudo, as mesmas não têm em atenção que durante a gravidez e até ao parto a única relação que existe com a criança que vai nascer é aquela que se estabelece entre a gestante e o nascituro, com relevância nos planos biológico e epigenético, bem como nos planos afetivo e emocional: a mulher grávida altera a expressão genética de cada embrião e, inversamente, o embrião-feto altera a grávida para sempre; e é durante a gestação que se estabelece uma vinculação afetiva entre o nascituro e a grávida (cfr. supra o n.º 43). As regras em apreço também desconsideram que, a partir do nascimento, o interesse da criança deve ser o principal critério de todas as decisões que sejam tomadas em relação ao destino da mesma (cfr. o artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança e supra o n.º 33).
Para a análise da validade daquelas normas, não é decisivo se a pretensão concorrente da gestante se manifesta antes ou depois do parto. O momento crítico é o do cumprimento da última obrigação essencial do contrato, ou seja, o da entrega da criança aos beneficiários. Com efeito, além de ser nessa altura que a gestante executa a parte que faltava do contrato de gestação de substituição que lhe corresponde, tal ato, sendo praticado voluntariamente, é comparável ao consentimento para adoção (cfr. o 1981.º, n.º 1, do Código Civil). Por conseguinte, o que releva é a revogação pela gestante do seu consentimento inicial antes de entregar voluntariamente a criança que deu à luz ao casal beneficiário. Depois desse momento, estabelece-se uma nova relação entre estes últimos e o recém-nascido, deixando a gestante de ter argumentos que justifiquem voltar atrás (analogamente, quanto à adoção, v. o artigo 1983.º, n.º 1, do Código Civil).
Por outro lado, a solução a dar ao problema do concurso de projetos parentais também não é influenciada pela circunstância de ambos os beneficiários serem progenitores genéticos da criança, em virtude de o embrião ter sido formado com gâmetas de ambos, ou só de um deles. Está em causa uma escolha apenas entre o projeto parental dos beneficiários ou o projeto parental assumido pela gestante.
Cumpre analisar separadamente as posições da gestante e da criança nascida.
Quanto à gestante, valem as considerações feitas supra no n.º 46, a propósito da ponderação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade com o interesse dos beneficiários na defesa do respetivo projeto parental. Só que no caso ora considerado, as razões do afastamento de tal projeto por parte da gestante já não visam somente a proteção de bens pessoais dela (eventualmente, conjugados com a sua perceção sobre o que poderia ser o bem ou mal da criança que viesse a dar à luz) – como sucedia em relação à opção até às 10 semanas, ao perigo de vida ou perigo para a sua saúde física ou psíquica ou risco grave de que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita –, mas também a continuação de uma relação com a criança nascida no quadro de um projeto parental que concorre com aquele em função do qual os beneficiários, num momento inicial, contribuíram com o seu material genético para que tal relação se pudesse estabelecer.
Decerto que, do lado da gestante, pesam os citados argumentos decorrentes do seu direito ao desenvolvimento da personalidade e das exigências de atualidade do consentimento, por forma a assegurar que o cumprimento das obrigações essenciais do contrato de gestação de substituição traduza uma afirmação da sua liberdade de ação e autodeterminação. Na hipótese ora considerada, a sua posição até se reforça em virtude de, com base num projeto parental próprio para a criança que se desenvolveu no seu ventre e que por si foi dada à luz, pretender exercer também o seu direito de constituir família, ainda que com uma criança relativamente à qual não pode ser considerada progenitora genética. Pese embora esta nova pretensão, também é menos evidente que as suas razões devam prevalecer sempre sobre as dos beneficiários. Afinal, o que está em causa para estes também é a afirmação de um projeto parental próprio que viabilize uma família com um filho geneticamente seu, ao menos em parte.
Contudo, as soluções normativas em análise impõem a consequência contrária: a prevalência absoluta das razões dos beneficiários, não deixando qualquer espaço para ponderar, em cada caso, também aquelas que legitimamente a gestante pudesse invocar. A consequência dessa desconsideração total é o risco de instrumentalização da gestante, nos termos já referidos, incompatível com o respeito do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, sempre que, em função das vicissitudes ocorridas durante a gravidez ou o parto e do próprio comportamento dos beneficiários, não fosse de excluir que a separação da criança da gestante representasse para esta um sacrifício maior do que aquele que representaria para os beneficiários a não entrega da criança.
Acresce a necessidade de considerar a criança entretanto nascida e cuja entrega está em causa, uma vez que é o seu interesse que deve presidir à solução do conflito entre os dois projetos parentais. É certo que, de acordo com as regras ora em análise, tal conflito nem deveria poder ocorrer. Mas, dado que se impõe a consideração da posição da gestante, tendo em conta as exigências do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade e a relevância constitutiva da relação intrauterina, a importância da criança não pode ser obnubilada: a mesma não pode ser tratada como simples objeto numa disputa entre terceiros. A partir do momento em que o conflito entre o projeto parental dos beneficiários e o projeto parental da gestante não pode deixar de relevar juridicamente, atentos os interesses fundamentais da gestante, o critério principal para a respetiva solução tem de ser o superior interesse da criança. E tal só é possível no quadro de uma avaliação casuística, pois de outro modo negar-se-ia a condição de sujeito de direitos da criança, em violação da sua dignidade e o Estado violaria o seu dever de proteção da infância (artigos 1.º, 67.º, n.º 2, alínea e), e 69.º, n.º 1, todos da Constituição; cfr. também supra o n.º 35).
Em suma, a limitação à revogabilidade do consentimento da gestante estabelecida em consequência das remissões dos artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, da LPMA para o n.º 4 deste último, é inconstitucional por restringir excessivamente o direito da gestante ao desenvolvimento da personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e o seu direito de constituir família (artigos 1.º e 26.º, n.º 1, e 36.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da Constituição), estendendo-se tal juízo consequencialmente, e pelas mesmas razões, à norma do n.º 7 do artigo 8.º daquela Lei, segundo a qual a criança que nascer através do recurso à gestação de substituição é sempre tida como filha dos respetivos beneficiários. Na verdade, esta última norma, ao estabelecer um critério especial de filiação da criança nascida através do recurso à gestação de substituição no pressuposto de que a gestante prestou o seu consentimento livre e esclarecido a tal modo de procriação, não ressalva a possibilidade de revogação desse mesmo consentimento – revogação essa que, por sua vez, implica a aplicabilidade do critério geral de filiação previsto no Código Civil – que, conforme referido, constitui uma condição necessária da salvaguarda do direito ao desenvolvimento da gestante ao longo de todo o processo de gestação de substituição.
B.6.2. As questões relativas ao regime da nulidade do contrato de gestação de substituição gratuito
- Tendo em vista salvaguardar no plano juscivilístico o modelo português de gestação de substituição, o n.º 12 do artigo 8.º da LPMA determina que «[s]ão nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, que não respeitem o disposto nos números anteriores».
A nulidade é a consequência aplicável aos negócios jurídicos celebrados contra a lei (cfr. o artigo 294.º do Código Civil). E, nos termos gerais, «é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal», produzindo a sua declaração efeito retroativo, com a consequência de dever «ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente» (cfr. os artigos 286.º e 289.º, n.º 1, ambos do citado Código). Os efeitos jurídicos de um negócio jurídico declarado nulo são eliminados do ordenamento.
Um dos efeitos visados pelo recurso à gestação de substituição é o estabelecimento da filiação da criança dada à luz pela gestante em relação aos beneficiários, isto é, àqueles que celebraram com aquela um contrato de gestação de substituição (cfr. o artigo 8.º, n.º 7, da LPMA e supra o n.º 8). Assim, caso os efeitos deste contrato sejam eliminados do ordenamento em consequência da declaração da sua nulidade, na ausência de regulamentação específica, aquela regra especial de filiação deixa de ser aplicável, passando a matéria a reger-se pela lei geral: relativamente à mãe, a filiação resulta do facto do nascimento (artigo 1796.º, n.º 1, do Código Civil). Deste modo, a gestante passa a ter de ser considerada mãe da criança.
Apesar de não serem de excluir em absoluto outros entendimentos, fundados designadamente nos elementos histórico, teleológico e sistemático de interpretação, a verdade é que o mencionado se apresenta como o mais plausível do ponto de vista literal e do modo como o carácter excecional da licitude do contrato de gestação de substituição se encontra legalmente consagrada (cfr. supra o n.º 7). Acresce que interpretações alternativas, porventura consideradas mais consentâneas com a conformidade constitucional do regime em causa, não podem ser impostas pelo Tribunal Constitucional em sede de fiscalização abstrata, pelo que a norma a apreciar deve ser entendida com o sentido indicado.
Se a solução em análise é coerente com o estabelecimento de requisitos legais de validade do contrato de gestação de substituição e, outrossim, com a incriminação no artigo 39.º da LPMA da celebração desses contratos a título gratuito ou oneroso fora dos casos previstos nos n.ºs 2 a 6 do artigo 8.º do mesmo diploma, a verdade é que a mesma pode conduzir a resultados perversos. Com efeito, a previsão de um mero regime de nulidade do contrato de gestação para a hipótese de o mesmo violar o regime aplicável da LPMA, sem se regular de forma cuidadosa as eventuais consequências que possam decorrer desse negócio nulo em matéria de filiação da criança, poderá colocar gravemente em causa o seu superior interesse. Sendo certo, além disso, que a criança em nada contribuiu para as ilegalidades cometidas.
- O contrato de gestação de substituição está sujeito a autorização prévia e é supervisionado pelo CNPMA, pelo que, em princípio, os problemas relativamente à sua legalidade são prevenidos por essa via. Ainda assim, a rigidez do regime da nulidade, nomeadamente quanto à invocabilidade de causas a todo o tempo, e a sua uniformidade decorrente da eliminação retroativa de todos os efeitos jurídicos decorrente da declaração de nulidade, suscitam dificuldades, quando confrontadas com a diversidade de situações possíveis e a dinâmica da própria vida, sobretudo depois de o contrato de gestação de substituição já ter sido integralmente executado.
Note-se, desde logo, que a verificação dos pressupostos negativos previstos nos n.ºs 5 (inexistência de «qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia» dos beneficiários à gestante) e 6 (inexistência de relação de subordinação económica) do artigo 8.º da LPMA não é isenta de dúvidas, tanto mais que não se encontram previstos procedimentos específicos adequados à sua comprovação, antes, durante ou após a execução do contrato de gestação de substituição. Tal circunstância, conjugada com a possibilidade de, a todo o tempo, qualquer interessado poder vir a suscitar dúvidas quanto à sua observância, mina a confiança na filiação legalmente estabelecida.
Pense-se, por exemplo, na hipótese de, passados uns anos sobre a entrega aos beneficiários da criança nascida na sequência de um contrato de gestação de substituição – e do consequente registo da criança da criança como filha dos mesmos –, se descobrir que afinal os beneficiários com quem a criança atualmente vive efetuaram pagamentos à gestante que excediam numa dada percentagem o valor das «despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestados» (artigo 8.º, n.º 5). Deve tudo regressar ao início abstraindo dos laços de convivência entretanto estabelecidos? É indiferente o tempo decorrido desde a entrega da criança? Ou o momento em que o pagamento em excesso foi realizado – antes, durante ou somente depois da execução do contrato? E a dimensão do excesso detetado? A solução deverá ser sempre a mesma quer esteja em causa um excesso de 10%, de 100% ou de 1000%?
Mas também em relação aos demais pressupostos o regime da nulidade pode não se mostrar adequado. Por exemplo, a comprovação do pressuposto referido no n.º 2 do artigo 8.º pelo conceito indeterminado situações clínicas que justifiquem o recurso excecional à gestação de substituição pode igualmente dar lugar a dúvidas.
A rigidez excessiva inerente à invocabilidade da nulidade sem limite de tempo torna-se evidente quando confrontada com a possibilidade de o procedimento criminal relativamente aos crimes tipificados no artigo 39.º da LPMA se extinguir, por prescrição, nos prazos de dois ou cinco anos, conforme a pena máxima aplicável (cfr. o artigo 118.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Código Penal). Por outro lado, o regime da nulidade não permite diferenciações, seja em função da gravidade de cada causa, seja em função da realidade criada na sequência da execução de um contrato nulo.
Nos casos em que o ovócito utilizado pertença a uma terceira mulher dadora, a solução quanto à maternidade prevista na lei geral é reforçada pelo n.º 2 do artigo 10.º da LPMA, segundo o qual «os dadores não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer». Assim sendo, afasta-se a solução de maternidade da terceira dadora, a qual manifestamente não faria sentido, na medida em que esta efetuou a doação do ovócito sem qualquer projeto parental face à criança a conceber. Porém, relativamente à situação de paternidade, deve continuar a ser considerado pai o beneficiário cujo material genético tenha sido utilizado na conceção, uma vez que este não é um qualquer “terceiro dador” para efeitos do citado preceito. Mas, a verdade é que os gâmetas do beneficiário foram cedidos em função da concretização de um projeto parental em que a mãe da criança seria a beneficiária, e não a gestante, que, à partida, também acedeu em participar no processo sem querer ser mãe da criança que viesse a dar à luz. A densidade problemática da situação agrava-se, caso o embrião tenha sido gerado também a partir de um ovócito da beneficiária: a “mãe genética e social” com um projeto parental para a criança perde a maternidade para a “mãe jurídica”, que, todavia, não pretende sê-lo nem tem qualquer projeto parental relativamente à mesma criança. Naturalmente, é fácil compreender que a incerteza e as inúmeras implicações legais, familiares e sucessórias para a criança, numa situação deste tipo, são de extrema relevância, e que cabe ao Estado protegê-la, na medida do possível, através de uma modelação adequada do regime legal.
As insuficiências e inadequação de um regime tão indiferenciado também foram denunciadas pelo CNECV, mesmo em relação à redação originária do artigo 8.º da LPMA, que no n.º 1 cominava a nulidade dos negócios jurídicos de «maternidade de substituição», retirando, no n.º 3, a pertinente consequência de que a «mulher que suportar uma gravidez de substituição de outrem é havida, para todos os efeitos legais, como mãe da criança que vier a nascer». Com efeito, pode ler-se no Parecer n.º 63/CNECV/2012:
«[M]erece também reserva ética a solução constante da atual lei […], segundo a qual, nas situações de concretização de uma maternidade de substituição em contravenção ao disposto na lei, a mãe de gestação é considerada, para todos os efeitos legais, como mãe da criança nascida neste processo (art. 8.º, n.º 3, da lei atual).
Uma solução deste tipo, na sua rigidez e não atendibilidade das circunstâncias concretas e não complementada com outras garantias (como poderia ser a dependência da avaliação judicial das circunstâncias do caso), só pode ser justificada como meio de sanção e tentativa de dissuasão de comportamentos e práticas ilegais.
No entanto, pela sua inflexibilidade pode significar, em termos práticos, que, contra o interesse da criança, se esteja a impor a sua vinculação filial a quem a rejeita e nunca a assumiu em projeto parental próprio ou se esteja, em alternativa, a determinar a eventual institucionalização da criança (por exemplo numa situação em que a mãe fosse condenada a pena de prisão pela prática ilegal da gestação de substituição) e sempre com simultânea privação do vínculo com as pessoas envolvidas no respetivo projeto parental e que até podem ser seus progenitores biológicos» (v. o n.º 2, alínea c), pp. 10-11).
A partir destas considerações, o citado Conselho concluiu o seguinte:
«O CNECV manifesta, por eventualmente contrária aos interesses da criança e por poder conduzir a situações absurdas, reserva ética à atual solução legislativa […], segundo a qual a gestação de substituição feita em contravenção ao disposto na lei determina inflexivelmente que a mãe de gestação seja necessariamente considerada para todos os efeitos legais como mãe da criança assim gerada, sugerindo alternativamente que seja deixada ao juiz a busca da solução mais adequada atendendo às circunstâncias do caso, pelo menos para efeitos de tutela e guarda» (v. ibidem, III, n.º 3, p. 12).
- Na verdade, a possibilidade de a todo o tempo questionar com fundamento na simples inobservância (por oposição a uma inobservância qualificada) de um qualquer pressuposto (e não apenas de pressupostos fundamentais como, por exemplo, o de não ser a gestante dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante) a validade do contrato de gestação permite que se crie um grau de incerteza e indefinição quanto à filiação já estabelecida, o que não se compadece com a segurança jurídica exigível em matéria de estatuto das pessoas. As soluções legais devem assegurar que as posições jurídicas definidas nesse domínio se possam consolidar e que, a partir do momento em que tal se verifique, não possam mais ser postas em causa, salvo por razões imperiosas de interesse público ou que contendam com interesses fundamentais dos particulares envolvidos. Ora, o regime consagrado no n.º 12 do artigo 8.º da LPMA, não só não permite a referida consolidação, como não diferencia em função do tempo ou da gravidade as causas invocadas para justificar a declaração de nulidade. Tal solução mostra-se, por isso, incompatível com o princípio da segurança jurídica decorrente do princípio do Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da Constituição.
Por outro lado, o mesmo regime, na sua abstração e com o automatismo dos efeitos legais que lhe estão associados, também não permite acautelar a solução que, em concreto, se revele como a mais adequada ao desenvolvimento integral da criança nascida na sequência de um contrato de gestação de substituição nulo. A este respeito deve recordar-se que, conforme este Tribunal tem entendido, a filiação jurídica é uma vertente do próprio direito à identidade pessoal consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição:
«[O] estabelecimento jurídico dos vínculos da filiação, com todos os seus efeitos, conferindo ao indivíduo o estatuto inerente à qualidade de filho de determinadas pessoas, assume igualmente um papel relevante na caracterização individualizadora duma pessoa na vida em sociedade. A ascendência funciona aqui como um dos elementos identificadores de cada pessoa como indivíduo singular. Ser filho de é algo que nos distingue e caracteriza perante os outros, pelo que o direito à identidade pessoal também compreende o direito ao estabelecimento jurídico da maternidade e da paternidade» (assim, v. Acórdão n.º 401/2011).
Ora, a solução indiferenciada e com efeitos ex lege própria do regime da nulidade obsta à consideração deste interesse fundamental da criança concretamente em causa – o respetivo direito à identidade pessoal previsto no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição –, podendo concluir-se que na sua adoção o legislador não tomou «primacialmente em conta o superior interesse da criança», conforme exigido pelo artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos das Crianças. Nessa mesma medida, o legislador violou o dever do Estado de proteção da infância, consagrado no artigo 69.º, n.º 1, da Constituição.
B.6.3. A questão da indeterminabilidade do regime legal do contrato de gestação de substituição
- O contrato de gestação de substituição celebrado nos termos legais torna juridicamente possível que uma criança nascida do ventre de uma mulher – a gestante – seja tida como filha de outra – a beneficiária. Em vista disso, tal contrato deve disciplinar comportamentos concretos da gestante que traduzem o modo como esta colabora em todo o processo, exercendo o seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade, bem como a liberdade de não constituir família com uma criança que tenha dado à luz (cfr. supra, respetivamente, os n.ºs 28 e 8). Mas, a partir do momento em que é legalmente admitido, aquele contrato faculta igualmente aos beneficiários a possibilidade de procriarem, ou seja, de constituir família com um filho que é geneticamente seu. Por outro lado, uma das condições legais da admissibilidade de tal contrato é ter sido previamente autorizado pelo CNPMA, sendo o seu conteúdo supervisionado pelo mesmo Conselho (cfr. os n.ºs 3, 4 e 10 do artigo 8.º da LPMA).
Acontece que o legislador se limitou a prever a existência necessária de disposições sobre certas matérias, nomeadamente «as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez» – e a proibir disposições que imponham «restrições de comportamentos à gestante de substituição» ou «normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade» (v. ibidem, n.ºs 10 e 11), não dando mais indicações quanto aos limites positivos e negativos a observar pelas partes na conformação do conteúdo contratual. A este propósito refere Vera Lúcia Raposo:
«Em suma, as normas sobre o contrato de gestação são escassas e dúbias. De modo que o conteúdo e regime destes contratos será quase totalmente edificado, por um lado, pelas próprias partes; por outro lado, pelo direito dos contratos. Ora, embora a liberdade contratual deva certamente desempenhar um papel decisivo neste ensejo, deveria ainda assim o legislador ter regulamentado algumas questões, como aliás é habitual suceder nos contratos mais propensos a abusos da liberdade contratual […]
Prever uma figura jurídica e impor-lhe um par de proibições não é regulamentá-la e estes contratos, pela sua especial sensibilidade e pelos direitos e interesses envolvidos, mereceriam (e necessitariam) tal regulamentação. […]
[As] especificidades que [o contrato de gestação de substituição] apresenta (aliás, nem se trata de um contrato típico) e a especial sensibilidade dos interesses envolvidos demandam uma adequação das regras contratuais, especialmente no que respeita à responsabilidade contratual. Sucede que o legislador optou por não intervir. A Lei n.º 32/2006 é praticamente omissa quanto ao conteúdo do contrato e às consequências do seu incumprimento e as escassas normas que contém a esse respeito geram mais dúvidas do que respostas. De modo que caberá ao CNPMA, aos tribunais e eventualmente às partes criar uma regulamentação dos contratos de gestação mais adequada a estes cenários do que aquela que resulta estritamente do CC» (v. a Autora cit., “Tudo aquilo que você sempre quis saber sobre contratos de gestação…” cit., pp. 10 e 23-24).
Na verdade, a lei é omissa quanto aos critérios de autorização prévia do contrato de gestação de substituição e relativamente à supervisão do conteúdo do mesmo contrato, que, por sua vez, condiciona a mencionada autorização. E, todavia, tais critérios, desde logo por razões de igualdade, não podem deixar de ser uniformes para todos os contratos, especialmente, e tendo em conta a natureza das matérias em causa, no que se refere ao sentido das aludidas cláusulas de existência obrigatória e ao núcleo das restrições proibidas. Ou seja, a definição dos critérios em apreço revela-se essencial à operacionalização da gestação de substituição.
De resto, o próprio legislador não deixou de reconhecer a necessidade de regulamentação do artigo 8.º da LPMA, com a redação dada pela Lei n.º 25/2016. Nesse sentido, estabeleceu no artigo 4.º, n.º 2, desta última que as modificações pela mesma introduzidas no citado artigo 8.º (assim como as respeitantes ao artigo 39.º) só entrariam em vigor na data do início de vigência da regulamentação prevista no seu artigo 3.º.
A regulamentação em apreço veio a ser realizada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 de julho, podendo ler-se no seu preâmbulo:
«[Das consultas realizadas e da reflexão efetuada resultou] a identificação de matérias que, com o acesso à gestação de substituição, através da Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, se considera relevante regulamentar. Cabe, agora, ao Governo criar as condições necessárias à implementação plena das soluções adotadas pelo legislador parlamentar.
Neste sentido, importa através do presente decreto regulamentar definir o procedimento de autorização prévia a que se encontra sujeita a celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição, assim como o próprio contrato de gestação de substituição, cuja supervisão compete ao CNPMA […].»
Nesse diploma, o Governo começa por estabelecer como um dos requisitos da autorização prévia para a celebração de contratos de gestação de substituição, a «aceitação das condições previstas no contrato-tipo de gestação de substituição por parte do casal beneficiário e da gestante de substituição» (artigo 2.º, n.º 2, alínea b) ). E no seu artigo 3.º, n.º 1, determina que o «CNPMA aprova o contrato-tipo de gestação de substituição, que contém os elementos essenciais do contrato, disponibilizando-o no respetivo sítio da internet», prevendo, depois, no n.º 3 do mesmo preceito, que do «contrato-tipo devem constar, entre outras, cláusulas tendo por objeto» o tratamento de questões atinentes a várias matérias elencadas nas alíneas subsequentes.
- Não está em causa no presente processo a apreciação, a título específico ou principal, do conteúdo das normas aprovadas pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017 e, muito menos o clausulado do contrato-tipo já aprovado pelo CNPMA (cfr. supra os n.ºs 4 e 5). A questão de inconstitucionalidade a analisar é antes a da legitimidade de, em termos materiais ou substanciais, remeter para atos infralegislativos a definição das condições essenciais de acesso dos cidadãos à gestação de substituição.
Com efeito, a mencionada ausência de uma disciplina legal positiva do conteúdo do contrato de gestação de substituição reflete a opção do legislador de se limitar a definir a existência de um quadro muito amplo e aberto quanto: (i) às matérias a tratar obrigatoriamente no âmbito de tal contrato (n.º 10 do artigo 8.º); e (ii) às restrições a excluir obrigatoriamente do mesmo (n.º 11 do artigo 8.º). Acresce que a lei atribui ao CNPMA o poder de supervisionar o conteúdo do contrato, estabelecendo, ainda, que o mesmo contrato depende de autorização prévia do referido Conselho.
Deste modo, o recurso ao direito geral dos contratos é insuficiente para completar o regime legal do contrato de gestação de substituição. Desde logo, porque não se trata de um contrato que dependa apenas da vontade dos contraentes, uma vez que se encontra sujeito a autorização administrativa (cfr. os n.ºs 3 e 4 do artigo 8.º da LPMA). Depois, porque o mesmo contrato não só respeita a um modo de procriação anteriormente não admitido, como não se encontra tipificado na lei. E o exercício da autonomia das partes, por si só, também não chega para a conclusão do contrato, já que uma das questões deixadas em aberto pela LPMA reside justamente na definição das balizas em que tal autonomia pode ser exercida.
Por outras palavras, os n.ºs 4, 10 e 11 do artigo 8.º da LPMA não oferecem uma medida jurídica com densidade suficiente para estabelecer parâmetros de atuação previsíveis relativamente aos particulares interessados em celebrar contatos de gestação de substituição nem, tão pouco, critérios materiais suficientemente precisos e controláveis para o CNPMA exercer as suas competências de supervisão e de autorização prévia. O que resulta claramente de tais preceitos é a sujeição do contrato de gestação de substituição a autorização administrativa prévia – por isso que a respetiva celebração só é admitida a título excecional, conforme estatuído no n.º 2 do artigo 8.º – e a atribuição de poderes administrativos formais àquele Conselho: a supervisão do conteúdo do contrato e a competência para autorizar previamente o mesmo. A definição de limites positivos e negativos da autonomia das partes, ou seja, a determinação normativa das condições indispensáveis à autorização prévia dos contratos de gestação de substituição – um requisito indispensável da sua validade – que os interessados pretendam celebrar resultará, assim, do exercício de tais poderes (ainda que em conjugação com a disciplina resultante da intervenção regulamentar do Governo a que se refere o artigo 3.º da Lei n.º 25/2016).
- A gestação de substituição também releva dos direitos fundamentais dos interessados (cfr. supra o n.º 51). No caso da gestante, isso é manifesto, desde logo, no tocante ao modo como se concretiza todo o processo, uma vez que o mesmo só é possível a partir da disposição desta de querer que os beneficiários tenham um filho nascido do seu ventre. Mas a própria possibilidade de ser gestante no quadro legal pré-definido também constitui um aspeto importante do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, a dinamizar mediante o exercício da autonomia privada. E este último aspeto encontra-se igualmente presente do lado dos beneficiários. Assim, aspetos essenciais da delimitação positiva e negativa da autonomia privada dos interessados em matéria de gestação de substituição – o que deve ser estipulado e o que não pode ser estipulado no contrato que tem por objeto a mesma –, em especial na medida em que respeitem às condições indispensáveis à autorização prévia do correspondente contrato, devem obrigatoriamente constar de lei da Assembleia da República (cfr. o artigo 165.º, n.º 1, alínea b), da Constituição).
Ora, como referido nos números anteriores, os n.ºs 4, 10 e 11 do artigo 8.º da LPMA, prevendo embora limites positivos e negativos à autonomia das partes no contrato de gestação de substituição, em vez de procederem à sua concretização, apenas os descrevem de forma muito geral e abstrata. Tal concretização, indispensável ao conhecimento e compreensão das condições em que a autorização prévia do CNPMA será dada, só ocorrerá em resultado do exercício de poderes atribuídos a esse mesmo Conselho, ainda que, eventualmente, conjugado com a disciplina regulamentar estabelecida pelo Governo ao abrigo do disposto no artigo 3.º da Lei n.º 25/2016. E a concretização de tais limites, uma vez que os mesmo se encontram funcionalizados às condições de autorização prévia do contrato, implica uma compressão daquela autonomia.
No que se refere à gestante, os limites em causa tenderão a disciplinar o modo concreto como aquela pode exercer o seu direito ao desenvolvimento da personalidade no âmbito da gestação de substituição em que decidiu participar, com potencial para interferir no âmbito de proteção de outros direitos fundamentais. Em especial, e considerando a previsão do referido artigo 8.º, n.º 11, está em causa a fixação de limites às restrições admissíveis dos comportamentos da gestante – o que corresponde, claramente, a matéria de restrições de direitos fundamentais. A indicação, a título de exemplo, de algumas matérias – que obrigatoriamente devem ser objeto de cláusulas do contrato-tipo – elencadas nas alíneas do artigo 3.º, n.º 3, do Decreto Regulamentar n.º 6/2017 é elucidativa:
– Escolha do obstetra que segue a gravidez, tipo de parto e local onde o mesmo terá lugar (alínea b));
– Cumprimento das orientações médicas do obstetra que segue a gravidez e realização de exames e atos terapêuticos, bem como a possibilidade de recusa de se submeter a certos exames de diagnóstico (alíneas a) e d) );
– A possibilidade de realizar viagens em determinados meios de transporte ou fora do país no terceiro trimestre de gestação (alínea d) );
– Disposições a observar sobre intercorrências de saúde ocorridas na gestação, quer a nível fetal, quer a nível da gestante, e em caso de IVG (alíneas g) e h) );
– Número de tentativas de gravidez (alínea i) );
– Seguros de saúde associados ao objeto do contrato (alínea l) );
– Forma de resolução de litígios (alínea m) ).
A verdade é que a LPMA é silente sobre os mencionados limites ou sobre matérias como as indicadas, que revestem uma indiscutível importância para os interesses fundamentais em causa. Devido à sua indeterminação, aquela Lei não oferece uma medida jurídica apta a estabelecer regras de conduta para os beneficiários e para a gestante de substituição ou a fixar orientações com densidade suficiente para balizar a definição pelo CNPMA dos critérios de autorização prévia do contrato a celebrar entre os primeiros e a segunda. Tal indeterminação, além de tornar imprevisíveis, à luz da lei, os critérios que este órgão deve fixar, também não permite um controlo jurisdicional da sua legalidade adequado à importância da matéria em causa.
Tratando-se de disciplina de sentido restritivo quanto ao exercício de direitos, liberdades e garantias, tanto por parte da gestante, como dos beneficiários – e, por conseguinte, matéria de reserva de lei parlamentar ex vi artigos 18.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1 alínea b), da Constituição –, aquela indeterminação não é compatível com a exigência de precisão ou determinabilidade das leis, decorrente do princípio do Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da Constituição. Valem aqui as considerações feitas no Acórdão n.º 285/92, reiteradas em jurisprudência posterior:
«[A] questão da relevância do princípio da precisão ou determinabilidade das leis anda associada de perto à do princípio da reserva de lei e reconduz-se a saber se, num dado caso, o âmbito de previsão normativa da lei preenche ou não requisitos tidos por indispensáveis para se poder afirmar que o seu conteúdo não consente a atribuição à Administração, enquanto executora da lei, de uma esfera de decisão onde se compreendem elementos essenciais da própria previsão legal, o que, a verificar-se, subverteria a ordem de repartição de competências entre o legislador e o aplicador da lei. […]
Reconhece-se, sem dificuldade, que o princípio da determinabilidade ou precisão das leis não constitui um parâmetro constitucional «a se», isto é, desligado da natureza das matérias em causa ou da conjugação com outros princípios constitucionais que relevem para o caso. Se é, pois, verdade que inexiste no nosso ordenamento constitucional uma proibição geral de emissão de leis que contenham conceitos indeterminados, não é menos verdade que há domínios onde a Constituição impõe expressamente que as leis não podem ser indeterminadas, como é o caso das exigências de tipicidade em matéria penal constantes do artigo 29.º, n.º 1, da Constituição, e em matéria fiscal (cfr. artigo 106.º da Constituição) ou ainda enquanto afloramento do princípio da legalidade (nulla poena sine lege) ou da tipicidade dos impostos (null taxation without law).
Ora, atento o especial regime a que se encontram sujeitas as restrições aos direitos, liberdades e garantias, constante do artigo 18.º da Constituição, em especial do seu n.º 3, e em articulação com o princípio da segurança jurídica inerente a um Estado de direito democrático (artigo 2.º da Constituição), forçoso se torna reconhecer que, em função de um critério ou princípio de proporcionalidade a que deverão estar obrigadas as aludidas restrições, uma vez que está em causa a garantia constante do artigo 53.º da Constituição, o grau de exigência de determinabilidade e precisão da lei há-de ser tal que garanta aos destinatários da normação um conhecimento preciso, exato e atempado dos critérios legais que a Administração há-de usar, diminuindo desta forma os riscos excessivos que, para esses destinatários, resultariam de uma normação indeterminada quanto aos próprios pressupostos de atuação da Administração; e que forneça à Administração regras de conduta dotadas de critérios que, sem jugularem a sua liberdade de escolha, salvaguardem o «núcleo essencial» da garantia dos direitos e interesses dos particulares constitucionalmente protegidos em sede de definição do âmbito de previsão normativa do preceito (Tatbestand); e finalmente que permitam aos tribunais um controlo objetivo efetivo da adequação das concretas atuações da Administração face ao conteúdo da norma legal que esteve na sua base e origem.»
Ou seja, conforme sintetizado no Acórdão n.º 474/2013:
«Incumbe ao Estado inscrever na lei critérios claros, precisos e seguros de decisão, em termos de conferir à atuação da Administração espaço concretizado de vinculação – e não de volição primária – através da identificação de um núcleo relevante para legitimar a intervenção restritiva do direito, liberdade e garantia afetado. Como, igualmente, permitir o controlo judicial da (eventual) ausência de critérios de gestão e a proporcionalidade das suas consequências face à lesão profunda [daquele] direito […].»
Ora, é dessa precisão ou determinabilidade que carecem os n.ºs 4, 10 e 11 do artigo 8.º da LPMA, que se reportam aos limites a estabelecer à autonomia das partes do contrato de gestação de substituição, assim como aos limites às restrições admissíveis dos comportamentos da gestante a estipular no mesmo contrato. Tais preceitos são, deste modo, inconstitucionais, por violação do princípio da determinabilidade da lei, corolário do princípio do Estado de direito democrático, e da reserva de lei parlamentar, decorrentes das disposições conjugadas dos artigos 2.º, 18.º, n.º 2, e 165, n.º 1, alínea b), ambos da Constituição, por referência aos direitos ao desenvolvimento da personalidade e de constituir família da gestante e dos beneficiários consagrados nos artigos 26.º, n.º 1, e 36.º, n.º 1, do mesmo normativo.
A declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas contidas naqueles preceitos que atribuem ao CNPMA os poderes administrativos formais necessários à legitimação do contrato de gestação de substituição, designadamente por via da respetiva autorização, legalmente exigida, prejudica necessariamente a possibilidade de celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição na ordem jurídica portuguesa até que o legislador parlamentar venha estabelecer para os mesmos um regime constitucionalmente adequado. Por isso, tal juízo de inconstitucionalidade estende-se consequencialmente às normas dos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º da LPMA, na parte em que admitem a celebração de negócios de gestação de substituição a título excecional e mediante autorização prévia. Com efeito, sendo a celebração daqueles negócios jurídicos possível tão-somente a título excecional e desde que previamente autorizados (cfr. os citados n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º da LPMA), a falta de uma entidade com competência para os autorizar e, bem assim, a ausência de definição legal de critérios de autorização determina a sua inadmissibilidade.
Justifica-se, por conseguinte, até por razões de clareza e de segurança jurídica, explicitar desde já os corolários daquela declaração de inconstitucionalidade. Na verdade, representaria, mais do que um paradoxo, uma inaceitável contradição valorativa admitir a continuação da possibilidade de celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição na ordem jurídica portuguesa, ao abrigo de um qualquer outro regime ainda menos determinado ao nível de uma lei da Assembleia da República do que aquele que agora é censurado.
- O direito ao conhecimento das origens genéticas e da identidade da gestante
C.1. Sentido e alcance do pedido
- Um segundo conjunto de questões suscitadas pelos requerentes no seu pedido respeita ao direito daqueles que nascem em consequência de processos de PMA com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões de conhecerem a identidade do ou dos dadores e, bem assim, no caso de pessoas nascidas através do recurso à gestação de substituição, de conhecerem a identidade da respetiva gestante. Nesse sentido, requerem a fiscalização da constitucionalidade das normas dos n.ºs 1 e 4 do artigo 15.º da LPMA, em conjugação com os seus artigos 10.º, n.ºs 1 e 2 (Doação de espermatozoides, ovócitos e embriões) e 19.º, n.º 1 (Inseminação com sémen de dador), porquanto as mesmas não permitem à pessoa fruto de técnicas de PMA heteróloga ou nascida através do recurso à gestação de substituição – que pressupõe a utilização daquelas técnicas (cfr. supra o n.º 8) – o conhecimento da sua ascendência genética e, ou, da identidade da mulher que a deu à luz.
Os n.ºs 1 e 5 do citado artigo 15.º da LPMA foram modificados pela Lei n.º 25/2016, tendo em vista a inclusão das situações de gestação de substituição anteriormente não admitidas. Na sua redação atual, o preceito em análise dispõe o seguinte:
«Artigo 15.
Confidencialidade
1 – Todos aqueles que, por alguma forma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de PMA, incluindo nas situações de gestação de substituição, ou da identidade de qualquer dos participantes nos respetivos processos, estão obrigados a manter sigilo sobre a identidade dos mesmos e sobre o próprio ato da PMA.
2 – As pessoas nascidas em consequência de processos de PMA com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões podem, junto dos competentes serviços de saúde, obter as informações de natureza genética que lhes digam respeito, excluindo a identificação do dador.
3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, as pessoas aí referidas podem obter informação sobre eventual existência de impedimento legal a projetado casamento, junto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, mantendo-se a confidencialidade acerca da identidade do dador, exceto se este expressamente o permitir.
4 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ainda ser obtidas informações sobre a identidade do dador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial.
5 – O assento de nascimento não pode, em caso algum, incluindo nas situações de gestação de substituição, conter indicação de que a criança nasceu da aplicação de técnicas de PMA.»
- Como referido, os requerentes alegam a inconstitucionalidade somente dos n.ºs 1 e 4 do artigo 15.º; não requerem, nomeadamente, a fiscalização da constitucionalidade dos n.ºs 2 (que expressamente exclui a identificação do dador) e 3 (que, também expressamente, mantém a confidencialidade acerca da identidade do dador, exceto se este expressamente o permitir). Cabe, assim, tentar perceber que regime jurídico resultaria de uma eventual declaração de inconstitucionalidade dos n.ºs 1 e 4 do artigo 15.º da LPMA, nos termos do pedido.
Desapareceria, em primeiro lugar, a obrigação de sigilo, atualmente imposta por lei a todos os que, por alguma forma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de PMA, incluindo nas situações de gestação de substituição, ou da identidade de qualquer dos participantes nos respetivos processos, relativamente à identidade dos mesmos e ao próprio ato de PMA. Desenhar-se-ia, então, se não um direito a contar a verdade, pelo menos, a faculdade de qualquer pessoa informar outra sobre a sua origem e sobre a identidade dos dadores, independentemente da forma através da qual tenha tomado conhecimentos de tais factos. Poder-se-ia então questionar se, quando não solicitada pelo interessado, esta atitude não seria violadora da reserva de intimidade da vida privada não apenas dos vários envolvidos no processo de PMA, mas também, e especialmente, da pessoa fruto de PMA heteróloga ou de gestação de substituição, cujo direito ao desenvolvimento da personalidade não poderá deixar de envolver um direito a não saber, se o não desejar, os factos que estiveram na origem do seu nascimento.
Não parece ser esta, contudo, a intenção dos requerentes, de cuja argumentação se afigura lícito deduzir que entendem que a inconstitucionalidade alegadamente existente resulta da combinação de dois aspetos constantes dos n.ºs 1 e 4 do artigo 15.º: a imposição de sigilo sobre todos os envolvidos, o que os impede de confirmar a existência do próprio ato de PMA (e, naturalmente, também de revelar a identidade dos dadores), mesmo que questionados pelo interessado; e a exigência de razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial para que as informações relevantes lhe sejam prestadas.
O artigo 15.º, n.º 1, faz, pois, depender o conhecimento da origem das pessoas nascidas de PMA heteróloga ou de gestação de substituição da vontade dos pais. Esta solução é naturalmente problemática, dado estes serem, precisamente, titulares de direitos fundamentais em potencial conflito com o direito à identidade pessoal e ao conhecimento da origem genética. O artigo 15.º, n.º 4, impõe uma justificação do desejo de conhecimento, deixando a avaliação da sua relevância à discricionariedade judicial. Parece também impedir, no entender dos requerentes, o acesso à identidade da gestante de substituição, impondo, assim, ao contrário do que sucede para os dadores, uma regra de anonimato absoluto.
Assim, de uma eventual declaração de inconstitucionalidade deverá resultar a eliminação da obrigação de sigilo absoluto constante do n.º 1 do artigo 15.º, relativamente a quem nasceu em consequência de processos de PMA, incluindo nas situações de gestação de substituição – e, desse modo, afastando também a impossibilidade absoluta de acesso à identidade da gestante de substituição por parte da pessoa nascida com recurso à gestação de substituição –, e a consequente eliminação da necessidade de apresentação de «razões ponderosas» para que o interessado possa ter acesso à identidade dos dadores atualmente prevista no n.º 4 daquele preceito.
Verificando-se aquela eventualidade, será conveniente uma intervenção legislativa destinada não apenas a eliminar as contradições sistémicas que podem resultar da combinação da permanência em vigor do artigo 15.º, n.ºs 2 e 3, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas também a regular os termos em que os interessados poderão aceder às informações necessárias ao conhecimento das suas origens.
C.2. O regime de acesso ao conhecimento das origens em vigor
- Além do que até agora se afirmou, é imperativo compreender adequadamente o regime jurídico definido nas normas do artigo 15.º da LPMA. Na realidade, a obrigação de sigilo absoluto prevista no seu n.º 1 é derrogada nos números seguintes relativamente a certas entidades e quanto a determinadas informações, reconhecendo-se ao interessado o acesso às mesmas.
Assim, segundo o n.º 2, a pessoa nascida na sequência da utilização de técnicas de PMA heteróloga – é esse necessariamente o caso de quem tenha nascido na sequência da celebração de um contrato de gestação de substituição (cfr. supra o n.º 8) – pode aceder a informações de natureza genética – o que à partida exclui informações relacionadas com a gestante de substituição – que lhe digam respeito, junto dos serviços de saúde. De igual modo, permite-se, de acordo com o n.º 3, a esses indivíduos assegurar a inexistência de impedimento legal a casamento projetado, através de consulta ao CNPMA. Em ambos os casos, a lei exclui apenas o conhecimento da identidade do dador, exceto, nos termos do n.º 3, «se este expressamente o permitir», ou se, apesar da inexistência de tal consentimento, o interessado demonstrar, de acordo com o n.º 4, «razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial» para a sua pretensão.
Deste modo, as pessoas cujo nascimento tenha sido fruto de procriação heteróloga têm, no atual quadro legislativo, o direito a conhecer toda a sua história clínica e informação genética relevante. As mesmas não ficam, por exemplo, impossibilitadas de recorrer à medicina preventiva, nem dependentes de uma sentença judicial para o efeito. Como se viu, as informações sobre a história genética e sobre a existência de consanguinidade com o futuro cônjuge obtêm-se com uma consulta aos serviços competentes, não estando dependentes de qualquer processo judicial.
Por outro lado, é importante recordar que a lei proíbe, em qualquer caso, que a criança seja gerada com recurso aos gâmetas da mulher que procede à gestação (cfr. o n.º 3 do artigo 8.º da LPMA). Isto significa que a gestante nunca poderá ser a dadora do material genético da criança e, nessa medida, a questão do conhecimento da identidade da gestante não é suscetível de ser enquadrada no âmbito do direito ao conhecimento das origens genéticas (podendo, ao invés, ser eventualmente enquadrada no âmbito de outros direitos, nomeadamente do direito à identidade pessoal, na sua vertente de historicidade pessoal – ver infra).
- É neste quadro legal e interpretativo que deve agora analisar-se a questão de inconstitucionalidade colocada pelos requerentes: a da incompatibilidade da atual solução legislativa com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais à identidade e ao desenvolvimento da personalidade da pessoa nascida através do recurso a técnicas de PMA heteróloga, incluindo nas situações de gestação de substituição.
Saliente-se, desde já, que, diferentemente do que sucede noutros contextos em que estes direitos são invocados, como acontece a propósito de situações em que a filiação não se encontra estabelecida (é o caso, por exemplo, das ações de investigação da paternidade), o que está em causa é o acesso a dados informativos referentes à identidade do próprio interessado de que o Estado já dispõe, sendo este, por isso, o destinatário imediato daquela pretensão, e não apenas o garante de uma pretensão cuja satisfação cabe primariamente a um outro particular.
C.3. A apreciação dos interesses fundamentais em conflito
- Apesar de imediatamente dirigida contra o Estado, a pretensão de quem nasceu na sequência da utilização de técnicas de PMA heteróloga conhecer as suas origens genéticas (e, mais amplamente, as circunstâncias em que se deu a sua conceção, gestação e nascimento) pode conflituar com o interesse na manutenção da paz e tranquilidade da família em que o mesmo atualmente se integra, assim como com a pretensão de manter o anonimato por parte de quem tenha doado material genético ou de quem tenha sido gestante de substituição.
As soluções encontradas são muito diversas, existindo, entre muitos, regimes jurídicos que asseguram o total anonimato dos dadores e outros que preveem o registo da sua identidade, com a possibilidade de esta ser revelada aos indivíduos nascidos com recurso aos gâmetas ou embriões doados, a seu pedido, após a maioridade. Existem, por outro lado, argumentos válidos na base dos diferentes interesses em presença.
De um lado, invoca-se o interesse dos pais em nada contar. Durante muito tempo, prevaleceu a ideia da necessidade de proteger a intimidade da vida privada e familiar. Além disso, argumenta-se, o anonimato encoraja a doação de gâmetas e é uma garantia para os pais da impossibilidade de o dador reclamar quaisquer direitos sobre o filho biológico. Ademais, a revelação da identidade dos dadores de gâmetas poderia conduzir ao surgimento de relações de paternidade e maternidade despidas de um projeto real de assunção dessas mesmas relações, o que seria uma situação a evitar. Por fim, sustenta-se ainda que a regra do anonimato dos dadores é um elemento essencial para assegurar a existência de dadores e, consequentemente, a própria viabilidade da PMA heteróloga.
Do outro lado, defende-se o direito da pessoa a conhecer a sua história e a sua identidade, sendo a origem biológica e genética uma parte importante dessa mesma identidade. Com a mudança das conceções sociais e uma maior aceitação do recurso aos tratamentos de infertilidade, o interesse dos pais em guardar segredo sobre o recurso à PMA começa, agora, a dar lugar a uma maior atenção aos direitos da pessoa nascida na sequência da utilização de técnicas de PMA. Disso mesmo é exemplo a evolução de várias ordens jurídicas, no sentido de uma progressiva abertura à tutela do direito ao conhecimento das próprias origens, e até ao abandono, por completo, da regra do anonimato dos dadores.
Seguindo a metódica mais adequada à natureza dos problemas em causa e dos parâmetros de controlo mobilizados pelos requerentes (cfr. supra o n.º 6), é conveniente alargar a perspetiva, tomando em consideração o direito internacional e o direito comparado e, tendo em conta tais dados, analisar o modo como tem sido equacionado o problema suscitado pelo artigo 15.º da LPMA.
C.3.1. O anonimato dos dadores e o direito ao conhecimento das origens genéticas no direito internacional
- Cumpre começar por salientar a relevância das disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança – o primeiro tratado a conter uma previsão explícita do direito não apenas do adulto, mas de todas as pessoas, mesmo menores, a conhecer as suas origens. São de particular importância, neste plano, o artigo 7.º, n.º 1, que estatui um direito subjetivo a conhecer a ascendência biológica: «a criança é registada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os seus pais e de ser educada por eles» (itálico aditado), acrescentado o n.º 2 que «os Estados Partes garantem a realização destes direitos de harmonia com a legislação nacional e as obrigações decorrentes dos instrumentos jurídicos»; e, ainda, o artigo 8.º, que consagra, no n.º 1, uma obrigação estadual de «respeitar o direito da criança e a preservar a sua identidade, incluindo a nacionalidade, o nome e relações familiares, nos termos da lei, sem ingerência ilegal» (itálico aditado). O n.º 2 deste artigo acrescenta, por seu turno, que «no caso de uma criança ser ilegalmente privada de todos os elementos constitutivos da sua identidade ou de alguns deles, os Estados Partes devem assegurar-lhe assistência e proteção adequadas, de forma que a sua identidade seja restabelecida o mais rapidamente possível».
O artigo 8.º em apreço é bastante inovador e significativo no presente caso. Resulta de uma proposta da Argentina, que pretendia consagrar uma disposição normativa que permitisse sustentar os pedidos de investigação da verdadeira identidade de crianças filhas de desaparecidos durante as décadas de 1970 e 1980. A referência feita pela norma às «relações familiares» é, também ela, usualmente interpretada em sentido lato, incluindo as origens biológicas ou genéticas. Contudo, é necessário ter em conta que a disposição em análise não define, em termos rigorosos, o conceito de identidade, limitando-se a dar exemplos, não taxativos, de elementos dela constitutivos, que decorreriam, de qualquer forma, do artigo 7.º do tratado. A densificação plena do termo terá de remeter-se, assim, para os planos dogmático e jurisprudencial.
- Relativamente à questão do anonimato dos dadores, também assume especial importância o disposto no artigo 8.º, n.º 1, da CEDH, uma vez que o TEDH tem considerado o direito ao conhecimento das origens genéticas como elemento integrante, e essencial, do direito ao respeito pela vida privada e familiar. Contudo, o Tribunal não considera aquele direito como absoluto, admitindo que o mesmo possa ter de ser compatibilizado com outros interesses fundamentais.
É, assim, de assinalar, desde logo, o Acórdão de 7 de julho de 1989, Gaskin c. United Kingdom (Queixa n.º 10454/83). O TEDH decidiu que o recorrente, a quem as autoridades britânicas haviam negado o acesso total aos registos relativos ao período em que aquele estivera sob tutela estadual, enquanto menor, tinha, efetivamente, o direito de acesso a esses mesmos registos. O Tribunal recordou que, ainda que o objeto principal do artigo 8.º seja a proteção do indivíduo contra uma interferência arbitrária das autoridades públicas, pode, além disso, implicar obrigações positivas inerentes a um respeito efetivo pela vida familiar. Nestes termos, afirmou que tal direito implica que cada pessoa seja capaz de estabelecer os detalhes da sua identidade como ser humano e que, em princípio, não seja impedida pelas autoridades de obter informações básicas sem uma justificação válida, concluindo que os cidadãos têm um interesse vital, protegido pela Convenção, em receber toda a informação necessária para conhecer e compreender a sua infância e desenvolvimento.
Também relevante é o Acórdão de 7 de fevereiro de 2002, Mikulic c. Croatia (Queixa n.º 53176/99), em que a requerente alegou a violação do artigo 8.º da CEDH devido à demora no processo de averiguação da sua paternidade, atenta a inexistência, no sistema jurídico croata, de mecanismo para obrigar à realização compulsiva de testes de ADN por parte do alegado pai. O TEDH reconheceu que a interessada fora mantida num estado de prolongada incerteza acerca da sua própria identidade, em virtude da ineficiência dos tribunais nacionais, sendo esta situação, naturalmente, uma violação do direito a receber informação necessária acerca dos aspetos fundamentais da identidade pessoal. O facto de se admitir a possibilidade de impedir a realização de quaisquer testes médicos, incluindo testes de ADN, para proteger interesses relevantes de terceiras pessoas, não impediu, todavia, o Tribunal de considerar que a falta de solução jurídica adequada e definitiva para o caso comportava uma violação do artigo 8.º da CEDH, na dimensão do direito à identidade pessoal.
No Acórdão de 13 de fevereiro de 2003, Odièvre c. France (Queixa n.º 42326/98), estava em causa a compatibilidade com a CEDH do regime jurídico francês, que protege a possibilidade de maternidade sob anonimato. Alegou o TEDH, numa argumentação que pode relevar para a ponderação entre os direitos constitucionais ora em causa, que a legislação francesa procurava estabelecer um equilíbrio e conferir proteção suficiente a interesses em conflito. De um lado, o direito a obter informações sobre as origens, a fim de poder construir a própria história pessoal, conhecendo as escolhas dos pais biológicos e adotantes e os laços familiares e genéticos existentes. Do outro, os interesses públicos na proteção da mãe e da criança durante a gravidez e parto, e no combate ao aborto, em especial ao aborto clandestino, e ao abandono de menores, elencados pelo Estado francês como razões fundantes do regime jurídico em causa. O TEDH concluiu, assim, numa decisão que mereceu inúmeros reparos e várias declarações de voto discordantes no próprio Acórdão, que, embora invulgar em termos comparados, a legislação francesa não excedera a margem de apreciação que deve ser reconhecida em matérias de grande complexidade e sensibilidade, como é o caso do direito ao conhecimento das próprias origens.
No Acórdão de 13 de julho de 2006, Jäggi c. Switzerland (Queixa n.º 58757/00), o TEDH esclarece que a ampla margem de apreciação dos Estados não depende unicamente dos direitos fundamentais em confronto numa situação concreta, mas também, para cada um destes direitos, da natureza específica das pretensões em causa. No caso do direito à identidade, o TEDH reitera que este faz parte integrante do conceito de vida privada e inclui necessariamente o direito a conhecer a própria ascendência. In casu, o Tribunal admitiu que a necessidade de proteger terceiros pode implicar a exclusão da possibilidade de realizar determinados procedimentos, como é o caso dos testes de ADN em vista do estabelecimento da paternidade, mas deve haver um justo equilíbrio, resultante da ponderação entre os interesses concorrentes.
Esta linha de orientação tem prevalecido também no que toca à existência de prazos-limite para a instauração de ações de reconhecimento da paternidade. A existência de um termo final, só por si, não é considerada violadora da Convenção, importando verificar se a natureza, duração e características do prazo resultam num justo equilíbrio entre o interesse do investigante em ver esclarecido um aspeto importante da sua identidade pessoal, o interesse do investigado e da sua família mais próxima em serem protegidos de demandas respeitantes a factos da sua vida íntima ocorridos há já muito tempo, e o interesse público da estabilidade das relações jurídicas. Neste discurso é realçado que o direito ao respeito da vida privada e familiar não assiste apenas à pessoa que pretende saber quem são os seus pais e estabelecer o respetivo vínculo jurídico, mas também protege os investigados e suas famílias, cuja tutela não pode deixar de ser considerada, importando harmonizar os interesses opostos. Neste sentido pronunciaram-se os Acórdãos de 6 de julho de 2010, casos Backlund c. Finlândia (Queixa n.º 36498/05) e Gronmark c. Finlândia (Queixa n.º 17038/04), e de 20 de dezembro de 2007, caso Phinikaridou c. Chipre (Queixa n.º 23890/02), nos quais estava em causa a existência de prazos limite para a instauração de ações de reconhecimento da paternidade.
C.3.2. O anonimato dos dadores e o direito ao conhecimento das origens genéticas no direito comparado
- A questão do anonimato dos dadores e do direito das crianças que nasceram com recurso a técnicas de PMA, designadamente, com recurso a doação de gâmetas ou a gestação de substituição, a conhecerem a identidade dos seus progenitores genéticos ou da gestante é um tema controverso e fortemente debatido no plano comparado, tendo as soluções jurídicas concretas sofrido notória evolução na última década.
Assim, as disposições legais sobre esta questão em cada ordenamento nacional são significativamente distintas, por vezes opostas, mesmo no quadro de um conjunto de países com fortes semelhanças e um conjunto de valores jurídico-constitucionais partilhados, como é o caso dos Estados-Membros da União Europeia. Se vários países consagram ainda a regra do anonimato dos dadores, é, todavia, inegável uma tendência no sentido de garantir o direito a conhecer as próprias origens, criando exceções importantes ou abolindo totalmente o estatuto de anonimato dos dadores.
Nesse sentido, já apontava, de resto, a Resolução do Parlamento Europeu sobre fecundação artificial in vivo e in vitro, de 16 de março de 1989, mencionada pelos requerentes (cfr. o respetivo n.º 10, 3.º e 4.º travessões: apesar de se considerar indesejável aquele tipo de fecundação, entende-se que, no caso de a mesma ser aceite por um Estado-Membro, será necessário respeitar, entre outros, os seguintes requisitos: (i) «consentimento dos casais devidamente informados e comprovação da sua idoneidade, sendo aplicado, por analogia, o previsto nas respetivas leis referentes à adoção, incluindo o que diz respeito ao anonimato do dador»; e (ii) «proibição de desconhecimento de paternidade em caso de inseminação artificial da parte de um dador» – cfr. JOCE N.º C 96/171, de 17 de abril de 1989).
- Na Alemanha, o direito ao conhecimento da própria origem é reconhecido, desde 1989, na sequência de jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, que afirmou tratar-se de um direito fundamental decorrente da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade protegidos pela Grundgesetz. Na sua decisão de 18 de janeiro de 1989, aquele Tribunal afirmou:
«Enquanto característica individualizadora, a ascendência [Abstammung] pertence à personalidade, e o conhecimento das origens permite a cada um obter, independentemente da extensão dos resultados científicos, importantes elementos de conexão para a compreensão e o desenvolvimento da sua própria individualidade. Daí que o direito [geral] de personalidade [do artigo 2.º, alínea 1, em conjugação com o artigo 1.º, alínea 1, da Grundgesetz] inclua também o direito ao conhecimento da ascendência. […] Todavia, o artigo 2.º, alínea 1, em conjugação com o artigo 1.º, alínea 1, da Grundgesetz, não confere qualquer direito à aquisição de conhecimentos [Recht auf Verschaffung von Kenntnissen] sobre a própria ascendência, limitando-se o seu alcance à defesa contra a recusa do acesso a informações já existentes» (BVerfGE 79, 256 (269); v., no mesmo sentido, BVerfGE 90, 263 (270 f), 96, 56 (63) e, por último, 141, 186 (204) ).
A defesa do conhecimento da própria ascendência resulta, em primeira linha, do dever constitucional de proteção dos indivíduos contra a recusa, no âmbito das relações jurídicas entre interessados, de informações disponíveis sobre a mesma, já que, por norma, não é o Estado vinculado imediatamente aos direitos fundamentais que impede o interessado de aceder a informações existentes sobre a sua ascendência, mas antes outros particulares que se recusam a colaborar no esclarecimento da situação. O Estado é chamado em defesa do interessado, já que somente com o seu auxílio é que este poderá obter as informações desejadas. Para o efeito, poderá ter de ser estabelecido um procedimento no âmbito do qual o esclarecimento da questão possa ser realizado (assim, v. BVerfGE 117, 202 (227) e 141, 186 (204)).
No plano legislativo, assinale-se a Lei sobre o Direito ao Conhecimento da Ascendência em Caso de Utilização de Sémen de Dador (Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen), de 17 de julho de 2017, que, no seu artigo 1.º, aprova a Lei do Registo de Dadores de Sémen e do Acesso a Informações sobre o Dador de Sémen Utilizado (Gesetz zur Errichtung eines Samenspenderregisters und zur Regelung der Auskunfterteilung über den Spender nach heterologer Verwendung von Samen – Samenspenderregistergesetz – SaRegG). Segundo § 1, alínea 2, primeira frase, da SaRegG, o registo de dadores visa assegurar às pessoas geradas na sequência de uma técnica de PMA com recurso a sémen de um terceiro dador o direito ao conhecimento da sua ascendência. O § 10 do mesmo diploma disciplina os pressupostos e o procedimento de acesso aos dados constantes do registo de dadores por parte de quem suponha ter sido gerado nas referidas condições.
- Em Espanha, vigora a regra do anonimato. A Ley 14/2006, de 26 de mayo, prevê a confidencialidade dos dados relativos aos dadores (cfr. o artigo 5.º, n.º 5). Os filhos nascidos de procriação heteróloga têm direito a receber informações gerais sobre os dadores, que não incluam a sua identidade. Só em casos extraordinários, que comportem perigo para a vida ou para a saúde do filho, poderá ser revelada a identidade dos dadores.
No plano jurisprudencial, o Tribunal Constitucional de Espanha, ao apreciar a questão da conformidade constitucional da regra do anonimato dos dadores constante da lei anterior (a Ley 35/1988, de 22 de noviembre) com o ordenamento constitucional espanhol, entendeu que não existe um direito irrestrito dos cidadãos à averiguação e conhecimento, em qualquer caso e sem que se levem em conta causas justificativas que o desaconselhem, da identidade dos seus progenitores biológicos. Afirmou então o Tribunal Constitucional (Pleno) na sua Sentencia 116/1999, de 17 de junho de 1999:
«Ha de señalarse, en primer término, que el anonimato de los donantes que la Ley trata de preservar no supone una absoluta imposibilidad de determinar su identidad, pues el mismo precepto dispone que, de manera excepcional, «en circunstancias extraordinárias que comporten un comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto». Asimismo, el mencionado precepto legal atribuye a los hijos nacidos mediante las técnicas reproductoras artificiales, o a sus representantes legales, el derecho a obtener información general de los donantes, a reserva de su identidad, lo que garantiza el conocimiento de los factores o elementos genéticos y de otra índole de su progenitor. No puede afirmarse, por ello, que la regulación legal, al preservar la identidad de los donantes, ocasione consecuencias perjudiciales para los hijos com alcance bastante para afirmar que se produce una desprotección de éstos.
Por otra parte, los límites y cautelas establecidos en este ámbito por el legislador no carecen de base racional, respondiendo claramente a la necesidad de cohonestar la obtención de gametos y preembriones susceptibles de ser transferidos al útero materno e imprescindibles para la puesta en práctica de estas técnicas de reproducción asistida (orientadas – debe nuevamente recordarse – a fines terapéuticos y a combatir la esterilidade humana (art. 1.2 de la Ley) ), con el derecho a la intimidad de los donantes, contribuyendo, de tal modo, a favorecer el acceso a estas técnicas de reproducción humana artificial, en tanto que situadas en un ámbito médico en el que por diversas razones – desde las culturales y éticas, hasta las derivadas de la propia novedad tecnológica de estos medios de fecundación – puede resultar especialmente dificultoso obtener el material genético necessário para llevarlas a cabo.»
- A França mantém um modelo de salvaguarda do anonimato total dos dadores e das gestantes. Efetivamente, do ponto de vista histórico, neste país, o direito da pessoa a conhecer as suas origens, nomeadamente as suas origens genéticas, nunca mereceu prevalência no regime jurídico sobre este tipo de matérias. O direito francês separa, aliás, a maternidade da progenitura materna, sendo até possível a uma mulher dar à luz em segredo, não revelando a sua identidade (possibilidade conhecida como accoucher sous X).
Na sequência de fortes críticas, entre outros, por parte do Comité dos Direitos da Criança das ONU, a legislação francesa foi modificada, com a entrada em vigor da Lei n.º 2002-93, de 22 de janeiro, permitindo, em certas circunstâncias, o levantamento do anonimato dos pais biológicos, mas apenas no caso de pessoas que tenham sido adotadas ou se encontrem sob tutela estadual. Permite-se também a consulta de alguns dados não-identificativos, através de organismos estaduais. Em 2003, a questão do anonimato previsto pelo ordenamento francês, no caso de adoção, foi levada ao TEDH, no caso Odièvre v. France, tendo a solução legal francesa sido considerada compatível com o disposto no artigo 8.º da CEDH (direito ao respeito pela vida privada e familiar).
No caso específico dos dadores de ovócitos ou esperma, a solução do anonimato foi também adotada de forma expressa. O artigo L1244-7 do Code de la Santé Publique prevê, precisamente, a obrigação de informar as dadoras acerca do «princípio do anonimato e do princípio da gratuitidade».
- No Reino Unido, o modelo é distinto e evoluiu consideravelmente ao longo das duas últimas décadas. O direito da pessoa a conhecer as suas origens está consagrado e é protegido pelo ordenamento jurídico britânico, em termos gerais, há vários anos. Exige-se, contudo, que as autoridades públicas informem todos os envolvidos da intenção de divulgação da informação e ponderem os direitos do requerente, que pretende acesso aos dados sobre as suas origens, com os dos restantes interessados, cujos direitos fundamentais devam ser tomados em consideração.
No caso específico do direito ao conhecimento da identidade dos dadores, as modificações do ordenamento jurídico do Reino Unido, ao longo das últimas décadas, foram mais significativas. No ato de ratificação da Convenção dos Direitos da Criança, foi feita uma reserva no sentido de ressalvar que apenas se entenderia como “pais” as pessoas definidas como tal pela legislação nacional, não se incluindo nessa categoria os pais biológicos, em caso de adoção, ou os dadores. Todavia, a opção pelo anonimato, objeto de grande debate, com particular relevo após a adoção do Human Rights Act, de 1998, foi sofrendo diversas modificações, no sentido de uma maior abertura, tendo acabado por ser completamente abandonada em 2005. A atual versão do Human Fertilisation and Embryology Act, de 2008, prevê a obrigatoriedade do registo de informações sobre a identidade dos dadores, e o direito da pessoa nascida com recurso a gâmetas doados solicitar essa informação às autoridades, após os 16 anos.
- A Suíça, a Holanda e a maioria dos países nórdicos (designadamente, a Suécia, a Noruega, a Islândia e a Finlândia) têm hoje disposições legais que tutelam fortemente o direito ao conhecimento das origens genéticas, tendo abolido a regra do anonimato dos dadores por completo. Estes países são exemplo de uma tendência, à escala mundial, para abandonar tal regra e permitir à pessoa nascida de PMA, quando tenha atingido um grau suficiente de maturidade, conhecer a identidade dos dadores dos gâmetas que lhe deram origem.
A Suécia foi o primeiro país a legislar no sentido de permitir o conhecimento da identidade dos dadores, em 1984. Este princípio de abertura foi, naturalmente, estendido às dadoras de ovócitos, a partir do momento em que esta prática se legalizou, em 2003.
Na Suíça, o artigo 119.º, alínea 2, da Constitution fédérale de la Confédération suisse contém disposições concretas sobre procriação medicamente assistida, uma das quais consagra o direito de todas as pessoas a terem acesso aos dados relativos à sua ascendência (letra g): «toda a pessoa tem acesso aos dados relativos à sua ascendência»). Tendo em conta a desigualdade que o regime estabelecia em relação às crianças adotadas, e levando em consideração as obrigações estaduais decorrentes dos artigos 7.º e 8.º da Convenção dos Direitos da Criança, a jurisprudência federal (cfr. ATF 128 I 63) e o legislador reconheceram, no início da década de 2000, o direito a conhecer as próprias origens como um direito absoluto da pessoa, devendo o seu âmbito ser o mais amplo possível.
A regra do anonimato foi igualmente levantada na Noruega, a partir de 2003, de maneira progressiva. A tutela plena do direito a conhecer as origens genéticas vigora desde 2005.
A Islândia tem, desde 1996 (cfr. Lei n.º 55-1996), um sistema duplo, que permite tanto as doações anónimas de gâmetas, como as doações de pessoas que tenham autorizado, de maneira antecipada, a revelação dos seus dados pessoais. A Finlândia teve um sistema semelhante durante alguns anos, mas optou pela abolição da regra do anonimato desde 2006, podendo os interessados conhecer a identidade dos dadores de esperma ou ovócitos, após a maioridade.
Na Holanda, e após um longo debate de mais de uma década, não se permitem doações anónimas. Em 2002 foi adotada uma lei relativa ao direito à informação sobre os dadores de gâmetas, que revogou a solução anterior, de natureza mista.
C.3.3. O debate em torno do artigo 15.º da LPMA
C.3.3.1. A doutrina nacional
- A doutrina nacional vem, desde há anos, debatendo a problemática do anonimato dos dadores e do direito ao conhecimento das origens genéticas.
Oliveira Ascensão sustentava, já em 1991, que, pese embora a tendência a nível do direito comparado na época dominante ir no sentido da regra do anonimato dos dadores, essa visão pragmática de utilidade social chocava com considerações éticas, argumentando o Autor que, havendo ou não um laço de filiação, cada um deveria poder conhecer donde provém, na medida em que esta «não é só uma ligação biológica: há um momento humano, no conhecimento do passado ou dos antecedentes de cada um» (v. Autor cit., “Direito e Bioética” in Revista da Ordem dos Advogados, ano 51, julho de 1991, pp. 429 e ss). Com base neste entendimento, defendia que o direito à integridade moral e física (artigo 25.º da Constituição) e o direito à identidade pessoal (artigo 26.º da Constituição), eram suscetíveis de fundar o direito de qualquer pessoa a conhecer a sua proveniência biológica, independentemente de esse conhecimento estar, ou não, associado ao estabelecimento jurídico da filiação.
Paulo Otero entende que «o direito à identidade pessoal envolve um direito à historicidade pessoal, expresso na relação de cada pessoa com aquelas que (mediata ou imediatamente) lhe deram origem» (v. Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano: um perfil constitucional da bioética, Almedina, 1999, p. 71 ss.). Deste direito, retira o Autor importantes conclusões, com relevância direta para a questão ora em análise.
Em primeiro lugar, defende que tal direito implica o direito de cada ser humano a conhecer a forma como foi gerado e, mais amplamente, o direito a conhecer o seu património genético. Nestes termos, sustenta a inconstitucionalidade de qualquer «sistema normativo de segredo que vede ao interessado a possibilidade de conhecer a forma como foi gerado ou o respetivo património genético». Do mesmo modo, rejeita a existência de quaisquer interesses ou direitos de pessoas intervenientes no processo – designadamente o direito à intimidade pessoal e familiar dos dadores – que «possam impedir alguém de conhecer a respetiva origem e património genético».
Em segundo lugar, o mesmo Autor defende que o direito à historicidade pessoal compreende ainda «o concreto direito de cada ser humano a conhecer a identidade dos seus progenitores», facto que implica a inconstitucionalidade de «qualquer regra de anonimato do dador de material genético».
Tiago Duarte salientou a introdução, em 1997, por parte do legislador constituinte, de um n.º 3 no artigo 26.º, tornando clara a necessidade de não se obnubilar a identidade genética do ser humano na utilização de quaisquer tecnologias e de experiências científicas, técnicas de PMA incluídas (cfr. In Vitro Veritas? A Procriação Medicamente Assistida na Constituição e na Lei, Almedina, Coimbra, 2003). Segundo este Autor, «o que a Constituição deixou de permitir, se é que alguma vez o permitiu, é a obstrução a que cada pessoa procure e conheça aqueles que transmitiram os genes e que, deste modo, lhes formam a identidade. Quer a lei os considere pais ou meros dadores, por mais que a lei queira, e razoavelmente procure, apartar-lhes responsabilidades, essas pessoas fazem parte da história e da identidade genética daquele a quem, um dia, deram origem». Por conseguinte, o mesmo Autor defende a inconstitucionalidade de qualquer norma legal que estabeleça a possibilidade de anonimato dos dadores de esperma, de ovócitos ou de embriões em sede de inseminação artificial heteróloga, fecundação in vitro, transferência de embriões ou maternidade de substituição. No mesmo sentido fundamental, Pamplona Corte-Real afirma que a regra de subsidiariedade de aplicação das técnicas de PMA, circunscritas às situações de infertilidade, pode «justificar […] uma interpretação ampla do direito à identidade pessoal de qualquer indivíduo artificialmente procriado, embora com a inerente negação de qualquer vínculo familiar decorrente da doação de gâmetas, apenas medicamente significante» (v. “Os efeitos familiares e sucessórios da procriação medicamente assistida” in Estudos de Direito da Bioética, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 93 e ss., p. 100).
Já Guilherme de Oliveira não adota uma posição definitiva, sustentando que qualquer das soluções (regra do anonimato ou regra do conhecimento da identidade dos dadores) «se apoia na defesa de valores ponderosos, respetivamente, na defesa da paz da família e na defesa da verdade acerca da ascendência biológica. O anonimato do dador parece exprimir bem a irrelevância da sua identidade e do seu papel social no processo da fecundação; porém, a ocultação da verdade biológica parece contrariar […] a relevância dos conhecimentos das ciências biológicas, [assim como] o culto da verdade nas sociedades em que o problema da inseminação heteróloga se põe» (v. “Aspectos Jurídicos da Procriação Assistida”, in Temas de Direito da Medicina, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 5 e ss., p. 18).
- Numa análise diretamente dedicada à questão da constitucionalidade das normas ora em apreciação, Rafael Vale e Reis sustenta que o artigo 15.º da LPMA opera uma restrição material ao direito ao conhecimento das origens genéticas, ofendendo o respetivo conteúdo essencial, em benefício da tutela do sistema médico de combate à infertilidade humana, da reserva da intimidade da vida privada dos dadores e dos seus núcleos familiares estabelecidos (cfr. O Direito ao Conhecimento das Origens Genéticas, Coimbra Editora, Coimbra, 2008). Por isso, o Autor defende que a solução adotada pelo legislador deveria ter sido precisamente a inversa, em nome da tutela do direito fundamental ao conhecimento das origens genéticas: a de optar, como ponto de partida, pela regra da admissibilidade do conhecimento da identidade do dador, limitando-a apenas nos casos, reconhecidos por decisão judicial, em que outros valores (como a proteção dos núcleos familiares estabelecidos ou a integridade psíquica do dador) devessem ser tidos como prevalecentes no caso concreto. Partindo desta base, o mesmo Autor considera expressamente que, nas hipóteses de gestação de substituição com recurso à dação de gâmetas por parte de terceiros, o filho deveria poder em regra conhecer a identidade do terceiro dador que lhe forneceu o material genético.
Igualmente nesta linha, Paula Martinho da Silva e Marta Costa notam que a evolução recente da legislação europeia nesta matéria demonstra que este princípio tem vindo a ser reavaliado à luz da defesa dos interesses da criança nascida através de técnicas de PMA, entendendo, por isso, que, de iure condendo, o princípio do anonimato do dador deverá ser mitigado, ou mesmo abolido, com opções legislativas que permitam um nível de conhecimento das origens genéticas e mesmo da sua identificação (v. A Lei da Procriação Medicamente Assistida Anotada, Coleção PLMJ, Coimbra Editora, Coimbra, 2011).
Gomes Canotilho e Vital Moreira consideram que o direito à identidade pessoal – que garante «aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo, singular e irredutível – abrange seguramente um direito à historicidade pessoal, entendido como «direito ao conhecimento da identidade dos progenitores»; todavia, manifestam dúvidas sobre se este direito «implica necessariamente um direito ao conhecimento da progenitura, [uma vez que tal entendimento levantaria] dificuldades no caso do regime tradicional da adoção e, também, mais recentemente, nos casos de inseminação artificial heteróloga e das “mães de aluguer”» (v. Autores cits., Constituição…, cit., anot. II ao artigo 26.º, p. 462). Por seu lado, Rui Medeiros e António Cortês, reconhecendo embora que o artigo 15.º da LPMA estabelece um sistema de anonimato, entendem que a solução do n.º 4 desse preceito – que prevê a possibilidade de a regra do anonimato ser judicialmente quebrada quando se verifiquem «razões ponderosas» – deverá merecer uma interpretação conforme ao direito fundamental ao conhecimento das origens genéticas, «não podendo legitimar leituras que sejam excessiva e injustificadamente restritivas da possibilidade de revelação da identidade do dador ou da dadora (sem que tal tenha, como é óbvio, quaisquer consequências ao nível de relações de filiação […])» (v. Autores cits. in Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição…, cit., anot. VIII ao artigo 26.º, pp. 610-611).
C.3.3.2 A posição do CNECV
- O CNECV pronunciou-se já por diversas vezes sobre o direito ao conhecimento da identidade dos dadores de gâmetas. No Parecer n.º 23/CNECV/98, sobre um projeto de proposta de lei relativo à PMA, aquele Conselho afirma, para a hipótese de «a dádiva de sémen [vir] a ser legalizada», o «reconhecimento inequívoco, e sem quaisquer restrições, do direito das pessoas geradas em consequência de dádiva de sémen terem acesso à identificação do dador» (ponto 3, alínea c), p. 16). Esta posição é justificada no relatório, elaborado pelo Conselheiro Joaquim Pinto Machado, anexo ao Parecer em causa, nos termos seguintes:
«É certo que se admite [no projeto então em análise] que as pessoas assim nascidas “poderão” obter o conhecimento da identidade do dador, mas só “por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial” (nº. 3 do artº. 12º). Mas esta disposição apenas abre uma possibilidade, que até parece excecional, cuja satisfação depende de critérios indefinidos: o querer saber quem é o progenitor “genético” não será, por si só, razão ponderosa?
O conhecimento da identidade dos progenitores faz parte da historicidade pessoal e, portanto, da identidade própria e singular, pelo que a ninguém deve ser negado o acesso a esse conhecimento; à instância judicial cabe assegurá-lo, nunca avaliar da sua legitimidade.
Aliás, o primeiro dos direitos reconhecidos no nº 1 do artº. 26º da Constituição da República Portuguesa é precisamente o da “identidade pessoal”. Este direito de cada um conhecer quem são os seus progenitores é reconhecido na Alemanha, Áustria, Suécia e Suíça (pelo menos). E no preâmbulo da resolução sobre fertilização in vitro e in vivo do Parlamento Europeu, de 1989, inclui-se, entre os direitos do filho a salvaguardar, o “direito a uma identidade genética”.
Por outro lado, há que ter em conta a possibilidade de ocorrência, a médio ou longo prazo, de consequências gravosas para o casal e/ou para a pessoa nascida; só estudos sistemáticos e fiáveis permitirão tirar conclusões a tal respeito. Aliás, o anonimato do dador e a não revelação pelos casais, aos filhos assim gerados, do modo da sua conceção, é uma das questões mais debatidas internacionalmente a respeito da PMA heteróloga.
E não colhe o argumento de que o reconhecimento deste direito levará à inexistência de dadores de sémen. Não só porque, face ao que está em causa, isso ser razão subalterna, como porque a experiência sueca demonstra o contrário: passados alguns anos de declínio (a regulamentação é de 1985) os dadores têm aumentado e são de outra qualidade ética, isto é, são autenticamente “dadores”» (p. 4).
Esta posição foi substancialmente reiterada em posteriores intervenções do Conselho, designadamente no Parecer n.º 44/CNECV/2004:
«10. No caso de PMA com recurso a dador de gâmetas, deverá ser salvaguardada a possibilidade de identificação do dador, a pedido do seu filho biológico e a partir da maioridade legal deste, no reconhecimento ao direito do próprio à identidade pessoal e biológica. A informação genética relevante para a saúde do filho biológico e não identificável do dador deverá manter-se permanentemente disponível, podendo ser solicitada, antes da maioridade do filho biológico, pelos representantes legais deste.
- O conhecimento da identidade do dador de gâmetas não poderá implicar, por parte do filho biológico, a reivindicação de quaisquer direitos em relação àquele ou de deveres daquele para com o próprio.»
C.3.3.3. A jurisprudência do Tribunal Constitucional
- O Tribunal Constitucional também já teve oportunidade de se pronunciar sobre a regra do anonimato dos dadores. Com efeito, no processo objeto do Acórdão n.º 101/2009, foi questionada a constitucionalidade das normas do artigo 15.º, n.ºs 1 a 4, conjugadas com as normas do artigo 10.º, n.ºs 1 e 2, na medida em que negam à pessoa nascida com recurso à procriação heteróloga a hipótese de conhecer os seus antecedentes médicos. Sustentava-se no pedido que a pessoa concebida através de técnicas de PMA não tem possibilidade de o saber, por virtude do dever de sigilo que é imposto por lei a todos os participantes no processo, o que a coloca numa situação de desigualdade em relação a quaisquer outros cidadãos.
Depois de referir os dados de direito comparado e as diferentes posições doutrinais, o Tribunal considerou no citado aresto:
«Do ponto de vista jurídico-constitucional estão aqui em tensão diferentes direitos fundamentais. Por um lado, o direito fundamental da pessoa nascida de PMA à identidade pessoal, do qual parece decorrer um direito ao conhecimento da sua ascendência genética (artigos 26.º, n.ºs 1 e 3, da Constituição), e, por outro, o direito a constituir família e o direito à intimidade da vida privada e familiar (previstos, respetivamente, nos artigos 36.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, da Constituição.
A questão deve ser colocada nestes termos, uma vez que a possibilidade de conhecimento da identidade dos dadores de gâmetas e/ou embriões não implica o reconhecimento de qualquer vínculo legal de ordem filial, como expressamente decorre do disposto no artigo 10.º, n.º 2, onde se refere: “(o)s dadores de gâmetas não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer”. […]
Este mesmo princípio [– o de uma solução de equilíbrio em que se tenha em linha de conta outros interesses ou valores conflituantes com o direito ao conhecimento das origens genéticas –] foi afirmado pelo Tribunal Constitucional quando teve oportunidade de se pronunciar acerca do direito ao conhecimento da maternidade e paternidade biológicas, enquanto dimensão do direito à identidade pessoal, a propósito de questão da constitucionalidade do prazo máximo de dois anos após a maioridade para propor ação de investigação de paternidade. A esse respeito, o acórdão n.º 23/06 fez notar que o direito à identidade pessoal, na sua dimensão de historicidade pessoal, implica a existência de meios legais para demonstração dos vínculos biológicos, mas admitiu que “outros valores, para além da ilimitada receção à averiguação da verdade biológica da filiação (…) possam intervir na ponderação dos interesses em causa, como que comprimindo a revelação da verdade biológica”. […]
Chegados a este ponto, será necessário relembrar que o artigo 15º da Lei n.º 32/2006 não estabelece uma regra definitiva de anonimato dos dadores, mas apenas uma regra prima facie, que admite exceções expressamente previstas. Na verdade, embora os intervenientes no procedimento se encontrem sujeitos a um dever de sigilo, as pessoas nascidas na sequência da utilização de técnicas de PMA com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões podem, junto dos competentes serviços de saúde, obter as informações de natureza genética que lhes digam respeito (n.º 2), bem como informação sobre eventual existência de impedimento legal a um projetado casamento (n.º 3), além de que podem obter informações sobre a identidade dos dadores de gâmetas quando se verifiquem razões ponderosas, reconhecidas por sentença judicial (n.º 4).
A questão que se coloca não é pois a de saber se seria constitucional um regime legal de total anonimato do dador, mas antes se é constitucional estabelecer, como regra, o anonimato dos dadores e, como exceção, a possibilidade de conhecimento da sua identidade.
Deste modo, [não está em causa a própria] existência de um direito ao conhecimento das origens genéticas, [mas tão-só] o peso relativo que tal direito merece e a importância que lhe é dada pela lei no regime que concretamente instituiu» (itálicos adicionados).
Seguidamente, o Tribunal analisa a solução legal em termos de equilíbrio ou de concordância prática entre os diferentes direitos em jogo.
Começa por analisar o direito à identidade pessoal:
«[A] identidade pessoal é um conceito referido à pessoa que se constrói ao longo da vida em vista das relações que nela se estabelecem, sendo que os vínculos biológicos são apenas um aspeto dessa realidade. E nesse sentido, a história pessoal de cada um é também a história das relações que vivenciou com os outros, de tal modo que – pode dizer-se – não é possível isolar a vida de uma pessoa da vida daquelas com quem familiarmente conviveu desde a nascença (João Loureiro, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, citado, pág. 292).
A imagem da pessoa que a Constituição supõe não é apenas a de um indivíduo vivendo isoladamente possuidor de um determinado código genético; a Constituição supõe uma imagem mais ampla da pessoa, supõe a pessoa integrada na realidade efetiva das suas relações familiares e humano-sociais. Deste modo, o direito à identidade pessoal, poderá dizer-se, possui, até certo ponto, um conteúdo heterogéneo: ele abrange diferentes tipos de faculdades, e o seu domínio de proteção não é absolutamente uniforme, admitindo-se nele diferentes intensidades em função do tipo de situação que esteja em causa […].
Assim sendo, as posições jurídicas contidas no direito à identidade pessoal, como seja o direito ao conhecimento das origens genéticas, não têm necessariamente uma força jurídico-constitucional uniforme e totalmente independente dos diferentes contextos em que efetivamente se desenvolve essa identidade pessoal. O reconhecimento de um direito ao conhecimento das origens genéticas não impede, pois, que o legislador possa modelar o exercício de um tal direito em função de outros interesses ou valores constitucionalmente tutelados que possam refletir-se no conceito mais amplo de identidade pessoal.»
Recorde-se que, no já mencionado Acórdão n.º 23/2006, o Tribunal havia caracterizado o direito fundamental em apreço, sem prejuízo da admissão de « que outros valores, para além “da ilimitada receção à averiguação da verdade biológica da filiação – como os relativos à certeza e à segurança jurídicas, possam intervir na ponderação dos interesses em causa”, como que “comprimindo a revelação da verdade biológica”», nestes termos:
«[O] direito à identidade pessoal inclui, não apenas o interesse na identificação pessoal (na não confundibilidade com os outros) e na constituição daquela identidade, como também, enquanto pressuposto para esta autodefinição, o direito ao conhecimento das próprias raízes. Mesmo sem compromisso com quaisquer determinismos, não custa reconhecer que saber quem se é remete logo (pelo menos também) para saber quais são os antecedentes, onde estão as raízes familiares, geográficas e culturais, e também genéticas (cfr., aliás, também a referência a uma “identidade genética”, que o artigo 26.º, n.º 3, da Constituição considera constitucionalmente relevante). Tal aspeto da personalidade – a historicidade pessoal (Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada […], falam justamente de um “direito à historicidade pessoal”) – implica, pois, a existência de meios legais para demonstração dos vínculos biológicos em causa […], bem como o reconhecimento jurídico desses vínculos.
Deve, pois, dar-se por adquirida a consagração, na Constituição, como dimensão do direito à identidade pessoal, consagrado no artigo 26.º, n.º 1, de um direito fundamental ao conhecimento e reconhecimento da maternidade e da paternidade.»
Voltando ao Acórdão n.º 101/2009, o Tribunal procede, depois, às seguintes ponderações:
«[O] direito a constituir família é certamente um fator a ponderar na admissibilidade subsidiária da procriação heteróloga. A partir do momento em que se admite uma modalidade de procriação medicamente assistida que pressupõe a doação de gâmetas por um terceiro, mal se compreenderia que se estabelecesse um regime legal a ela relativo que fosse tendente a afetar a paz familiar e os laços afetivos que ligam os seus membros. E, nestes termos, tendo-se já discutido a conformidade constitucional desta forma de procriação quando não seja medicamente possível outra […], não é de considerar como constitucionalmente inadmissível que o legislador crie as condições para que sejam salvaguardadas a paz e a intimidade da vida familiar, sem interferência de terceiros dadores que, à partida, apenas pretenderam auxiliar a constituição da família.
Cabe, em todo o caso, sublinhar que o regime legal de não revelação da identidade dos dadores não é fechado. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida possui a informação sobre a identidade dos dadores e poderá prestá-la nos termos e com os limites previstos no artigo 15º, quer fornecendo dados de natureza genética, quer identificando situações de impedimento matrimonial, e sem excluir a possibilidade de identificação do dador quando seja proferida decisão judicial que verifique a existência de razões ponderosas que tornem justificável essa revelação (artigo 30º, n.º 2, alínea i)). Além disso, as razões ponderosas a que se refere o artigo 15.º, n.º 4, da Lei n.º 32/2006, não poderão deixar de ser consideradas à luz do direito à identidade pessoal e do direito ao desenvolvimento da personalidade de que fala o artigo 26.º, n.º 1, da Constituição da República, que, nesses termos, poderão merecer prevalência na apreciação do caso concreto.
Contrariamente ainda ao que vem alegado no pedido, por tudo o que se deixou exposto, não há também qualquer violação do princípio da igualdade, em relação às pessoas nascidas a partir da utilização de técnicas de PMA.
Não obstante o dever de sigilo que impende sobre os intervenientes no processo, essas pessoas podem aceder a todos os dados de informação relativos aos seus antecedentes genéticos e só a informação referente à própria identidade do dador é que está dependente de prévia autorização judicial. No entanto, essa limitação ao conhecimento da progenitura (ainda que de carácter não absoluto) mostra-se justificada, como se deixou entrever, pela necessidade de preservação de outros valores constitucionalmente tutelados, pelo que nunca poderá ser entendida como uma discriminação arbitrária suscetível de pôr em causa o principio da igualdade entre cidadãos.
Em todo este contexto, a opção seguida pelo legislador, ao estabelecer um regime mitigado de anonimato dos dadores, não merece censura constitucional.»
C.4. Apreciação dos fundamentos invocados pelos requerentes
C.4.1. A regra do anonimato à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
- Os requerentes sustentam que a regra do anonimato dos dadores e da gestante de substituição seria contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tal alegação afigura-se, contudo, insustentável, tendo em conta a amplitude do direito à identidade pessoal.
Este direito tem uma ligação estreita com a dignidade da pessoa humana, sendo uma das suas expressões concretas:
«A identidade pessoal é aquilo que caracteriza cada pessoa enquanto unidade individualizada que se diferencia de todas as outras pessoas por uma determinada vivência pessoal. Num sentido muito amplo, o direito à identidade pessoal abrange o direito de cada pessoa a viver em concordância consigo própria, sendo, em última análise, expressão da liberdade de consciência projetada exteriormente em determinadas opções de vida. O direito à identidade pessoal postula um princípio de verdade pessoal. Ninguém deve ser obrigado a viver em discordância com aquilo que pessoal e identitariamente é.» (assim, v. Rui Medeiros e António Cortês in Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição…, cit., anot. V ao artigo 26.º, p. 609).
Recordando a abordagem que tem vindo a ser feita pela jurisprudência constitucional, os vínculos biológicos – genéticos, epigenéticos e gestacionais –, sendo fundamentais para a auto-compreensão de cada um e para a construção da respetiva identidade, justamente porque integram a sua história pessoal, não definem o seu ser-pessoa: o que cada um é na sua realidade única e inconfundível, o mesmo é dizer, na sua identidade pessoal, vai muito para além de tais aspetos. Por isso, se afirmou no Acórdão n.º 101/2009: «[a] imagem da pessoa que a Constituição supõe não é apenas a de um indivíduo vivendo isoladamente possuidor de um determinado código genético; a Constituição supõe uma imagem mais ampla da pessoa, supõe a pessoa integrada na realidade efetiva das suas relações familiares e humano-sociais». E, por isso, o direito à identidade pessoal tem um conteúdo heterogéneo, abrangendo vários tipos de faculdades (v. ibidem).
A regra do anonimato ora em análise reportada aos dadores e à gestante anula parcialmente a historicidade pessoal de cada pessoa nascida nessas circunstâncias, mas, por si só, é insuficiente para a despersonalizar – tornando um certo indivíduo noutro que ele não é – ou para a forçar a viver uma verdade pessoal que não seja a sua, ainda que incompleta. Poderá afetar a consciência da sua própria identidade, suscitando dúvidas, interrogações ou crises; mas não a anula, tal como a mesma se foi manifestando ao longo da vida da pessoa e se continua a manifestar. Por isso, mesmo lesado num dos seus direitos fundamentais, nem por isso aquele que se vê impedido de conhecer as suas origens pode considerar-se degradado no seu ser-humano, inexistindo, por conseguinte, uma autónoma e específica violação da respetiva dignidade.
- Em especial, no que se refere ao anonimato dos dadores, é de notar, ainda, que a LPMA não estabelece uma regra absoluta. Na verdade, e conforme referido no Acórdão n.º 101/2009, o artigo 15.º, n.º 4, daquele diploma prevê a possibilidade de ser conhecida pela pessoa nascida na sequência de utilização de técnicas de PMA heteróloga a identidade dos dadores de gâmetas, por razões ponderosas, reconhecidas por sentença judicial.
Poderá, naturalmente, argumentar-se, que o processo judicial será demasiado moroso, revelando-se, em muitas situações da vida, um condicionamento excessivo ao exercício do direito à historicidade pessoal. Pode, ainda, alegar-se que todos os mecanismos postos ao dispor da pessoa nascida mediante o recurso a PMA pelas normas do artigo 15.º, n.ºs 2 a 4, resultam inúteis, devido ao sigilo imposto a todos aqueles que tenham tido conhecimento da utilização da PMA ou da identidade dos participantes no processo (artigo 15.º, n.º 1) e, bem assim, à omissão, no assento de nascimento, de qualquer indicação de que a pessoa nasceu na sequência de utilização de técnicas de PMA (artigo 15.º, n.º 5). Para poder exercer o direito legalmente reconhecido ao conhecimento de informações respeitantes à sua identidade pessoal, aquela pessoa tem, em primeiro lugar, de saber – e de poder saber – que foi concebida com recurso a tais técnicas.
Todavia, nenhum destes argumentos invalida o facto – indesmentível – de a lei prever um equilíbrio entre os direitos constitucionais perspetivados pelo legislador como conflituantes.
Assim, num primeiro momento, prevalece o direito dos pais (e dos dadores) à reserva de intimidade da vida privada, e procura-se assegurar a unidade da família. Todavia, o direito fundamental da pessoa nascida com recurso a PMA a conhecer a sua identidade não deixa de ser tutelado pela lei. Aliás, após um juízo jurisprudencial, que pese todas as circunstâncias de cada caso concreto – não suscetíveis de consideração a priori pelas normas legais –, o direito à historicidade pessoal do indivíduo fruto de PMA heteróloga poderá sempre prevalecer, totalmente, sobre quaisquer outros direitos, quer dos pais, quer dos dadores, estando aberta a possibilidade de conhecimento da identidade destes últimos. Caberá, pois, a cada pessoa interrogar-se sobre a sua própria identidade e dirigir-se, em caso de dúvida, aos competentes serviços de saúde ou ao CNPMA, junto dos quais poderá clarificar as circunstâncias que conduziram ao seu nascimento. Caber-lhe-á também recorrer aos tribunais, quando entenda ter razões ponderosas que justifiquem o acesso à identidade dos seus progenitores biológicos.
Este dever de questionar a própria identidade não é, aliás, algo de novo, que tenha surgido apenas com a utilização das técnicas de PMA. Situação idêntica ocorria, já, quanto ao instituto da adoção, uma vez que também neste caso a lei não assegura ao adotado qualquer meio seguro de conhecer a sua condição.
Com efeito, não existe um dever legal de os pais adotantes revelarem ao filho a adoção, sendo certo que, à luz do artigo 213.º, n.º 2, do Código de Registo Civil, «nas certidões de narrativa extraídas do registo de nascimento de filhos adotados plenamente, a filiação deve ser mencionada apenas mediante a indicação dos nomes dos pais adotivos». Segundo o n.º 3 do mesmo preceito, «a filiação natural do adotado só é mencionada nas certidões de narrativa extraídas do correspondente assento de nascimento se o requisitante expressamente o solicitar» (embora, seja sempre mencionada nas certidões destinadas a instruir processos de casamento). Assim, à semelhança do que se passa no caso da PMA heteróloga, e ressalvados os casos das certidões para efeitos de casamento – o que, todavia, representa uma diferença significativa, já que se se decidir casar, o adotado será necessariamente informado da sua filiação natural, contrariamente ao que acontece em relação à pessoa nascida em consequência de processos de PMA (cfr. o artigo 15.º, n.º 5, da LPMA) – o adotado só poderá tomar conhecimento da sua origem, não lhe tendo esta sido revelada, se se questionar e recorrer aos mecanismos legais à sua disposição.
Desta forma, e tendo em conta os valores constitucionais levados em consideração, não se descortinam argumentos que possam sustentar a desconformidade da atual solução legislativa com o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que, não só inexiste qualquer instrumentalização degradante, como não decorre das normas questionadas uma compressão total do direito à identidade pessoal, que, anulando o seu conteúdo essencial, comportaria, necessariamente, uma intolerável violação da dignidade da pessoa humana.
- É verdade que poderá parecer, à primeira vista, que assim também não haverá uma afetação inconstitucional daquele direito fundamental ou dos demais que, juntamente com ele, também são referidos pelos requerentes – os direitos ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética –, uma vez que não são totalmente separáveis os dois parâmetros, na presente análise.
Todavia, existe uma importante diferença entre este juízo e a fiscalização da constitucionalidade das normas aqui em causa com base apenas nos direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética. Essa diferença reside no grau de intensidade da lesão que o regime jurídico ora em causa possa implicar. Uma ablação total da identidade pessoal – que se afasta pelas razões já indicadas – corresponderia a uma violação da dignidade da pessoa humana. A sua inexistência não afasta, porém, a potencial violação do conteúdo dogmático específico dos direitos fundamentais mencionados.
C.4.2. A regra do anonimato à luz dos direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética
- Afastada a inconstitucionalidade das normas questionadas, em virtude da violação do princípio da dignidade humana, cabe analisar se elas respeitam os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética, previstos no artigo 26.º, n.ºs 1 e 3, da Constituição. Esta apreciação terá de efetuar-se tomando em consideração a densificação material de tais direitos, numa conceção atualizada dos mesmos, interpretada à luz dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, também invocados pelos requerentes.
Na esteira do que defendem Gomes Canotilho e Vital Moreira, o Tribunal tem entendido que o direito à identidade pessoal, consagrado no artigo 26º, n.º 1, da Constituição, abrange, não apenas o direito ao nome, mas também o direito à historicidade pessoal, enquanto direito ao conhecimento da identidade dos progenitores, que poderá fundamentar, por exemplo, um direito à investigação da paternidade ou da maternidade, por forma a que todos os indivíduos tenham a possibilidade de estabelecer o seu próprio vínculo de filiação (v. Autores cits., Constituição…, cit., anot. II ao artigo 26.º, p. 462; e Acórdãos n.ºs 456/2003, 157/2005 e 101/2009).
No entanto, o Tribunal também reconhece a diferença existente entre o direito ao conhecimento da paternidade biológica e o direito ao estabelecimento do vínculo jurídico da filiação, enquanto dimensões autónomas do direito à identidade pessoal, consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição (sobre a mencionada distinção, v. João Loureiro, “Filho(s) de um gâmeta menor? Procriação medicamente assistida heteróloga” in Lex Medicinae, Ano 3.º (2006), n.º 6, pp. 26 ss.; e Rafael Vale e Reis, O direito ao conhecimento das origens genéticas, cit., pp. 108-109). Neste sentido, afirmou-se no Acórdão n.º 401/2011:
«A identidade pessoal consiste no conjunto de atributos e características que permitem individualizar cada pessoa na sociedade e que fazem com que cada indivíduo seja ele mesmo e não outro, diferente dos demais, isto é, “uma unidade individualizada que se diferencia de todas as outras pessoas por uma determinada vivência pessoal” (Jorge Miranda/Rui Medeiros, em “Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, pág. 609, da 2.ª ed., da Coimbra Editora).
Este direito fundamental pode ser visto numa perspetiva estática – onde avultam a identificação genética, a identificação física, o nome e a imagem – e numa perspetiva dinâmica – onde interessa cuidar da verdade biográfica e da relação do indivíduo com a sociedade ao longo do tempo.
A ascendência assume especial importância no itinerário biográfico, uma vez que ela revela a identidade daqueles que contribuíram biologicamente para a formação do novo ser. O conhecimento dos progenitores é um dado importante no processo de autodefinição individual, pois essa informação permite ao indivíduo encontrar pontos de referência seguros de natureza genética, somática, afetiva ou fisiológica, revelando-lhe as origens do seu ser. É um dado importantíssimo na sua historicidade pessoal. Como expressivamente salienta Guilherme de Oliveira, «saber quem sou exige saber de onde venho» (em “Caducidade das ações de investigação”, ob. cit., pág. 51), podendo, por isso dizer-se que essa informação é um fator conformador da identidade própria, nuclearmente constitutivo da personalidade singular de cada indivíduo.
Mas o estabelecimento jurídico dos vínculos da filiação, com todos os seus efeitos, conferindo ao indivíduo o estatuto inerente à qualidade de filho de determinadas pessoas, assume igualmente um papel relevante na caracterização individualizadora duma pessoa na vida em sociedade. A ascendência funciona aqui como um dos elementos identificadores de cada pessoa como indivíduo singular. Ser filho de é algo que nos distingue e caracteriza perante os outros, pelo que o direito à identidade pessoal também compreende o direito ao estabelecimento jurídico da maternidade e da paternidade.»
No sentido indicado, o direito à identidade pessoal, embora não consumido pelo direito ao desenvolvimento da personalidade, tem uma estreita conexão com as diferentes dimensões deste último, designadamente no que se refere à formação livre da personalidade ou liberdade de ação como «sujeito autónomo dotado de autodeterminação decisória», sem submissão a planificação ou imposição estatal de modelos de personalidade, e à proteção da integridade da pessoa, vista como garantia da esfera jurídico-pessoal no processo de desenvolvimento, ou seja, «proteção da liberdade de exteriorização da personalidade» (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, cit., anot. IV ao artigo 26.º, pp. 463-464). Com efeito, ambas as dimensões assentam na individualidade da pessoa, assegurando-lhe um espaço para a sua dinamização, seja enquanto aprofundamento da consciência de si e autoafirmação, seja na sua relação com os outros.
Relativamente ao direito à identidade genética, a que faz referência o n.º 3 do artigo 26º da Constituição, cumpre recordar o que o Tribunal afirmou no Acórdão n.º 101/2009:
«É na medida em que a pessoa é condicionada na sua personalidade pelo fator genético que a identidade genética própria se torna uma das componentes essenciais do direito à identidade pessoal (Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, citada, págs. 204-205).
A garantia da identidade genética, contudo, refere-se especialmente à intangibilidade do genoma e à unicidade da constituição genómica de cada um e tem essencialmente o sentido de impedir a manipulação genética do ser humano e a clonagem (João Loureiro, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, in Portugal-Brasil Ano 2000, «Studia Iuridica» 40, Coimbra, 1999, pág. 288).»
- O direito à identidade pessoal previsto no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição de pessoa nascida com recurso a técnicas de PMA heteróloga, na sua dimensão de direito ao conhecimento da sua ascendência genética, pode conflituar com o direito à privacidade e à reserva da intimidade da vida privada dos seus pais jurídicos, assim como com idêntico direito dos dadores, consagrados igualmente naquele artigo 26.º, n.º 1. Pode ainda afirmar-se que a opção pela regra do anonimato se baseia numa ideia de proteção da paz no seio da família, à luz do artigo 67.º, n.º 1, da Constituição, que estabelece uma obrigação estadual de criação de «todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros». Por último, haverá ainda quem sustente que um regime jurídico baseado no direito ao conhecimento das origens fará diminuir significativamente o número de dadores, comprometendo, desse modo, a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento da PMA heteróloga e, por essa via, criando dificuldades para um interesse constitucionalmente relevante como é o da existência de famílias com filhos.
- Na ponderação realizada pelo Acórdão n.º 101/2009, foi atribuído um peso significativo ao risco de afetação da paz familiar e dos laços afetivos que ligam os membros de uma família, nomeadamente os pais e os filhos, considerando-se constitucionalmente legítima a criação de «condições para que sejam salvaguardadas a paz e a intimidade da vida familiar, sem interferência de terceiros dadores que, à partida, apenas pretenderam auxiliar a constituição da família».
É claro que os dadores também estão abrangidos pela obrigação de sigilo absoluto estatuída no artigo 15.º, n.º 1, da LPMA. Mas, em boa verdade, os dadores nem sequer têm acesso aos dados relativos à PMA (cfr. o artigo 16.º da LPMA e os artigos 18.º, n.º 1, e 19.º, n.º 1, do Decreto Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro). E, de qualquer modo, a questão de inconstitucionalidade em análise não respeita ao interesse dos dadores conhecerem os beneficiários das suas doações e as pessoas nascidas em resultado da utilização do material genético que doaram. Inversamente, o problema reside na impossibilidade (ou grande dificuldade) destas pessoas conhecerem aqueles dadores, cujo material genético integra a sua constituição genómica.
Por outro lado, no tocante às relações entre pais e filhos, à medida que os segundos se tornam mais autónomos até atingirem a idade de adultos, vai diminuindo a importância de um qualquer interesse dos primeiros na ocultação das circunstâncias em que aqueles foram concebidos. Aliás, a partir do momento em que o filho saiba ou tenha a suspeita de que nasceu em consequência de processos de PMA heteróloga e forme a vontade de clarificar as suas origens genéticas, a oposição dos pais a tal intenção é que poderá ameaçar a estabilidade dos laços afetivos entre estes e aqueles.
Tendo conhecimento de ter nascido na sequência da utilização de técnicas de PMA heteróloga, não se vislumbra por que razão tal pessoa, já adulta, deva ficar menos ligada afetivamente aos seus pais jurídicos, a partir do momento em que também conheça a identidade dos dadores de gâmetas que foram essenciais para a formação da sua identidade genética. E mesmo que tal crise das relações afetivas ocorra, também não se vê porque há-de o Estado interferir nela, privilegiando os pais que recorreram à PMA heteróloga em detrimento, do direito dos filhos nascidos na sequência da utilização de tais técnicas ao conhecimento da sua ascendência genética, e que, pretendendo exercê-lo por razões que se prendem com a sua própria auto-compreensão, a autodefinição da sua identidade e o desejo de conhecer a sua verdade biográfica, busca as origens do seu ser, a fim de «encontrar pontos de referência seguros de natureza genética, somática, afetiva ou fisiológica» (cfr. o Acórdão n.º 401/2011).
- Importa considerar igualmente a perspetiva dos dadores, enquanto pessoas que colocam ao serviço de outrem que não conhecem, no quadro de um processo da PMA, a sua capacidade procriativa, os seus gâmetas, a fim de gerar uma criança.
O estatuto do dador não é, do ponto de vista legal, o de pai ou mãe, da pessoa assim nascida, uma vez que o artigo 10.º da LPMA proíbe o estabelecimento de laços de filiação entre eles. Em consequência, a possibilidade de conhecimento da identidade dos dadores de gâmetas e/ou embriões não implica, de forma alguma, o reconhecimento de qualquer vínculo legal de ordem filial: é, efetivamente, distinto revelar a identidade dos dadores e investi-los nos direitos e obrigações correspondentes à paternidade ou maternidade, o que mal se compreenderia face à inexistência, por parte daqueles, de qualquer projeto de parentalidade.
A figura do dador é importante, por outro lado, porque um dos principais argumentos avançados pelos autores que defendem a regra do anonimato é o risco de diminuição do número de dadores. Contudo, embora esta tendência se verifique, por vezes, numa primeira fase, logo a seguir a modificações legislativas no sentido de uma maior abertura, a verdade é que em países que já operaram tal mudança o número de dadores voltou a aumentar, em período posterior. De acordo com a Human Fertilisation and Embriology Authority britânica, o número de dadores e de ciclos de tratamento efetuados com recurso a gâmetas doados tem aumentado de forma notória, nos últimos anos (cfr. Fertility treatment 2014 – Trends and figures, acessível em http://ifqtesting.blob.core.windows.net/umbraco-website/1783/fertility-treatment2014-trends-and-figures.pdf). Perde, por isso, relevância este argumento, na medida em que parece poder alegar-se que a captação de dadores é influenciada por vários fatores distintos e que, num quadro legal em que prevaleça a regra do direito ao conhecimento das origens, aqueles serão, necessariamente, mais conscientes do seu papel na criação de uma vida e, desta forma, melhores dadores, do ponto de vista ético.
De todo o modo, esta consideração de natureza empírica, dada a falta de uma evidência concludente, no sentido de a mencionada regra do direito ao conhecimento das origens determinar uma redução drástica do número de dadores, é insuscetível de constituir um óbice relevante ao reconhecimento de tal direito.
- Em suma, tem-se vindo a fortalecer a posição que sustenta dever a doação, no quadro de um processo de PMA, ser entendida de acordo com um verdadeiro princípio de responsabilidade, por parte de todos os envolvidos.
A evolução verificada neste domínio no plano do direito comparado é elucidativa. Acresce que as próprias conceções políticas e sociais nacionais também têm evoluído nesse sentido, sendo digna de registo, a esse propósito, a garantia do acesso ao conhecimento das origens, a solicitação expressa do adotado com idade igual ou superior a 16 anos, consagrada no artigo 6.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Processo de Adoção, aprovado pela Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro (cfr. também o artigo 1990.º-A do Código Civil, aditado pela referida Lei).
Na verdade, de um tempo em que o segredo sobre as origens se considerava justificado e até desejável, passou-se a um quadro concetual que promove a transparência nas relações humanas, incluindo as relações familiares. Por toda a Europa se assiste a um progressivo reconhecimento, em termos amplos, do direito a aceder aos dados sobre a própria origem, incluindo a identidade dos dadores, como decorrência necessária da proteção constitucional conferida ao direito à identidade e à historicidade pessoal.
Assim, é difícil compreender que o legislador português – que alterou, recentemente e de maneira substancial, a LPMA – continue a optar por uma solução que se centra nos gâmetas, isoladamente considerados, apagando, por regra, a identidade do dador, e presumindo, sem que para tal se descortine fundamento suficiente, que este rejeitará o reconhecimento do seu papel na criação de vida humana, ou que a assunção da sua existência pode menorizar, de alguma forma, o essencialíssimo papel dos pais – pais no plano jurídico e no plano fáctico – da pessoa nascida de PMA com recurso a gâmetas de terceiro.
- As considerações que antecedem valem, no essencial, igualmente para a questão do conhecimento da identidade da gestante de substituição.
Esta, apesar de dar à luz a criança, não é tida como sua mãe (artigo 8.º, n.º 7, da LPMA). Mas, por outro lado, atenta a natureza da relação intrauterina e a sua importância constitutiva para a futura criança (cfr. supra o n.º 43), a gestante de substituição pode tornar-se – e a probabilidade de que tal aconteça será tanto maior, quanto mais próxima for a sua relação com o casal beneficiário – um ponto de referência relevante no «itinerário biográfico» daquela. Com efeito, a gestação é uma vivência pessoal diferenciadora, pelo que é compreensível a pretensão de conhecer a identidade de quem a suportou, por razões análogas às que fundamentam a pretensão do conhecimento das origens genéticas.
Neste contexto, são plenamente aplicáveis as considerações feitas supra no n.º 76. Por outro lado, no quadro do modelo português de gestação de substituição, só é gestante de substituição quem assume expressa e conscientemente a vontade de cooperar com o casal beneficiário na procriação, de modo a que este crie uma família com um filho com o qual mantenha uma ligação genética (cfr. supra os n.ºs 8, 24 e 28). Consequentemente, o aludido princípio de responsabilidade já está necessariamente presente (cfr. supra o número anterior).
- Nestes termos, é de concluir, à luz das conceções correntes acerca da importância do conhecimento das próprias origens, enquanto elemento fundamental da construção da identidade, que a opção seguida pelo legislador no artigo 15.º, n.ºs 1 e 4, da LPMA de estabelecer como regra, ainda que não absoluta, o anonimato dos dadores, no caso da procriação heteróloga, e, bem assim, o anonimato das gestantes de substituição – mas, no caso destas, como regra absoluta –, merece censura constitucional. Efetivamente, mal se compreende, hoje, que o regime regra permaneça o do anonimato, que constitui uma afetação indubitavelmente gravosa dos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade, consagrados no artigo 26.º, n.º 1, da CRP. Combinando as exigências emanadas do núcleo essencial destes direitos com o padrão imposto pelo princípio da proporcionalidade, consagrado no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição, e repetidamente mobilizado e explicado por este Tribunal, afigura-se desnecessária tal opção, mesmo no que respeita à salvaguarda de outros direitos fundamentais ou valores constitucionalmente protegidos, que sempre poderão ser tutelados de maneira adequada, através de um regime jurídico que consagre a regra inversa: a possibilidade do anonimato dos dadores e da gestante de substituição apenas – e só – quando haja razões ponderosas para tal, a avaliar casuisticamente.
- A dispensa de averiguação oficiosa da paternidade
- Os requerentes questionam ainda a dispensa da averiguação oficiosa da paternidade, consagrada no artigo 20.º, n.º 3, da LPMA, que tem o teor seguinte:
«Se apenas teve lugar o consentimento da pessoa submetida a técnica de PMA, nos termos do artigo 14.º, lavra-se apenas o registo de nascimento com a sua parentalidade estabelecida, sem necessidade de ulterior processo oficioso de averiguação.»
Esta norma aplica-se apenas aos casos em que uma mulher, a título individual, ou seja, fora do contexto de um casamento ou de uma união de facto, tenha recorrido a técnicas de PMA para engravidar, já que nos restantes casos, nomeadamente no citado contexto, a aplicação de tais técnicas é obrigatoriamente precedida do consentimento «dos beneficiários», conforme previsto no artigo 14.º da LPMA. Os beneficiários são, tal como definido no artigo 6.º, n.º 1, da mesma Lei, em primeiro lugar, «os casais de sexo diferente ou os casais de mulheres», caso em que se afigura necessário o consentimento expresso de ambos os membros do casal. Em segundo lugar, e como afirmado, as mulheres “sós”, no sentido em que se apresentam para recorrer às técnicas de PMA sem ser acompanhadas por um par masculino ou feminino.
Os requerentes não incluíram no pedido de fiscalização da constitucionalidade o citado artigo 6.º, n.º 1, que, como referido supra no n.º 36, pode suscitar questões de inconstitucionalidade relacionadas com a possibilidade de criação de famílias monoparentais.
É verdade que assumem a perspetiva do Parecer n.º 87/CNECV/2016, segundo a qual a Lei n.º 17/2016 trouxe uma «alteração de paradigma da utilização das técnicas de PMA». Mas fazem-no num contexto em que procuram evidenciar um desvio da atenção dos direitos da criança, nomeadamente o de conhecer as suas origens genéticas, para a proteção exclusiva da mulher e do seu «direito a constituir família e a ter filhos». Nesse sentido, afirmam, a propósito da invocada violação do direito à identidade pessoal:
«[O] direito ao conhecimento das origens genéticas assume considerável importância no que concerne à PMA de cariz heterólogo – ou seja, com gâmetas de terceiros – e assume-o preponderantemente nesta lei, uma vez que a inseminação heteróloga passa a ter um campo de aplicação muito mais alargado, precisamente porque deixa de ter um caráter subsidiário, para passar a ser um método alternativo de procriação, como facilmente se depreende do disposto nos artigos 4.º, n.º 3, e 6.º, n.º 1.
A questão que se coloca é então a de saber, não se é constitucional um regime legal de total anonimato do dador, mas se é constitucional estabelecer como regra o anonimato dos dadores e como exceção a possibilidade de conhecimento da sua identidade. Está em jogo o peso relativo que o direito à identidade pessoal merece e a importância que a lei lhe dá no regime que institui vis a vis o direito a constituir família e o direito à intimidade da vida privada e familiar.»
E mais adiante:
«Os signatários do pedido consideram que a “mudança de paradigma” trazida pela Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, bem como o alargamento do regime à “gestação de substituição” aprovado pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, trouxeram indubitavelmente uma nova atualidade e premência à questão do conhecimento da identidade genética das crianças geradas por via de PMA, nomeadamente, por via de inseminação heteróloga, não só pela universalidade – no limite, todos podem nascer por recurso a tais técnicas – mas também pela imperatividade e clareza do preceito constitucional, grosseiramente violado e genericamente afastado pela lei.»
Que esta é a preocupação dos requerentes, confirma-o inequivocamente a parte conclusiva do seu pedido: as razões por que consideram «que a nova redação do artigo 20.º, n.º 3, da Lei da PMA, na parte em que dispensa a instauração da averiguação oficiosa da paternidade quando apenas houve lugar ao consentimento da pessoa sujeita a PMA» viola a Constituição, são exatamente as mesmas que são invocadas para questionar a constitucionalidade do artigo 15.º da mesma Lei, na parte em «que condiciona a obtenção de conhecimento sobre a identidade do dador – por parte de pessoa nascida de PMA – à instauração de processo judicial e à existência de razões ponderosas para a quebra do regime de confidencialidade». E os parâmetros de controlo convocados também são idênticos. Significativamente, aliás, os requerentes nunca referem no seu pedido os pais (enquanto figura de referência ao lado das mães) ou a paternidade enquanto valor social eminente, ao lado da maternidade (cfr., respetivamente, os n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º da Constituição).
Não cabe a este Tribunal indagar as razões que presidiram à específica formulação do pedido pelos requerentes, mas apenas verificar que, nos termos do princípio do pedido, se deve limitar a apreciar a conformidade constitucional da norma do artigo 20.º, n.º 3, da LPMA, tendo em consideração a plena vigência do artigo 6.º, n.º 1, do mesmo diploma. Além disso, o mencionado artigo 20.º, n.º 3, também é um corolário da solução prevista no artigo 10.º, n.º 2, da mesma Lei – «[o]s dadores não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer» –, pelo que o pedido não fica, nesta parte, desprovido de sentido nem inutilizado.
- Com efeito, quando uma mulher recorra às técnicas de PMA sozinha, isto é, não enquanto membro de um casal de pessoas casadas entre si ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges, de acordo com a lei em apreço, a sua gravidez só se torna possível mediante a utilização de gâmetas masculinos doados. Poderá também recorrer à doação de embriões, mas, em qualquer caso, o esperma inevitavelmente necessário para gerar um filho pertencerá a um terceiro, que a ela não se encontre unido, de facto ou pelo casamento. Cria-se, assim, através do recurso à ciência, uma família voluntariamente monoparental, ab initio.
Assim sendo, afigura-se como inteiramente desprovida de sentido a averiguação oficiosa da paternidade, uma vez que, ainda que pudesse ser conhecida a identidade do dador, este não poderia ser tido como progenitor da criança nascida.
Desta forma, e no caso presente, o legislador limitou-se a estabelecer uma exceção à regra da averiguação oficiosa da paternidade, evitando os transtornos para a mãe e a criança daí necessariamente decorrentes, bem como a mobilização de meios públicos para um processo sem qualquer propósito. Dada a especificidade desta situação – evidentemente distinta da dos filhos de “mães solteiras” que não recorreram a técnicas de PMA e que terão sempre, portanto, um pai biológico e jurídico, cuja identidade é determinável – não se vê como possam ter sido violados os princípios constitucionais invocados.
Desde logo, a solução do artigo 20.º, n.º 3, da LPMA não pode ser tida por violadora do princípio da igualdade, visto que o legislador quis encontrar uma regra diferente para uma realidade também diferente, no que à geração de uma criança diz respeito. Por outro lado, a norma em causa afigura-se razoável e proporcional, tendo em mente a necessidade de salvaguarda de direitos fundamentais, quer da mãe, quer da própria criança gerada por mulher sozinha com recurso a PMA, designadamente, o respeito pela sua vida privada e familiar.
Quanto aos direitos, também convocados, nesta sede, pelos requerentes, à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, cabe notar que eventuais lesões, neste plano, decorreriam não da dispensa de averiguação oficiosa de uma paternidade, que de iure não existe; mas, sim, da utilização de gâmetas doados em si mesma, o que implicaria uma avaliação da constitucionalidade do recurso a procriação heteróloga, a qual também não foi requerida.
- Limitação de efeitos
- Recorde-se que são traços essenciais do modelo português de gestação de substituição, entre outros, a excecionalidade e a sujeição a autorização prévia dos contratos de gestação de substituição (cfr. os n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º e supra o n.º 9), competindo tal autorização ao CNPMA, depois de ouvida a Ordem dos Médicos; e, bem assim, o afastamento do critério geral de estabelecimento da filiação previsto no artigo 1796.º, n.º 1, do Código Civil, uma vez que a criança nascida em consequência de tal modo de procriação é tida como filha de quem figura como beneficiário no dito contrato (cfr. os n.ºs 4 e 7 do mesmo preceito e, de novo, supra o n.º 9).
Atenta a data do início de vigência das alterações ao artigo 8.º da LPMA introduzidas pela Lei n.º 25/2016 – 1 de agosto de 2017, conforme decorre dos artigos 3.º e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, em conjugação com os artigos 1.º e 8.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 de julho –, é possível que presentemente se encontrem em fase de execução contratos de gestação de substituição já autorizados pelo CNPMA ao abrigo do regime excecional agora declarado inconstitucional, com força obrigatória geral. Esta declaração de inconstitucionalidade produz, em regra, efeitos desde a entrada em vigor das normas declaradas inconstitucionais (cfr. o artigo 282.º, n.º 1, da Constituição). Consequentemente, tais contratos terão de ser considerados como não autorizados e, nessa medida, celebrados ao abrigo de um regime que não admite contratos de gestação de substituição.
O objeto destes contratos é conseguir que a gestante de substituição engravide mediante a utilização de técnicas de PMA, por forma a que, no final do período de gestação, dê à luz uma criança que será tida como filha dos beneficiários. Reconhece-se, por isso, que, no caso de já terem sido iniciados os processos terapêuticos de PMA em execução de contratos de gestação de substituição autorizados pelo CNPMA, é elevada a probabilidade de já existirem gâmetas recolhidos ou embriões formados em vista da concretização de processos concretos de gestação de substituição. É igualmente possível que já tenha ocorrido a transferência uterina de embriões com a consequente gravidez.
Dado o valor intrínseco de todos esses bens, e outrossim o respeito pela saúde e integridade física de quem já foi objeto de atos médicos correspondentes à utilização de técnicas de PMA, justifica-se, por imperativos de segurança jurídica, tendo em conta os valores fundamentais envolvidos, em especial, nos casos em que já exista vida humana extrauterina ou intrauterina, o dever do Estado de proteção da infância, limitar os efeitos da declaração da inconstitucionalidade dos n.ºs 4, 10 e 11 do artigo 8.º da LPMA relativamente a tais contratos e, bem assim, da inconstitucionalidade consequente dos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo; assim como, limitar os efeitos da declaração da inconstitucionalidade do n.º 8 desse artigo, em conjugação com o n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, e, por isso, também da inconstitucionalidade consequente do n.º 7 do citado artigo 8.º.
III. Decisão
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal decide:
- a) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas dos n.ºs 4, 10 e 11 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, e, consequentemente, das normas dos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo, na parte em que admitem a celebração de negócios de gestação de substituição a título excecional e mediante autorização prévia, por violação do princípio da determinabilidade das leis, corolário do princípio do Estado de direito democrático, e da reserva de lei parlamentar, decorrentes das disposições conjugadas dos artigos 2.º, 18.º, n.º 2, e 165, n.º 1, alínea b), da Constituição da República Portuguesa, por referência aos direitos ao desenvolvimento da personalidade e de constituir família, consagrados nos seus artigos 26.º, n.º 1, e 36.º, n.º 1;
- b) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do n.º 8 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em conjugação com o n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da República Portuguesa;
- c) Declarar a inconstitucionalidade consequente, com força obrigatória geral, da norma do n.º 7 do artigo 8.º da mesma Lei;
- d) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do n.º 12 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, por violação do direito à identidade pessoal da criança previsto no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, do princípio da segurança jurídica decorrente do princípio do Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da mesma Constituição, e, bem assim, do dever do Estado de proteção da infância, consagrado no artigo 69.º, n.º 1, do mesmo normativo;
- e) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas do n.º 1, na parte em que impõe uma obrigação de sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição, sobre o recurso a tais processos ou à gestação de substituição e sobre a identidade dos participantes nos mesmos como dadores ou enquanto gestante de substituição, e do n.º 4 do artigo 15.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, por violação dos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade de tais pessoas em consequência de uma restrição desnecessária dos mesmos, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, com o artigo 26.º, n.º 1, ambos da Constituição da República Portuguesa;
- f) Não declarar a inconstitucionalidade das normas dos restantes artigos da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, mencionados no pedido formulado pelos requerentes;
- g) Determinar, ao abrigo do disposto no artigo 282.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das alíneas a), b) e c) não se apliquem aos contratos de gestação de substituição autorizados pelo Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida em execução dos quais já tenham sido iniciados os processos terapêuticos de procriação medicamente assistida a que se refere o artigo 14.º, n.º4, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho.
Lisboa, 24 de abril de 2018 – Pedro Machete – Maria de Fátima Mata-Mouros (parcialmente vencida nos termos da declaração junta) – Gonçalo de Almeida Ribeiro (parcialmente vencido nos termos da declaração junta) – Maria José Rangel de Mesquita (parcialmente vencida nos termos da declaração que se junta) – José Teles Pereira (vencido parcialmente nos termos da declaração de voto junta) – Fernando Vaz Ventura (com declaração quanto à alínea e) da decisão; vencido quanto às alíneas b) e c) da decisão pelas razões constantes da declaração de voto conjunta) – Catarina Sarmento e Castro (parcialmente vencida nos termos da declaração de voto junta) – Lino Rodrigues Ribeiro (vencido quanto às alíneas c) e d) conforme declaração conjunta anexa) – Claudio Monteiro (parcialmente vencido nos termos da declaração de voto junta) – João Pedro Caupers (junta declaração) – Maria Clara Sottomayor (parcialmente vencida nos termos de declaração de voto anexa) – Manuel da Costa Andrade.
Tem voto de vencida quanto às alíneas b), c), e) (parcialmente) e g) (parcialmente) a Senhora Conselheira Joana Fernandes Costa, que não assina por não estar presente, tendo apresentado declaração de voto conjunta quanto às alíneas b) e c) e individual quanto às alíneas e) e g).
DECLARAÇÃO DE VOTO
- Parcialmente vencida.
Considero que o modelo de gestação de substituição consagrado no artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, Lei da Procriação Medicamente Assistida (LPMA), na redação introduzida pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, é inconstitucional por violação do princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e, no que diz especificamente respeito à procriação assistida, na alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º do texto constitucional. Nessa medida, votei a inconstitucionalidade de todo o artigo 8.º da LPMA o que acarreta também a inconstitucionalidade consequente de todas as normas respeitantes à gestação de substituição constantes daquela Lei, encontrando-me, correspondentemente, vencida, nesta dimensão respeitante à alínea f) da decisão.
Foi, portanto, essencialmente por maioria de razão – pois se considero todo o modelo inconstitucional, daí necessariamente retiro a inconstitucionalidade das diferentes normas que o compõem –, que juntei o meu voto às alíneas a), b), c) e d) da decisão do acórdão, designadamente no que respeita à declaração de inconstitucionalidade dos n.os 4, 7, 8, 10, 11 e 12 do artigo 8.º da LPMA.
Tenho igualmente objeções à delimitação da última questão de constitucionalidade suscitada, respeitante à norma do artigo 20.º, n.º 3, da LPMA.
- É central para a análise da questão da constitucionalidade do artigo 8.º da LPMA que prevê a gestação de substituição, enquanto forma de procriação com recurso a uma técnica de procriação medicamente assistida (PMA) confrontá-lo com o princípio da dignidade da pessoa humana.
O princípio da dignidade da pessoa humana, proclamado no artigo 1.º da Constituição, confere ao sistema constitucional de direitos fundamentais unidade de sentido, de valor e de concordância prática, sendo um elemento essencial da sua interpretação e integração, diante da conceção que faz da pessoa como fundamento e fim da sociedade e do Estado.
Desta forma, o valor eminente da dignidade humana determina os direitos fundamentais e é enformado pelo seu conteúdo. É esse também o contexto em que a Constituição proíbe, no artigo 67.º, n.º 2, alínea e), as técnicas de procriação lesivas da dignidade humana, determinando os limites para a regulamentação da PMA que hão de encontrar expressão nos diversos direitos fundamentais.
Como refere o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na linha do que se mostra consignado igualmente na Convenção sobre Direitos do Homem e Biomedicina, «a decisão sobre a utilização de técnicas de PMA deve estar subordinada ao primado do ser humano, princípio fundamental que rejeita a sua instrumentalização, e consagra a dignidade do ser humano e consequente proteção dos seus direitos, em qualquer circunstância, face às aplicações [da] ciência e das tecnologias médicas (…)» (cfr. Relatório e Parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida n.º 87/CNECV/2015, ponto III. 4., p. 11).
- No entender do acórdão, somente a instrumentalização que anule ou desconsidere a autonomia pessoal pode ser considerada violadora da dignidade humana porque reduz a pessoa a uma coisa ou objeto (ponto 28). Mais, consigna-se mesmo no acórdão que, do ponto de vista da gestante, o que legitima a sua intervenção na gestação de substituição é a afirmação livre e responsável da sua personalidade – um modo de exercício do direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, que, em última análise, se funda na sua dignidade (cfr. ponto 28).
No desenvolvimento desta ideia, o acórdão empreende uma apreciação estratificada do processo de procriação através da gestação de substituição instituído na LPMA, diferenciando, num primeiro plano, ao nível do modelo, a perspetiva da gestante e a perspetiva da criança assim concebida, e, num segundo plano, desenvolvido já ao nível do regime, o momento da celebração do contrato e o momento do seu cumprimento.
A metodologia argumentativa assim adotada reflete uma visão de pendor excessivamente individualista do presente problema de direitos fundamentais na medida em que analisa a validade constitucional do modelo proposto de gestação de substituição numa perspetiva da gestante isolada da relação que a liga ao ser em gestação. Desta forma, maximizando a dimensão individual da identidade pessoal neste contexto, o acórdão, no entanto, não dá o devido valor a toda a dimensão relacional que também a caracteriza. Adotando uma linha de pensamento segundo a qual em regra cada pessoa é o juiz da sua dignidade individual, reconduz a dimensão da dignidade da pessoa humana ao exercício da autonomia da vontade e da liberdade da gestante.
Um tal afastamento do paradigma de matriz comunitária compromete o valor prescritivo da realidade natural e social em benefício da vontade individual, o que não posso acompanhar.
Além de capturar a ideia de dignidade humana como mera expressão do individualismo, negligencia a verdade, como se esta não constituísse também um elemento relevante na dignidade humana.
- É tentador procurar na liberdade e na vontade a resposta para a validade constitucional da gestação de substituição. Permite esconder o aspeto da controvérsia respeitante à instrumentalização da mulher. Mas é impossível evitar essa discussão.
Dignidade e autonomia da pessoa, sendo embora indissociáveis